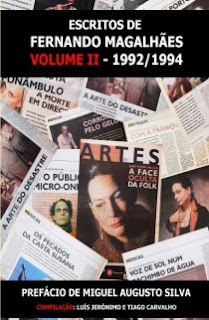Este livro é companheiro essencial do anteriormente publicado pelo jornalista Simon Reynolds: “Rip It Up And Start Again”.
Enquanto naquele era feira a história e a análise histórica, social e musical de um dos períodos mais profícuos da música popular, o autor vem agora publicar algumas (bastantes) entrevistas aos protagonistas.
Estão aqui representadas muitas das figuras de proa do movimento post-punk / new wave, que bem questionados pelo excelente jornalista e crítico musical que é Simon Reynolds, desvendam muitas histórias daquele período, dos seus grupos, dos personagens que gravitavam à sua volta e deles próprios.
Muitas dessas histórias contam-nos factos desconhecidos, ajudam-nos a perceber o contexto e o modo de vida e de pensamento que reinava naqueles dias, e não faltam sequer as histórias picarescas, divertidas e desconhecidas por que passaram os intervenientes mais directos e famosos da cena post-punk britânica e americana.
Um livro essencial para quem se interessa por estas coisas da música, por um dos melhores conhecedores daquele fértil período. De leitura obrigatória.
O livro é ainda completado por uma série de ensaios que Simon Reynolds escreveu ao longo do tempo sobre figuras ou grupos do post-punk.
Mas o melhor é dar-vos o conteúdo de tão farto recheio:
Entrevistados
Ari Up – The Slits, vocalista
LINK
Jah Wobble – Public Image Ltd., baixista
LINK
Alan Vega – Suicide, vocalista
LINK
Gerad Casale – Devo, baixista/vocalista
LINK
Mark Mothersbaugh – Devo, vocalista/teclista
LINK
David Thomas – Pere Ubu, vocalista
LINK
Anthony H. Wilson – Factory Records, co-fundador
LINK
Bill Drummond – Zoo Records, co-fundador; agente dos Echo & The Bunnymen e Teardrop Explodes
LINK
LINK
Mark Stewart – The Pop Group, vocalista
LINK
Dennis Bovell – produtor
LINK
Andy Gill – Gang of Four, guitarrista
LINK
David Byrne – Talking Heads, vocalista, guitarrista
LINK
James Chance – The Contortions e James White and the Blacks, vocalista, saxofonista
LINK
Lydia Lunch – Teenage Jesus and the Jerks, vocalista/guitarrista
LINK
Steve Severin – Siouxsie and the Banshees, baixista
LINK
Nikki Sudden – Swell Maps, vocalista, guitarrista
LINK
John Peel – Radio One, DJ
LINK
Alison Statton – Young Marble Giants, vocalista
LINK
LINK
Green Garthside – scritti Polliti, vocalista/guitarrista
LINK
Gina Birch – The Raincoats, vocalista/baixista
LINK
Martin Bramah – The Fall, guitarrista; The Blue Orchids, vocalista-guitarrista
LINK
LINK
Linder Sterling – Ludus, vocalista/artista e designer gráfico
LINK
Steven Morris – Joy Division, baterista / New Order, programador de bateria
LINK
Richard H. Kirk – Cabaret Voltaire, multi-instrumentista
LINK
Alan Rankine – The Associates, multi-instrumentista / director musical
LINK
Paul Haig – Josef K, vocalista
LINK
Phil Oakey – The Human League, vocalista
LINK
Martin Rushent - Produtor
LINK
Edwyn Collins – Orange Juice, vocalista/guitarrista
LINK
Steven Daly – Orange Juice, baterista
LINK
Paul Morley – jornalista / esteta da ZTT Records
LINK
Trevor Horn – produtor / co-fundador da ZTT
LINK
Ensaios:
John Lydon and Public Image Ltd: Duas Biografias
LINK
Joy Division: Dois Filmes
LINK
LINK
Ono, Eno, Arto: Não-músicos e a emergência do ‘rock conceptual’
LINK
Mutant Disco e Punk-Funk: Tráfego através da cidade no início dos 80’s em Nova Iorque e mais além.
LINK
Se pretenderem obter mais transcrições de entrevistas (não publicadas no livro) podem fazê-lo em:
http://totallywiredbysimonreynolds.blogspot.com
Blog do livro parceiro Rip It Up and Start Again, em:
http://ripitupandstartagainbysimonreynolds.blogspot.com/
Para notas de rodapé sobre o livro parceiro Rip It Up and Start Again, visitem:
http://ripitupfootnotes.blogspot.com
Bom, mas o homem tem uma infinidade de blogs. Percam-se…
http://www.blogger.com/profile/01282478701882900354
Deixo-vos, finalmente, com um exemplo de uma das entrevistas que fazem parte do livro. Como não podia deixar de ser, a respeitante àquela que considero a melhor banda de rock post-punk: os The Fall, aqui representados pelo seu guitarrista inicial, Martin Bramah
No início…
Nasci em 1957, em Openshaw, na zona centro-este de Manchester. Muito Coronation Street, mas totalmente demolida nos anos 60. Um bairro pobre mas limpo. Quando tinha sete anos mudámo-nos para Prestwich. Os The Fall eram rapazes de Prestwich e os Joy Division eram rapazes de Salford, que é logo ali ao virar da esquina a partir de Prestwich. Mas , na altura parecia muito longe.
Tinha alguma coisa a ver com a divisão de classes?
Ambos pensávamos que nós é que éramos importantes. Os Joy Division sentiam que as suas credencias de classe operária eram impecáveis, e nós sentíamos o mesmo! Partilhávamos as mesmas salas de ensaio e actuávamos nos mesmos concertos mas nunca flámos uns com os outros, porque éramos rivais! Agora penso que eles eram realmente grandes, mas na altura os The Fall e os Joy Division eram adversários.
Quando é que começou a despertar para a música?
Os primeiros singles que comprei foram dos Slade e dos T Rex. Bowie foi uma grande influência para toda a gente em 1972-3, e depois através dele e das suas entrevistas chegámos a Iggy Pop e Lou Reed. Daí entrámos pelo Krautrock, os Can e os Neu!, e Beefheart e Velvet Underground. Naquela altura parecia muito underground; parecia que ninguém mais conhecia esta música a não ser nós. E foi isso que conduziu aquelas pessoas a juntarem-se e formarem os The Fall – um interesse comum em música obscura. Lembro-me de que quando conheci o Mark Smith ela andava a ouvir The Doors. Inicialmente pensei que os The Doors eram uma banda tipo os Bread – uma banda americana de soft-rock!
Ficaram logo amigos do Mark?
Ele sempre foi o Mark, sempre como é visto hoje – mesmo antes de ter criado a persona. Naturalmente uma pessoa estranha para se tentar conhecer. Eu conheci as suas irmãs antes de o conhecer a ele. Tinham 16 anos, e eu ia muito a casa dele visitar as irmãs, e eu estava realmente interessado na música que podia ouvir vinda do quarto em frente. Ele ali estava sentado com a sua namorada Una, que acabou por ficar a tocar os teclados connosco. Ele é o tipo de pessoa de que te afastas inicialmente. Muito desconfiado das outras pessoas e agressivo, mas obviamente muito excêntrico também. Ele era o tipo de miúdo que vestia um blusão de cabedal com uma cruz suástica na manga – antes do punk rock! Ele andava por Prestwich desse modo, mais para se afirmar do que por qualquer outra coisa. Tratava-se apenas de perversidade.
Os The Fall não chegaram a ser comunistas num certo período?
Nós não éramos uma banda política duma forma racional. Apenas queríamos combater o sistema que nos era imposto. Se o Mark quisesse chatear as pessoas, ele seria um Nazi. Era uma área judia. Havia lá muitos judeus abastados… Mas o Tony Friel, o baixista, era membro do Partido Comunista. E pairava toda aquela ética socialista em Prestwich.
Os Fall tinham aquela canção, “Hey! Fascist”, certo? Não um cumprimento fraternal mas mais um bota-abaixo.
Originalmente chamava-se “Hey! Student”! O Mark odiava todos os estudantes de Manchester. Naquela altura tínhamos a maior população estudantil de toda a Europa, mas depois quando actuámos no Rock Against Racism o Mark mudou a letra para “Hey! Fascist” porque pensou que poderia ser melhor entendida assim.
A objecção do Mark aos estudantes tinha a ver com o facto de possuírem um gosto musical mediano e quadrado?
Porque ele não foi para a universidade, suponho que é um bocado um snobismo invertido, de classe operária, zombando do privilégio de todos aqueles estudantes. Eram apenas adolescentes pensando que seria engraçado marcar uma posição. Parecia irreverente.
Mencionou Tony Friel, o baixista original do The Fall… Como é que o encontraram?
Nós andávamos na mesma escola secundária. Conheci-o quando tinha 12 anos, e senti-me atraído por ele porque era um miúdo excêntrico que era muito popular, mas que tinha uma imaginação completamente selvagem. Ele estava sempre no canto do pátio contando a suas histórias inacreditáveis e a rabiscar nos cadernos.
Uma multidão de pessoas estava sempre com ele a ouvir os seus voos loucos de fantasia.
Então vocês eram esse grupo de amigos que ouviam música esquisita, e depois tornaram-se nos The Fall?
Nós já escrevíamos juntos antes de descobrirmos os Sex Pistols. Tínhamos uma empatia musical. Sentíamos que tínhamos um ponto de vista original no que toca à música. E estávamos também metidos, obviamente, em todos os tipos de drogas. Tomávamos montes de LSD e cogumelos mágicos e explorávamos realmente a música. Íamos para o sótão do Mark, líamos poesia e fazíamos barulho com os instrumentos. Éramos todos não-músicos. Mas não tínhamos nenhum baterista e nessa altura era impossível conceber a ideia de darmos concertos na zona. O que os Sex Pistols fizeram foi fazer-nos compreender que podíamos fazê-lo. Até aos Pistols, todas as bandas que davam concertos vinham de fora da cidade. Tocavam no Free Trade Hall ou no Apollo. Nós dávamos a volta e íamos até às traseiras ou, por vezes, comprávamos bilhetes. Mas quando os Pistols tocaram no Lesser Free Trade Hall, pensámos, “Nós somos tão bons como eles.” Por isso colocámos de imediato um anúncio à procura de um baterista e começámos a montar um espectáculo. Conheci o Pete Shelley num clube chamado Ranch Bar e contei-lhe que tínhamos uma banda, e ele e Howard Devoto e Richard Boon, o seu agente, foram ver-nos ao nosso primeiro concerto, que teve lugar no Northwest Arts. Assim, o nosso concerto seguinte foi fazer a primeira parte dos Buzzcocks.
No sótão de Mark, vocês liam poesia?
Nós julgávamo-nos beatnicks. Gostávamos de nos vestir de preto, e adorávamos os Velvets. Adorávamos também os ideais dos poetas Beat. Líamos Burroughs e os existencialistas franceses, Aleister Crowley e W. B. Yeats. Escrevíamos poesia porque ainda não compúnhamos música. Então todos escrevíamos textos. Fazíamos saltar o talento, por assim dizer.
E já nessa altura exploravam o psicadelismo?
Essa era a cultura nos clubes, em meados da década de 70, em Manchester. Os hippies de 60 já tinham passado à história, e nos anos 70 eram um modo de vida. Houve uma série de vítimas, mas nós éramos a próxima geração de jovens. Tínhamos visto todos os hippies estourar os seus cérebros e pensávamos que éramos mais espertos que eles, mas éramos atraídos para a experiência psicadélica. Aprendemos dos jovens que eram mais velhos que nós, pessoas como John Cooper Clarke. Ele era dez anos mais velho e dessa geração dos anos 60. Quando descobrimos que vivia na nossa rua, em Prestwich, começámos a andar juntos.
O nome do The Fall vem de Camus, por isso, apesar de ser anti-estudantes, vocês estavam de longe de ser anti-intelectuais.
De modo nenhum. Nós pensávamos que todo a originalidade de uma pessoa era abafada na universidade. Mas estávamos alerta e aprendíamos o que era interessante, só que não o queríamos fazer de forma forçada. Todos nós rejeitávamos a pequena educação que tínhamos. Eu abandalhava as aulas sempre que podia. Mas estava a ser pressionado para ser um tratador de animais de quinta. Desistimos todos e acordámos em tentar descobrir as coisas do mundo por nós próprios.
Inicialmente auto intitulámo-nos The Outsiders, também a partir do Camus, mas depois percebemos que havia mais três bandas com o mesmo nome. E assim escolhemos The Fall. Tratou-se de influência do Tony Friel; ele anda a ler Camus. A ideia do Mark para o nome era Master Race and the Death’s Heads. Se essa ideia tivesse ido avante, a história podia ter sido bem diferente.
O nome The Fall também não incorpora uma espécie de conceito ou atitude? Ele traz-nos evocações de declínio, da fase decadente de uma civilização, mas também a intimação de réplica – o todo poderoso a ser derrubado. O prazer de ver os poderosos serem puxados para baixo.
É difícil definir o conceito por detrás dos The Fall. Nós andávamos a tentar chegar ao fundo das coisas e expressar o que nos irritava realmente. O Mark era quem tinha a visão mais realista, e essa visão rapidamente se tornou dos The Fall, mas inicialmente era uma verdadeira mestiçagem. Era como um grupo de poesia primeiro. Costumávamos partilhar os nossos mais profundos sentimentos em palavras e tocar os nossos álbuns preferidos. O Mark comprou uma guitarra mas não sabia tocar. Eu já cantava noutra banda, e por isso a primeira formação dos The Fall era eu como vocalista e o Mark como guitarrista. Isso rapidamente se alterou porque o Mark andava a escrever letras malucas mas com um grande espírito de bom observador. O nosso primeiro material soava um bocado americano, mas o Mark tratou de tornar Manchester interessante.
Em Manchester a música costumava ser uma coisa que tinha muito a ver com o patriotismo nortenho: abaixo com o Sul, especialmente Londres.
Era mais uma forma de nos expressarmos e sermos originais. Nós adorávamos o que estava a acontecer em Nova Iorque. Para mim, como guitarrista, Tom Verlaine foi uma grande influência. E gostávamos das coisas de Londres também. Mas não as queríamos imitar. O Mark fez com que incorporássemos o nosso ponto de vista naquilo que era relevante. Algumas bandas marcavam posição em tentar politizar o punk, mas o Mark achava essa visão muito idiota e limitada. Tentámos deixar isso para trás e explorar a música de antes do punk que era mais original e diversa. Ouvimos muito dub reggae e montes de música Alemã.
Como guitarrista, tinha alguns estratagemas?
Eu era um instrumentista autodidacta. O Tony Friel era melhor músico que eu, e por isso ele ensinou-me alguns rudimentos: como tocar um acorde com barra... Eu tocava desafinado,
Fugindo do regimentado e do estéril. Nós éramos muitos inspirados. Sabíamos instintivamente que o podíamos fazer, e queríamos fazer algo diferente e marcar o nosso território.
Então a primeira coisa que foi editada pelos The Fall foi na compilação Live at the Electric Circus, e depois houve um intervalo muito grande até o primeiro EP, Bingo Masters Brek Out! ser editado pela etiqueta de Mark Perry, a Postcard. Como é que foram contratados por eles?
Nós já tínhamos gravado esse primeiro EP na altura do Electric Circus, mas não foi publicado durante um ano. Não me lembro bem da ligação com a Fast Forward. O Mark era o agente dos The Fall, juntamente com Kay Carroll, a sua namorada. Era uma editora baseada em Londres, detida pelo Miles Copeland. Na altura eu era simplesmente o guitarrista da banda. Apenas aparecia e tocava.
Então foi por isso que ficou frustrado e abandonou a banda, com o Mark a ficar como dono da mesma?
Os The Fall estiveram juntos durante dois anos ou três, e esse foi um período intenso. Fizemos montes de trabalhos e recebemos muita atenção dos média. Mas foi-se tornando a coisa do Mark. Eu fui ficando farto da maneira como éramos tratados como banda. O que era antes um colectivo foi-se tornando numa ditadura. Eu sentia-me cheio de confiança e de ideias e apetecia-me fazer exactamente o que queria fazer. Não me entendas mal, eu penso que o Mark é um génio, mas ele estava a tornar as coisas muito difíceis para eu trabalhar com ele! O Mark não é um músico, e por isso ele não conseguia dizer-me literalmente como tocar. Apenas me podia dizer o que não gostava. Mas ele tinha uma visão de como queria as coisas. Mas não era tanto acerca da música; era mais sobre como éramos tratados como pessoas diariamente.
E a sua última contribuição para os The Fall foi escrever três faixas para o segundo álbum, Dragnet?
Eu escrevi três das canções que estão no Dragnet, mas não toquei já nesse álbum. Saí depois de Live at the Witch Trials.
E nessa altura todos os membros originais partiram, além de si e do Mark?
Todos nós saímos por razões pessoais e em diferentes alturas, mas quando se olha para trás não há assim tanto tempo de intervalo a separar essas saídas. A Una Baines saiu mais ou menos um ano antes de mim. Karl Burns, o baterista, partiu algures no meio desse período. Tony Friel foi o primeiro a sair. Tony saiu quando Kay se tornou o agente, porque achou que era uma má ideia. Ele sentia que tinha investido muito nos The Fall. Foi ele que arranjou o nome e era o músico da banda, e, do seu ponto de vista, estava a ensinar-nos como raio tocar os instrumentos. Ele saiu porque a sua liberdade foi infrigida. E depois de sair formou os The Passage com Dick Witts.
Sabes, penso que fui eu quem inicialmente que Kay fosse o nosso agente. Ela era uma amiga de Una e andava muito connosco, além de que parecia uma pessoa com cabeça. Era um pouco mais velha do que nós. Ao mesmo tempo, o Mark tinha começado a sair com ela. Aquilo transformou-se um pouco num cenário tipo Yoko e John Lennon. A namorada afirmando o seu génio. O Mark precisava desse encorajamento, por isso não estou a dizer que tudo era mau. Mas acabámos por cair no típico cenário namorada-que-interfere-na-banda. Mas nós não nos revoltámos todos e partimos. Na altura todos pensámos que era por razões pessoais.
Então foi duro para Una, que havia namorado com Mark, e agora estava a sair com a sua amiga, e a amiga era a agente do grupo?
A decisão de eles se deixarem foi da Una. O Mark ficou ainda mais magoado por isso. Quando os conheci, o Mark e a Una eram uma verdadeira unidade – primeiro amor, verdadeiro amos de adolescente. Eram inseparáveis. Então formámos os The Fall, e a Una começou a ver outras pessoas. Ela ia a todas, fazia montes de coisas, e quase abandonou os The Fall pensando que aquilo não ia dar em nada.
Una era um bocadinho feminista, certo?
Ela tina uma certa importância no feminismo de Manchester. Conhecia muitas pessoas que se movimentava naquilo que se designava por underground na altura. Havia, nesse tempo, uma verdadeira imprensa alternativa – coisas como o IT magazine – e o feminismo era uma parte importante dessa cena. Una era uma personagem ardente com grande capacidade de argumentação com qualquer pessoa que discutisse acerca da causa. Nós apresentávamos os nossos argumentos e ela ficava sempre por cima em benefício das mulheres.
Então depois dos The Fall você rapidamente formou os The Blue Orchids com a Una. Tinha uma visão do que queria fazer?
Nós estávamos a continuar um projecto. Havia três pessoas dos The Fall nos The Blue Orchids: eu, Una e o Eric McGann. Eric McGwan era, e ainda é, uma alma gémea do John Cooper Clarke, e ele ara a força musical dos The Curious Yellows, que foi a primeira banda do John Cooper Clarke, antes de ter os The Invisible Girls por trás de si. O Eric era um ingrediente obscuro mas essencial em toda a cena de Prestwich. Quando perdemos o Tony Friel, o Eric tornou-se no nosso baixista. Tinha 28 anos, e nós andávamos pelos dezanove, vinte. Por isso, o Eric apresentou-nos muita música que desconhecíamos completamente. Inicialmente o Mark gostou do Eric, mas não creio que ele tenha tocado qualquer coisa que tenha sido editada. Ele foi despedido da banda por se ter recusado a participar num Peel Session. Ele não gostava do gajo que conduzia a carrinha! Esse tipo tinha levado umas congas e declarou a sua intenção de tocar congas na Peel Session. E tinha vestida uma camisa Havaiana. Para o Eric, era tio: ‘Estás a brincar?’ Ele não entrou na carrinha, e então o Mark disse: ‘Bem, vai-te foder’ e partimos sem ele! Essa foi a muito breve contribuição do Eric para os The Fall. Mas eu gostava dele, e por isso o Eric tocou guitarra e baixo nos The Blue Orchids. Mas tomou como nome artístico Rick Goldstraw. E na memória de James Young de ter tocado com Nico, o Eric é o personagem chamado Echo. Depois de Eric ter saído dos The Blue Orchids, ele andou atrás da Nico durante alguns anos, quando ela vivia em Manchester.
Foi o John Cooper Clarke que pensou no nome The Blessed Orchids. O Eric confundiu-o com The Blue Orchids e aconselhou-mo. Soava muito sensitivo e esotérico, e eu estava a tentar sair da crueza do punk. O John Cooper Clarke vislumbrou os The Blessed Orchids, que era um grupo de hemofílicos que foi trazido numa viagem pelo Concelho. Era o grupo mais erva daninha em Salford, esses órfãos Católicos hemofílicos. A ideia por detrás tinha a ver com o sentimento bizarro de Gormenghast de classe operária.
Via os The Blue Orchids como a vanguarda do novo psicadelismo? Música para a ‘cabeça’?
Não podes subestimar a importância das drogas nos The Blue Orchids e nos The Fall. A primeira droga em que entrámos foi o LSD. Fumar erva parecia um bocado coisa de falhados na altura – hippies que se sentavam, pedrados, e não fazia a ponta de um chavo. Nós éramos anti-drogas inicialmente e pensávamos que podíamos atingir o pensamento psicadélico sem as drogas. Mas, num clube, alguém nos deu alguns micropontos, quando tínhamos cerca de 16 anos. No dia seguinte fomos para Heaton Park e partimo-los e passámos todo o dia no LSD. Heaton Park é uma casa imponente, a coisa mais parecida com uma comuna em Manchester.
E depois descobrimos que cogumelos de psilocibina cresciam no Heaton Park de forma livre. Alguém nos disse que havia campos desse cogumelo. Então, a partir daí éramos uma espécie de embriagados permanentes em cogumelos mágicos e LSD. Fizemo-los nossos. Era uma fonte grátis de entretenimento. Mastigávamos essas coisas e sentávamo-nos em pubs e víamos o mundo de uma forma estranha e apanhávamos ideias para canções acerca do ambiente local. Os The Fall eram como a Coronation Street em ácido.
Todas as drogas parecem ter a sua interface particular com o som, um modo de distorcer e enriquecer as percepções musicais. Que havia de especial com os cogumelos mágicos?
O efeito sobre nós foi que adicionou um elemento de ... eerie. Como se nos tivesse posto em contacto com os nossos antepassados – uma voz perdida, um estranho sabor Celta pagão. O LSD deu-te a experiência psocadélica dos anos 60, mas os cogumelos deu-nos um lado mais obscuro das coisas, acordando coisas na tua alma que eram proibidas. Druidismo como conhecimento perdido. Quanto se trata da história de Manchester, as pessoas apenas falam dela como o berço da Revolução Industrial. Mas se olharmos para pinturas de Manchester antes disso, as pessoas passeavam de pés descalços e de tamancos. Era uma estranha ressaca.
As suas letras nos The Blue Orchids frequentemente parecem como ‘poesia pagã’
Roubei uma cópia do The White Goddess, do Robert Graves, da livraria local quando era adolescente. É um tratado do saber perdido dos poetas Druidas. A ideia de mudança de aspecto fascinava-nos nos The Fall. As experiências traumáticas por que passámos devido aos cogumelos fizeram-nos sentir como desajeitados. Como é que te relacionas com as pessoas que encontras nos pubs? Não consegues racionalizar isso, então escreves canções loucas. Algo te está a roer o peito. Os cogumelos e o LSD criavam o sentimento de sermos marginais. Tínhamos uma visão que tínhamos de comunicar. Era uma coisa shamânica e o Mark era o catalisador de início, mas os The Blue Orchids tentaram perpetuar este tema. Não tentávamos soar como os The Fall, mas tentávamos ser verdadeiros para com essa visão. Mas também tentávamos que os The Blue Orchids fossem uma democracia, porque os The Fall se tornaram uma ditadura. Inicialmente todos eram creditados como compositores, mesmo se, de facto, fosse eu quem compunha a maioria, com a Una a escrever apenas algumas das letras.
Algumas das canções, como “Sun Connection”, são extremamente místicas, duma forma panteística, do tipo tudo-mesmo-a-mais-pequena-folha-de-erva-é-Deus.
Eu estava muito interessado na religião pelas suas ideias, mas não de uma forma dogmática. Não queria um mediador entre mim e a fonte. Eu tinha uma visão de tudo estar a ser arrancado, despojado, todos os símbolos e valores... que as fontes primárias da vida eram como o sol, um ser divino que está ali todos os dias a brilhar para ti. Eu apreciava todas as culturas que adoravam o sol. ‘Sun Connection’ era uma viagem muito particular onde eu via o sol como ser vivo, sensível que sabia da minha existência a um nível profundo, e que todas essas palavras para deuses e deusas eram apenas maneiras de descrever o que estava debaixo dos nossos narizes. Mas eram letras de rock ao fim e ao cabo, não uma nova religião.
O primeiro single foi ‘The Flood’, editado em Novembro de 1980.
‘The Flood’ foi como que uma declaração de missão para os Blue Orchids. Era realmente acerca de como lidar com o excesso de todas essas drogas psicadélicas, o dilúvio de emoções e impressões. É um tipo de canção de Arte Pop. Eu adorava a Pop Art; é, de certa forma, niilismo zen. A idiotice do Andy Warhol. Os intelectuais diriam resmas e ele apenas coçaria a cabeça e concordaria. Eu adorava todas essas maneiras de evitar dizer algo, e acabar por dizer qualquer coisa mas evitando declarações racionais. ‘The Flood’ é a arremetida do paradoxo que obténs quando experimentas todas essas drogas fortes, que foram uma influência tão perniciosa na minha juventude.
E de que tratava o lado B, ‘Disney Boys’?
Sempre quis saber! A Una escreveu essas letras. Era acerca de traficantes, de certa forma. Parece que era acerca de ir a casa de alguém, e ele dar-vos algo, e isso ser extraordinário, até os efeitos acabarem e eles te mutilarem. É como um caso de amor com a cultura da droga. Mas a Una tinha essa mania que a Disney era um Americano Nazi criando propaganda sobre o sonho americano. Mas a letra é, na realidade, sobre pagar para obter drogas e ser destroçado!
Você e a Una já eram casados nessa altura?
Nós casámo-nos em Outubro de 1979. E tivemos uma filha em 1980, a Morgan – escolhemos o nome a partir das lendas do Rei Arthur. Una e eu separámo-nos em 1985, quando os originais Blue Orchids terminaram. A una era inicialmente a musa do Mark, e passou um ano depois de eles se separarem até começarmos a andar juntos. Por isso, não se trata de eu a ter roubado ao Mark. Mas ela era, de certo modo, um catalisador. Ela era uma pessoa muito activa e argumentativa, e por isso era um grande estímulo para todos os que com ela lidavam de perto. Mas Una era muito stressada e teve dois problemas psicóticos sérios nesse período. Quando deixou os The Fall, ficou durante uma ano completamente psicótica e anorética e perdeu muito peso. Então era esta coisa onde a tua mulher estava envolvida na banda mas ao mesmo tempo precisava e ajuda psiquiátrica. Nós tínhamos realmente medo dos serviços sociais e dos hospitais mentais. A Una tinha já sido uma enfermeira de saúde mental antes de entrar para a música, e por isso não queria acabar do outro lado da barricada. Os The Blue Orchids fizeram uma grande digressão nacional com os Echo & The Bunnymen, e esse foi o ponto em que Una teve de ir para o hospital, e por isso falhou essa digressão. Durante meses tive de cuidar dela e tentar em simultâneo manter a banda unida. É o preço que tens de pagar por tomar muitas drogas. Elas são a fonte de inspiração a curto prazo mas acabam com a tua criatividade a longo prazo.
Como foi trabalhar com Mayo Thompson como produtor em ‘The Flood’ e no segundo single, ‘Work’?
Ele era mais velho do que nós e um grande músico, como um professor de rock de vanguarda. Ele foi verdadeiramente sensível para connosco. Devemos ter sido um pesadelo no estúdio na altura, porque éramos essencialmente uma banda de actuações ao vivo; juntámo-nos e tentámos alcançar esse momento transcendente. No estúdio éramos uns novatos – não fazíamos ideia de como gravar um disco. Então, basicamente o que fizemos foi tocar ao vivo no estúdio, porque era a única maneira que o sabíamos fazer. O primeiro single, fomos para o estúdio, o Cargo, em Rochdale, e estávamos todos a ‘speedar’, e eu e a Una havíamos tomado cogumelos. Os The Fall tomavam drogas mas não no estúdio. Com os The Blue Orchids nós estávamos no estúdio a ‘tripar’. Por isso havia um elemento de caos e confusão à nossa volta! A Una estava num estado mental muito frágil, e o Mayo foi muito sensível para com tudo isto e deu o seu melhor para colocar tudo em vinilo para a posteridade. Lembro-me de quando fizemos a mistura final de ‘Disney Boys’ o Mayo Thompson estar todo suado, porque ele pensava que tinha de captar tudo no estúdio, contra todas as vicissitudes. Mas ele também suou com o trauma de estar connosco por um par de dias! Nós dávamos cabo dos nervos de qualquer um e tudo foi muito emocional.
The Greatest Hit, o álbum inicial, saiu em 1982, e foi um grande sucesso, pelo menos em termos das tabelas independentes.
Nós andávamos a tocar muito ao vivo e tínhamos uma boa base de fãs, pessoas que iam sempre aos nossos concertos, logo havia por ali um certo ‘buzz’. Houve uma fase, em 1981, em que a imprensa disse que nós iríamos ser a próxima grande banda, os Talking Heads ingleses, mas não conseguimos chegar lá. Andávamos a tomar todos os tipos de drogas que eram más para a tua saúde mental, e a banda começou a fragmentar-se. Começámos a trabalhar com a Nico, que ainda nos trouxe a heroína. Drogas pesadas entraram em cena. Fiquei desiludido. A coisa mais importante era trabalharmos juntos, e por isso mantive-me leal para com as pessoas que estavam metidas nas drogas, e isso deprimiu-me, vendo amigos a estragar a vida. Foi um período muito intenso, desde os The Fall, ser atirado para o estrelato quando apenas tinha 18 anos, directamente através os The Blue Orchids. Foi uma espécie de montanha russa que não parava mais.
Há uma espécie de subtítulo no álbum – é “The Greatest Hit (Money Mountain). Que queria dizer? Uma espécie de ethos ‘liga/desliga/abandona’ para os 80’s? Preguiçosos uni-vos e recusem subir a ‘montanha do dinheiro’...
Eu estava interessado na ideia do dinheiro mas como um conceito abstracto. O dinheiro é tão intrínseco às nossas vidas, é como se fosse parte da criação, mas não é. É feito pelo homem. Eu achava que o dinheiro era o grande Satã, e os banqueiros internacionais provavelmente provaram-me que estava certo. Por isso, eu estava a penas a justapor opostos: A questão espiritual (a montanha sagrada) versus o jogo material.
‘Low Profile’ também se parece com um manifesto.
Essa letra foi escrita pela Una. Ela tinha lido uma data de livros que eu estava a ler, e houve uma grande influência do místico Russo Gudjieff. ‘The Sly Man’ – essa era a ideia de manter a cabeça em baixo, uma maneira de seres apnanhado pela vida. Falávamos com pessoas que eram como nós: pessoas que talvez se sentissem isolados, dizendo, ‘mantenham um perfil baixo, continuem, continuem.’
‘Dumb Magician’ sempre me tocou, como um ataque à cultura empresarial de Tatcher, mas ouvindo-a recentemente, de repente pensei que talvez vocês estivessem a gozr com os vossos colegas de editora, a Rough trade, como os Scritti Politti e os Aztec Camera, como carreiristas que tentavam ‘colocar o seu pé na porta’ do mainstream.
É questionável a nossa própria visão. Pensávamos que tínhamos encontrado a maneira de puxar as cordas, mas é dar um passo atrás e dizer, ‘Esperem, isso é pundonor.’ A canção tem um duplo significado: o mágico é feito idiota pelo seu próprio conhecimento. A letra no geral é acerca de ver por detrás das cortinas e pagar o preço pelas tuas acções. Podes fazer o que queres, mas há sempre um preço apagar pelo que fazes. ‘A única maneira de sair é subir’ – é uma frase simplista, mas é como dizer ‘Sobe acima desta visão inteligente, mantém a cabeça acima das tentações para manipulares o físico.’ É difícil definir.
E ‘A Year with No Head’, é acerca de dissipação, um ano literalmente perdido?
Eu prosseguia o meu próprio capricho. É associação livre. É como deixar partir o intelecto e o racional. O segundo verso vai mais fundo. ‘Eu sou um crédito para a força’ – É da Guerra das Estrelas. A coisa típica do Jedi é baseada no Taoísmo e pedaços de diferentes culturas. É uma religião-lixo Hollywoodesca, e isso era-me apelativo!
Até aqui as minhas interpretações das canções têm passado um pouco ao lado, por isso adivinho que ‘A Bad Education’ não é de facto uma crítica das falhas da escola pública!
Essa foi também influenciada por Gurdjieff. ‘A Bad Education’ foi uma declaração intelectual, rejeitando o que é suposto ser uma boa educação. ‘Eu li muitos livros, vi muita televisão.’ É dizer que a educação é má e rejeitá-la. O sistema educacional é uma coisa mecânica que está a ruir porque as pessoas ensinam por livros velhos, e a maior parte é apenas contra-informação. A história é selectiva porque há um infinito número de coisas que estão a acontecer neste momento.
Depois do álbum houve um EP chamado Agents of Change. De que trata ‘The Long Night Out’?
É acerca das minhas experiências de heroína com a Nico. É tudo acerca de um caso de amor com a doçura poppy. A Nico mudou-se para Manchester, e fomos apresentados por um amigo comum. Ela era parte da santa trindade dos Velvets, Bowie, Iggy. Eu nem queria acreditar que ela estava a residir na cidade. Ela estava deitada na cama dupla, a comer laranjas e Delícias Turcas – era unicamente para isso que ela vivia. Eu e Eric éramos os seus oficiais de diligências. Ela precisava de uma banda para a acompanhar ao vivo, e por isso éramos a banda de suporte dela, actuando nós próprios e depois voltando ao palco como banda que a acompanhava. Foi espectacular. Mas a heroína chegava-nos grátis e sem limitações. Alguns dos elementos da banda tornaram-se viciados, e esse foi o motivo por que a primeira formação dos The Blue Orchids se partiu em dois, com uma metade continuando com Nico porque estavam viciados em heroína. Eu próprio apanhei uma overdose e então parei de a tomar, e, deixei também de trabalhar com a Nico, de forma a escapar daquela cena.
No EP Agents, a nota de capa declara que o conteúdo foi gravado debaixo de ‘influências estranhas’, i.e., estados alterados de consciência. O que reforça o senso comum dos The Blue Orchids como renegados, totalmente contra o grão da pop cultura do início dos anos 80, quando os grupos da New Pop se opunham terminantemente ao uso de drogas e toda a vibração da altura era desmistificada e não-mística.
Eu perseguia apenas o que me interessava, mas não gostava da forma que as coisas estavam a tomar. Talvez a palavra ‘contrário’ se aplique a mim também. Eu sou fascinado pelo misticismo. Para algumas pessoas a palavra ‘místico’ é uma palavra feia e suja, mas isso faz ainda com que a use mais. ‘Agents of Change’, a canção, escrevi-a no regresso de Arben, aquele cinema underground em Hulme, que era altamente. Ele foi comprado por pessoas para passar filmes underground que não passavam nos circuitos comerciais. Não era ilegal mas eles esticavam um pouco a corda. Tinha também um café e um bar. O pessoal tomava drogas e via filmes. Eu vi aí Meetings With Remarkable Man, um filme acerca da vida de Gurdjieff. Eu vivia em Moss Side na altura, perto de Hulme, e comecei a escrever a canção no regresso a casa. Tentava definir a nova vibração que pairava no ar, que não era nem punk nem hippie. Tentava ser optimista acerca de algo ténue mas novo que poderia estar a nascer. A Próxima Coisa.
Ah, estou a ver, isso é interessante, porque para mim os Blue Orchids são uma banda que estão, por um lado, atrás do seu tempo (regressando ao psicadelismo) e, por outro, à frente do seu tempo (antecipando a rave – se não sonicamente, pelo menos na atitude). Os Blue Orchids anteciparam os Happy Mondays numa série de maneiras. Eu penso que ‘A Year With No Head’ soa como algo que Shaun Ryder poderia ter composto!
Quando escrevi ‘Agents of Change’, era um tempo entre duas coisas. As pessoas não estavam certas do que estava a acontecer. Pela minha parte, eu estava a tentar ser a próxima coisa que iria acontecer... mas não aconteceu! E quando o acid-house apareceu fiquei despedaçado, porque eu pensava naqueles termos, da batida simples que poria as pessoas a mexerem-se, mas também pensando em tornar-me totalmente acústico, fazendo canções folk – tentando trazer de volta algo mais natural e eterno. E na realidade tive uma banda acústica por algum tempo. Mas os Happy Mondays viram alguns dos últimos concertos dos Blue Orchids. E o Tony Wilson disse uma vez que os Happy Mondays não teriam existido se não fossem os The Fall.














_Bubok.jpg)