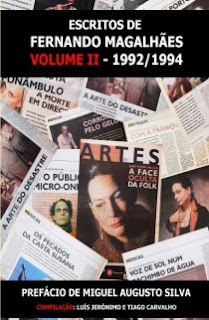Música & Som
Nº 104 - Número Duplo
Junho / Julho de 1985
Publicação Mensal
Esc. 250$00
Director: A. Duarte Ramos
Chefe de Redacção: Jaime Fernandes
Propriedade de: Diagrama - Centro de Estatística e Análise de Mercado, Lda.
Colaboradores:
Ana Rocha, Carlos Marinho Falcão, Célia Pedroso, Fernando Matos, Fernando Peres Rodrigues, Hermínio Duarte-Ramos, José Guerreiro, José O. Fernandes, José Rúbio, Luís Maio, Manuel José Portela, Manuela Paraíso, Nuno Infante do Carmo, Pedro Cardoso, Pedro Ferreira e Trindade Santos.
Correspondentes:
França: José Oliveira
Inglaterra: Ray Bonici
Tiragem 20 000 exemplares
Porte Pago
72 páginas A4 + suplemento/destacável Computadores... & Vídeo (16 páginas) - Nº 5
capa de papel brilhante grosso a cores
interior com algumas páginas a cores e outras a p/b mas sempre com papel não brilhante de peso médio.
O Síndroma Da Nova Geração Do Rock Português
por Luís Maio
Da primeira até à última sessão do concurso musical promovido pelo RRV, uma mesma impressão se foi reiterando e adensando na maior parte daqueles que a ele foram assistindo regularmente. A sensação de que qualquer coisa não funciona, de que há uma falha essencial, mesmo visceral, na generalidade dos novos projectos musicais que por essa via se deram a conhecer. A iniciativa serviu então como sintomologia de um estado lacunar dos mais jovens músicos nacionais. Consequentemente, uma vez a perturbação assinalada, há que diagnosticá-la, ou seja, proceder à sua identificação e caracterização no rol de lesões musicais, no sentido de medicar aqueles que dela enfermam. Voltamo-nos, pois, retrospectivamente, para o acontecimento do RRV, na senda do síndroma perturbador.
À partida, a pesquisa é seriamente dificultada pela convicção e aparência saudável dos pacientes. a recente linhagem da genealogia musical portuguesa, quando interpelada, queixa-se da inexistência de condições de trabalho, da indiferença e hostilidade por parte quer da indústria discográfica, quer da imprensa, quer do grande público. Todavia, não reconduz esses males às suas limitações e fraquezas, mas contrapõe-lhe uma espécie de certificado de sanidade, o seu vigor e fecundidade produtivos. Depois, em termos panorâmicos e vagos, esse mesmo testemunho parece verificar-se na prática.
Com efeito, no decurso do certame do RRV, certos grupos manifestaram um domínio dos instrumentos irrepreensível, exemplar para artistas quase desconhecidos, com destaque dos finalistas, em particular, dos D. W. Arte (que haveriam de desistir) e do Projecto Azul; outros ainda, sem se mostrarem tão perfeccionistas, deram bem conta do recado, por exemplo, os Bando Branco, os Essa Entente e os A Jovem Guarda. Depois, não obstante a já legendária falta de vocação nacional para o canto, pode-se referir os dotes dos vocalistas de algumas bandas, como os dos T.H.C., URB, Linha Geral e Pop Dell'Arte. No que diz respeito aos elementos extramusicais, como as letras e o visual, também não há muitas razões para deplorar a nova descendência do rock português. As palavras das canções da autoria de formações como o Projecto Azul, os Radar Kadafi ou os Prece Oposto, não serão talvez muito ortodoxas no plano poético, mas são bastante aceitáveis como complemento verbal do som instrumental. A esse título, como suplemento da música, também o visual de vários grupos se situa num nível de franca positividade. Entre outros, citam-se neste contexto a representação «teatral» dos Pop Dell'Arte e vídeo apresentado na actuação dos Bando Branco.
Após esta enumeração das virtualidades discerníveis nos concorrentes, poder-se-á, quando muito, objectar-se que nenhum dos grupos logrou reunir a totalidade dos predicados aqui atribuídos parcelarmente a vários. Embora justa, esta acusação afunda-se por não ter legitimidade quando apontada a debutantes. Para além disso, relembramos, a base da nossa inquirição supõe uma carência doentia generalizada que, portanto, não se preenche em termos parciais, ou, se se preferir, cuja ausência é isomórfica à maioria das formações em despique.
Dissemos «carência», não dissemos «privação». É natural, visto que falamos de agrupamentos musicais recém nascidos, e a carência é sinónima de ausência inata, não de perda ou de extravasão. Nesta diferença pode muito bem residir a chave do problema com que nos debatemos. Dado que aquilo que procuramos não é uma característica alguma vez possuída e posteriormente perdida pelos grupos em questão, não temos uma noção precisa do que devemos procurar. Ficamos perplexos, como que num vazio mental, porque sentimos a falta de algo que não vemos imediatamente, que nunca ali esteve, de que aquelas bandas nasceram destituídas. Por isso também nos perdemos no que elas aparentam, na autoimagem de sanidade que promovem e que nós esboçamos.
Quer isto dizer que necessitamos de um termo de comparação exterior a esta pléia de jovens músicos portugueses, de um modelo ou de um ideal musical em relação ao qual a sua carência possa funcionar como privação, uma forma de presença que, nas actuais circunstâncias, se dispensou de emergir. Examinando vários fenómenos musicais de eminente reputação, do free jazz ao experimentalismo, do rock 'n' roll ao punk, nota-se facilmente que todos apontam num mesmo sentido. Na base de qualquer deles está uma intuição regeneradora, um princípio absolutamente novo e fecundo, seja no plano conceptual, seja no da execução. Esta é uma regra invocadamente provada no decorrer da história da música pop; sempre que, por iniciativa individual ou por empreendimento colectivo se desencadeia um tumulto musical, criativo e genial, de forte impacto sociocultural, é porque no seu fundamento reside uma mensagem inédita que a todo o transe procura ser comunicada.
É claro que, a um nível radical e profundo, ainda não se assistiu em Portugal à eclosão de um acontecimento artístico deste teor - aqui, de uma maneira geral, a impressão de revolta desfaz-se rapidamente em ostentação pura, em pura fachada de revolta sem substrato adjacente. Todavia, não obstante os fraudes mais ou menos ardilosamente confeccionados, alguns ventos de mudança têm soprado no horizonte musical português recortado nesta década, senão provocando a revolução, pelo menos o motim sobre as instituições consagradas. Foi o caso, nomeadamente, da «new wave» portuguesa, a dos UHF e dos GNR, e, mais tarde, da onda cinzenta lisboeta, a dos 7ª Legião e dos Croix Sainte.
Só que estes ventos não sopram mais presentemente, nem uma brisa de renovação agita o congestionado ar que se respira no rock português. As bandas mais antigas e relativamente consagradas desenvolvem e exploram as pistas musicais por elas lançadas, nalguns casos com evidente perfeição e mestria, mas sem grande arrojo. Quanto às mais novas, aquelas a que competiria por dever abrir as vias e lançar os alicerces do nosso futuro musical, limitaram-se a repisar monotonamente os caminhos que outros, nacionais ou estrangeiros, descobriram e regimentaram. Esta a triste realidade firmada e confirmada, sessão após sessão, até á final do concurso do RRV. Em termos comparativos, a geração que agora desponta enferma dessa carência de motivação e inspiração renovadora que assomou outras que a precederam no próprio palco da rua da Beneficência.
Melhor ou pior construídas, as novas canções não passam de um contínuo glosar dos temas e aproximações musicais dominantes no passado mais recente da música pop. Joy Division e Echo And The Bunnymen, os expoentes máximos da corrente depressiva de 82, são as figuras arquitetípicas e misticamente reproduzidas pela grande maioria dos grupos que este ano passaram pelo RRV, desde os finalistas, como os Prece Oposto e os Linha Geral, até aos eliminados, tais que os Essa Entente e os A Jovem Guarda. A cópia é rígida e excessiva, não descuida o mais ínfimo pormenor. As letras escritas pelos jovens estreantes reduzem-se invariavelmente à antinomia inferno exterior/éden interior celebrizada pelos seus ídolos britânicos. Por seu turno, o som instrumental, daqueles, mesmo as vozes, repõem o tom e as frases destes últimos - até o visual de sobriedade e despojamento dos segundos é zelosamente imitado pelos seus discípulos portugueses.
Numa outra classe, bastante menos numerosa, inscrevem-se formações como o Projecto Azul, os D. W. Arte e os Morituri, investindo noutra moda musical, mas que também já fez carreira no período imediatamente sequente ao punk, a do pop electrónico semi-experimental, semi-dançante, que tem por principais arautos nomes como os de John Foxx, Thomas Leer e Eyeless In Gaza. Estas fontes de inspiração musical presente naquelas Bandas não são nelas tão nítidas e transparentes como no caso precedente, em especial, devido ao recurso a instrumentos bastante sofisticados, que lhes é muito típico, mas que também favorece a dissimulação da sua procedência. No entanto, vistos em profundidade, os trabalhos destes agrupamentos em questão também desvelam a sua íntima estrutura fraudulenta. Nas letras, posicionam a oposição entre o ser humano e o ser maquinal, nos arranjos e tratamento dos instrumentos, esforçam-se por resolver a dita contradição através da manipulação humana das máquinas, pela comunicação do calor e do pulsão humanos à fria configuração mecânica. Ou seja, repetem sem renovar os lugares comuns que vulgarmente se atribuem ao pop electrónico mais simplificado e banal.
Por último, três outras classes, desta feita minoritárias, completam o quadro musical da competição. Numa inscrevem-se grupos como os Crise Total e os Der Stil, noutra, os URB e os Bramassaji, noutra ainda os T.H.C. e os Radar Kadafi. Em cada uma impera um modelo, um padrão musical sobejamente conhecido e explorado. No primeiro caso a matriz é o punk, no segundo é o rock português dos inícios da década, no terceiro é a new wave post-punk, a dos Cars e dos Spandau Ballet.
Toda esta etiquetagem dos novos agrupamentos pode parecer um tanto artificial e hiperbólica. Deixa de o ser, todavia, se se compreender a mentalidade que subjaz à atitude mimética que ela denuncia. Vive-se entre a comunidade rock portuguesa, em particular, nos seus estratos mais jovens, um complexo de inferioridade opressivo e profundo. Sejam quais forem as razões, a verdade é que quem se inicia nas lides da moderna música portuguesa confronta-se com o contraste abismal que separa a qualidade e o êxito das realizações dos artistas estrangeiros e o falhanço ou a sua sombra a vitimar as dos seus homólogos nacionais. Há então esta tendência para não arriscar, para subscrever conformista e cegamente as fórmulas musicais daqueles, como se só isso pudesse proporcionar reconhecimento e sucesso.
É talvez uma propensão inconsciente, tanto mais que a experiência artística portuguesa na área do rock, salvaguardadas as honrosas excepções, tem sido de tipo traumático. De qualquer forma, a sua acção faz-se sentir de modo muito efectivo, minando interiormente todo o esboço de reacção aos produtos importados. Sucede, pois, esta coisa aberrante, quase vergonhosa, que é uma classe de novos músicos, alguns dos quais muito promissores, se autoimputa todo o senso de pesquisa, do desejo de raízes criativas para a sua música. Esta é então uma espécie de geração de 70 do rock português.
Pergunta-se: não há dissidentes? Não há refractários? Como já é do conhecimento de uma boa parte do nosso público musical, uma excepção se destaca nesta legião de copiadores, a dos Pop Dell'Arte. Eles invertem, eles provocam, eles são capazes de ressuscitar o tão falado, mas tão ausente, génio criativo português. Mas o contra exemplo é tão isolado e singular que não chega, nem mesmo como lenitivo, para sarar o doentio marasmo criativo, este sim dominante. Uma vez diagnosticada a apatia, resta prescrever a audácia como atitude exemplar àqueles de entre os novos que quiserem sobreviver na cena musical portuguesa. Não há outra via.
Marillion - A Má Cópia Dos Genesis, por Júlia Pinheiro ("was there")
Portugal foi contemplado na digressão dos Marillion, o que veio quebrar o jejum a que os «roqueiros» nacionais tê sido implacavelmente submetidos nos últimos tempos. Com efeito, tomando como referência os últimos anos, há já algum tempo que não se verificava uma ausência tão prolongada de grupos estrangeiros em palcos nacionais. Sucessivamente, nomes importantes e desejados da cena internacional têm recusado os convites portugueses, talvez porque não é compensatória a maçada de dar um pulinho a este «cantinho europeu».
Os Marillion, contudo, vieram. E vieram concretizar os momentos de música e ritual que o público português ansiosamente esperava. O Restelo registou uma das suas maiores enchentes de sempre, um pavilhão repleto de um público entusiasta e cúmplice para o que desse e viesse. Quando subiram ao palco do pavilhão de Belém depararam com uma plateia já conquistada, disponível...
Fish: O Líder
Algumas horas antes do concerto, Fish, o vocalista da banda britânica, mostrava a mais completa perplexidade quando foi confrontado com a pergunta: porque é que vieram a Portugal?
O músico compôs um ar bonacheirão: «Viemos a Lisboa porque sabemos que há gente interessada na nossa música. Viemos tocar para eles. Quando planeamos esta digressão, considerámos os aspectos económicos em segundo plano. Embora Portugal seja um mercado (discográfico) reduzido face ao resto da Europa, não pode ser esquecido. Perder ou ganhar dinheiro não nos preocupa. Viemos apenas fazer um concerto... para o nosso público».
Sentado na relva, uma coca-cola em cada mão, Fish personifica a antivedeta. «Os Marillion estão de boa saúde. ultrapassámos todas as dificuldades, estamos unidos e decididos a fazer desta digressão de sete meses, uma «tournée triunfal». Atingimos agora a quinta semana e os resultados são animadores. Mesmo em países onde não somos muito conhecidos, a receptividade tem sido óptima».
Digo-lhe que há já muita gente à porta (6 horas antes do concerto). Fish abre um sorriso e entusiasma-se: «Sei que 'Real to Reel', o nosso álbum ao vivo vendeu muito bem em Portugal. Logo à noite vamos tocar temas antigos e revelar algumas músicas do novo álbum «Misplaced Childhood».
Este quarto disco vem confirmar os «vislumbres» do rock sinfónico que os Marillion tomaram como via para a sua proposta musical. As línguas mais compridas dizem que é cópia... Fish é, claro, de opinião contrária: «Misplaced Childhood» é a confirmação da nossa identidade musical. É o disco que fecha a trilogia que inicámos com «Script for a Jester's Tear». Foi concebido como um «todo», não é possível destacar um tema. Os temas base são a infância, a memória, a negatividade que encerra a atitude de nos refugiarmos no passado. No fundo... é um recado para o futuro».
Deste novo álbum, no mercado nacional já circula «Kaleigh», um single que veio promover os dois concertos da banda em Portugal... «Kaleigh» é o single promocional da digressão e do disco. Tanto quanto sei está a vender bem o que é um excelente indicador do sucesso do LP».
A este optimismo não será alheio o novo produtor Chris Kimpsey. Neste aspecto, Fish é peremptório: «O nosso novo produtor obrigou-nos a retomar a harmonia, a procurar a beleza da simplicidade... algo que havíamos perdido sem nos darmos conta». O sol aquece, Fish relaxa o seu quase metro e noventa, tece considerações carregadas de humor sobre as características da música do grupo, num discurso fluente que, a partir de dado momento, quase não precisa de ser provocado... «somos a ponte de ligação para uma geração perdida. A nossa música recorda sonoridades esquecidas. É uma música eminentemente europeia, baseada nas vivências do velho continente. Essa deve ser, de resto, uma das razões porque temos pouca receptividade nos Estados Unidos. De facto, a nossa música é um apelo constante à cultura europeias, às velhas sagas que constituem os mitos deste pedaço de Mundo. Não fazemos canções para consumo imediato. A nossa proposta é uma cadeia de anéis que vamos completando com os novos trabalhos. O último álbum, «Misplaced Childhood», encerra a primeira trilogia».
Há quem considere este discurso dos Marillion arrogante, quase impertinente. De toda a maneira o projecto Marillion não consegue demarcar-se do estigma dos Genesis que paira, latente, sobre o grupo britânico. A conversa aponta justamente nesse sentido, Fish não desarma. Parece mesmo convicto: «É claro que somos uma banda arrogante. E é exactamente aí (ou também aí) que se estabelece a diferença. Não escrevemos música a metro; produzimos pelo prazer e nunca com a fixação do sucesso. Uma posição que não me parece impertinente. É apenas uma atitude profissional».
Genesis: O Fantasma
No que toca às influências genesianas que a crítica tem insistentemente atribuído à música do grupo, Fish recusa-as em toda a extensão: «Não temos rigorosamente nada a ver com os Genesis. As ligações que a crítica tem estabelecido entre a nossa música e a produzida pelos Genesis são inexistentes. Temos uma identidade própria e uma proposta genuína enquanto banda».
Talvez para desfazer alguns equívocos criados a partir de notícias veiculadas por alguma imprensa especializada inglesa, Fish faz questão de esclarecer:
«Nunca algum músico dos Marillion tocou com os Genesis. Não fomos sequer contactados nesse sentido». E se fossem contactados? O enorme vocalista desfralda um sorriso e questiona ele próprio: «Tocar com os Genesis? Prefiro os Marillion...».
Para Fish o empenhamento com a banda é total. O vocalista faz questão de acentuar a coesão entre os músicos do grupo e o posicionamento não comercial do projecto Marillion: «As nossas referências musicais residem em nós próprios, apesar de todo o respeito que temos pelos grupos alinhados noutras áreas... O sucesso comercial traz benefícios e desvantagens. A procura constante de «hits» atrofia o prazer criativo e amarra os músicos aos estúdios. O projecto Marillion definharia se não fosse apresentado ao vivo. Só no palco é possível encenar as canções. E a nossa música encerra importantes elementos cenográficos».
As Máscaras
As máscaras são recursos a que o vocalista dos Marillion recorre frequentemente. Adereços cénicos que concretizam a procura de teatralidade (Peter Gabriel, dos Genesis, foi o primeiro a utilizá-la), de outras fantasias: «Comecei a maquilhar-me por insegurança, porque sou muito tímido. Depois, a máscara tornou-se parte integrante do meu visual. Não vou, contudo, ficar preso à maquilhagem, como os Adam and the Ants que descobriram um dia que não tinham qualquer outro atractivo para lá das pinturas guerreiras».
O discurso de Fish, tranquilo e transparente, provocava na repórter uma outra curiosidade: observar a transformação do interlocutor calmo, sem poses, no artista que em palco defronta uma plateia.
A expectativa frustrou-se...
O Concerto
Muito mais do que ver os Marillion, talvez tenha sido a «sede de rock» que provocou a enchente que pode considerar-se um recorde em espectáculos do género realizados no Pavilhão do Restelo. Uma plateia extremamente disponível saudou de maneira efusiva uma banda que tinha tudo a provar. «Cinderela Search» abriu o concerto sofrido de cerca de duas horas. Duas vezes voltaram Fish e os seus companheiros ao palco, reclamados por um público generoso talvez muito mais apostado no prolongamento do ritual do que no desempenho da banda britânica.
Esforçados, os Marillion nunca souberam capitalizar o entusiasmo de uma plateia rendida ao primeiro acorde. Servidos por um som que complicou mais do que ajudou, os Marillion pareceram uma banda sem chama e Fish um vocalista pouco convincente que se debateu durante toda a «função» entre sussurros ininteligíveis e trejeitos de gosto duvidoso. Era legítimo esperar bastante mais. «Real to Reel», o álbum ao vivo, havia fornecido indicações que permitiam antever outro e mais palpitante desempenho. Frustraram-se as expectativas: a banda é pouco mais do que vulgar; Fish desajeitado, pesadão e um cantor medíocre. A recriação cénica que o vocalista dizia importante para a música do grupo, não se viu. A maquilhagem rudimentar e os trejeitos vulgares não assentariam mal a um conjunto liceal. De facto, ao longo de duas horas se nada se viu, também pouco se ouviu. Um concerto descolorido, sem qualquer vislumbre de criatividade ou rasgo de ousadia. Aqueles que procuravam estabelecer uma relação íntima entre os Marillion e os Genesis, acabaram por sair, eles próprios, desacreditados,. Comparar a banda de Fish com os Genesis é pura deformação de análise: separa-os um abismo profundo de profissionalismo e talento. O público mostrou-se indeciso, entre as palmas e os assobios, acabando por prevalecer o «espírito rocker» que permitiu dois «encores» sofridos e suados de uma banda que se afirma «cheia de energia»... Ficou, mais uma vez, a confirmação de que a esmagadora maioria da população de concertos (rock) é pródiga em cumplicidade e pouco crítica em relação ao que consome.
Os Marillion, esses, ameaçaram: «voltamos para o ano»...
Livra!!!
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição:
. Os Smiths Ao Vivo Em Madrid - Em Nome Da Liberdade, por Luís Maio
. Um Supertramp Em Portugal - John Helliwell - Entrevista, por Célia Pedroso
. Genesis - Revelação E Memória - artigo de José Ângelo Guerreiro
. Grupos Portugueses - 2. Rui Reininho - Um GNR Em Pessoa, por Luís Maio
. Discos em Análise:
.. Laurie Anderson - «Mr. Heartbreak» [WB 75992-5077-1], por Luís Maio
.. Violent Femmes - «Violent Femmes» [Rough Trade TM/RT 55], por Luís Maio











































_Bubok.jpg)