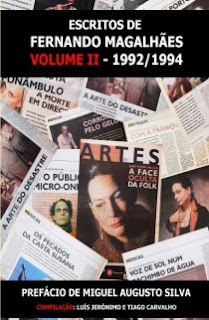O trabalho deve falar por si, argumenta o compositor digital e de instalações de som, o artista japonês Ryoji Ikeda, quebrando o seu silêncio nos media, para falar acerca de “assuntos relevantes para o trabalho, se não o trabalho ele próprio”. Isso inclui a sua colaboração com Dumb Type, controle e democracia, e usos práticos para os discos dos AC/DC.
Texto:David Toop. Fotografia: Leon Chew. [Artigo WIRE 267 - Maio de 2006]
(ver link útil no fim do post)
door open door shut
Começando com o silêncio. Há 12 anos, fui abordado no ICA, em Londres, por um japonês dos seus quase trinta anos. Ele falava pouco inglês. O projecto dele era gravar pequenas entrevistas em vídeo sobre o assunto do silêncio.
Susan Sontag, no seu ensaio The Aesthetics of Silence, publicado no artigo O Minimalismo da Aspen Magazine em 1967, escreveu: “Como referiu Oscar Wilde, as pessoas nunca tinham visto o nevoeiro até que os poetas e pintores do século 19 lhes tivessem ensinado como o fazer.”
Um CD intitulado Silence mudou de mãos, uma caixa de cartão branco contendo um livreto e algumas selecções musicais deveras surpreendentes, editado pela Warcoal Art Centre da Spiral Gallery, Tóquio. Vários aspectos do silêncio foram encontrados lá dentro, incluindo o trabalho de Derek Jarman, que falava do silêncio que acompanha sempre um eclipse; o neurocientista e auto-explorador John Lily, que desenvolveu uma crença em seres superiores guardiães em total silêncio e isolados em tanques; a estranha colocação de notas, piano em silêncio, de Paul Bley; o feedback limitado que regressa a zero, de David Cunningham; o swing gentil de Jan Steele, um híbrido de jazz e composição; as notas arrastadas das canas de bambu de Tamani Tono e Ko Ishikawa; a quietude circular de In A Landscape de John cage, interpretada em harpa por Masumi Nagasawa. Coalescente com o conceito de nevoeiro, a colecção parecia uma audição do passado e presente do silêncio e o seu impacto no emergente pós-tudo do mundo dos sons.
O produtor do CD, o entrevistador no ICA, era Ryoji Ikeda. Nos anos seguintes, duma forma insistente apesar de talvez relutante, Ikeda tornou-se num representante de uma metodologia absoluta, uma estética rigorosa através da qual o silêncio é o branco no coração branco da claridade no centro da música digital.
Apesar de explorar modos de apresentação significativamente diferentes, as suas instalações, edições em CD, concertos e colaborações, todos contribuem para uma imagem forte da pessoa e do trabalho. Interpretações (de ambos, pessoa e trabalho) habitualmente falam em características como rigor, controlo e formalismo técnico.
“O silêncio é o último gesto do artista,” escreveu Susan Sontag. “Pelo silêncio, ele liberta-se da servidão torturante do mundo, que lhe aparece como patrão, cliente, audiência, antagonista, árbitro e distorsor do seu trabalho.” Esta foi a estratégia de Ikeda, mantendo polidamente uma distância dos media, das entrevsitas, evitando análises ou sentenças, explicação, elaboração, até fotógrafos. Mas neste momento estamos sentados em Londres, a discutir assuntos relevantes para o seu trbalho, e não sobre o próprio trabalho. Naturalmente, dado esta súbita quebra de dez anos de silêncio, eu estou interessado em descobrir se a estratégia resultou.
Na noite anterior, dois dos seus trabalhos - formula e C4I - foram apresentados no Barbican Hall, em Londres. O primeiro, que ocupou a primeira metade do concerto, foi formula [ver.2.3], agora uma peça familiar que se baseia na revisão do seu álbum de 1995, 1000 Fragments, com a influência do Ambient de Brian Eno / Paul Schütze audível nas suas contribuições em Silence, e o ponto mais focado de +/-, editado pela Touch em 1996. Como algum do material vem de um período em que ele fazia ainda parte da cultura DJ - astronautas no espaço, discos de demonstração stereo, rádio global e batidas de hip-hop - formula expõe agora a sua idade.
As duas peças são muito diferentes entre si, e mesmo pensando que as origens são familiares, eu estou demasiado influenciado pelas mais recentes meditações de Ikeda para questionar os contrastes entre sobrecarga musical, imagearia específica e abstracção reducionista. “Estou na geração depois da pós-modernista, depois da minimalista, depois de tudo.” diz, “Então eu limito-me a usar todos os tipos de técnicas como um artista deve fazer. Sou apenas eu.” Quando vem à baila o que ele faz, principalmente nota-se que ele não o quer discutir, e isso emerge quando lhe coloco uma das questões que me foram dadas por um dos meus alunos, Tetsumi Sagawa. Ela queria saber o que o motivou a fazer um trabalho como C4I.
Um longo silêncio subsiste então: “É muito difícil de dizer porque eu contei tudo através da peça. Por isso, basicamente, em geral, eu não quero explicar nada acerca da minha peça porque os meus trabalhos já contam tudo.”
Estratégias oblíquas são necessárias. Pergunto-lhe acerca do período quando ele era DJ, e o que ele passava. “Abstracções, desde o início, sem batidas,” diz. “Ambient. Eu misturei o teu disco na Obscure. Eu fiz uma mistura na Obscure. A [de Brian Eno] Obscure é uma editora muito importante. Isto mesmo no início, em 1990, ou 1989, no esmo período da House, Acid house e Ambient House, 808 State e tudo isso. Eu era jovem. Eu adorava estar em clubes com os amigos, normal. Eu adorava festas. Eu era realmente novo, 24-25, em Tóquio.
“Tinha acabado de me graduar na universidade. Não tinha emprego. Estudei Economia, não macroeconomia mas sim microeconomia, como marketing. Sei tudo acerca de publicidade, marketing e esse tipo de influência dos media. Isto é-me muito útil como artista porque conheço o sistema, a estrutura e o conceito, o que me serve bastante, mas como produtor é tão útil porque sei o que devo fazer. Como alvo, apenas ajusto a produção aos ouvintes.”
Isto pode ser construído como uma lição em como tirar proveito de uma história pessoal, decisões educacionais mal direccionadas, contudo tangenciais a futuras ambições como parecia naquele tempo. Nascido em 1966, numa família de comerciantes, Ikeda cresceu em Gifu, entre Nagoya e Kyoto. “É apena província, nada, apenas chato” diz. “Quase uma grande cidade, mas apenas industrial, sem cena de artes. Eu fiquei por lá até completar o secundário e depois, para a universidade, fui para Tokyo. A minha família é muito normal. Lembro-me da minha infância muito claramente, tal como uma fotografia. Foi muito normal. não havia nada criativo - apenas a minha cidade, a minha escola, a minha família, eu próprio. Eu gostava de aprender coisas por mim próprio, por isso eu gostava de artistas autodidactas como Takemitsu. Não sei - talvez tenha um bocadinho uma reacção de complexo acerca da academia, poque nunca conheci esse mundo. Não consigo escrever uma pauta correctamente. Não sei tocar piano. Não sei tocar qualquer instrumento, por isso provavelmente eu tenho um complexo, subconscientemente.”
Em 1993, teve um emprego como produtor de áudio e vídeo na Spiral, uma galeria chic em Aoyama, também loja, espaço de perfomances e restaurante, localizada perto do boulevard da moda, Omotesando. “Muito cedo fui alimentado por tudo,” diz. “esse período foi tão intenso, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como produtor organizei mais de 400 eventos em 2 anos, contratando artistas, convidando, trabalhando com promotores, editando CDs, mostrando filmes de arte, como Derek Jarman. Estava completamente submerso e exausto e precisava apenas de silêncio. Este é o meu silêncio. É verdade. Depois cortei todas as comunicações com todas as pessoas da arte, pessoas da música, do espectáculo, aquele tipo superficial de pessoas. Tentei apenas perceber quem era meu amigo e encontrei apenas 3 ou 4.
“Mas foi uma prenda. Quando trabalhei na Spiral encontrei Dumb Type e rapidamente ficámos casados.” Ri-se nesta altura, e através da maior parte da entrevista. “Eu estava naturalmente envolvido em Dumb Type. Então, um dia chegou um fax: ‘estamos à espera no aeroporto de Ljubljana.’ Não havia explicação alguma, apenas me enviaram o fax com o código de reserva do voo. O quê? Fiz as malas e fui. No dia seguinte estava a operar. Depois juntei-me às suas digressões durante 12 anos. foi uma grande experiência. Foi uma enorme sorte para mim sair do Japão. A minha vida foi completamente transformada. Experimetei inúmeras coisas.
Dumb Type é um colectivo artístico, baseado em Kyoto e fundado em 1984. Apesar de geralmente ser considerado um grupo teatral, as suas actividades têm incluido exposições de arte, trabalho audiovisual, publicações e instalações tais como o espectro exposto como parte da colecção permanente do ICC, Tokyo. Numa sala vazia, écrans planos, cada qual do tamanho de uma pessoa, estão em paralelo no chão branco. As pessoas são visíveis, ou não visíveis, nos écrans; sons sussurrantes como um aparelho de TAC a trabalhar. Teiji Furuhashi descreve a peça como uma exploração da fronteira entre a vida e a morte, agora controlada pela tecnologia mas ainda uma assunto profundo para a mente. Os membros centrais dos Dumb Type, Shiro Takatani, Hiromasa Tomari e Takayuki Fujimoto fizeram todos contribuições fundamentais para as imagens e encenação da formula de Ikeda; de forma interessante, Ikeda considera-se a si próprio, pelo menos mentalmente, como sendo ainda parte do grupo. “É como a família,” diz. “É tão ambivalente. Por vezes eu odeio-os realmente, como acontece com os irmãos.”
2 anos depois de Ikeda se juntar ao grupo, Furuhashi, que é um membro fundador e director dos Dumb Type (não que eles tenham um director), morreu de causas relacionadas com a SIDA. Claramente, os objectivos políticos do grupo, confrontando a sociedade Japonesa com assuntos nada bem-vindos como a SIDA ou a distopia de redes tecnológicas, e organizando-se eles próprios como um colectivo anti-hierárquico, parece distante da imagem corrente do trabalho de Ikeda. Aqui, por exemplo, está David Ryan, escrevendo no Art Monthly, ano passado: “Este ouvinte, pelo menos, desejava um pouco mais de risco ou falta e controlo, uma dimensão humana, que Jean-François Lyotard uma vez descreveu como ‘aquele poder analógico, que pertence ao corpo a à alma analogicamente e mutuamente e que esse corpo e alma partilham entre si na arte da invenção’.”
De acordo com Ryan, Ikeda aspira a “um espaço de perfeição”. Eu questionei a este propósito, de que a perseguição do controlo total é profundamente problemático. “Se eu ligar o conceito de controlo ao aspecto social é muito complicado,” diz, mas para mim, o controlo é apenas para ser mais preciso, exacto, iso é garantido. Eu tenho um grande problema com a improvisção. Ainda gosto de muitos tipos de música improvisada - gosto de john Zorn, Fred Frith - mas sinto que não é a minha área. Eu nunca neguei a improvisação na arte e na música. Só que não é o meu ramo. Controlar as coisas é confortável para mim porque agora quando eu crio uma peça, música, instalação ou concerto audio-visual, na minha visão está tão claro que preciso de controlo. Isso é realmente um atalho para atingir o resultado. E ainda, eu sou um bocado preguiçoso. sim, de verdade, sou preguiçoso. É por isso que preciso de estar sob controlo, porque a vida é curta e eu quero fazer o maior número de coisas possível.”
O grande modernismo e minimalismo são ambos reacções que, por sua vez, engendraram reacções extremas.. escrevendo recentemente na guerra interna do modernismo no Guardian, JG Ballard tinha isto para dizer: “As tentaivas do modernismo para construir um mundo melhor com a ajuda da ciência e da tecnologia parecem agora quase heróicas. Bertolt Brecht, que não era fan do modernismo salientou que o lodo, o sangue, a carnificina das trincheiras da 1ª Guerra Mundial deixou os seus sobreviventes desejando um futuro que se parecesse com uma casa-de-banho de chão e telhados brancos.”
Esta reacção pode também ter sido provocada a um nível pessoal, através de um profundo envolvimento com situações incontroláveis e que podem ser inspiradoras mas também provocarem a exaustão conduzindo por isso a uma oposição polar. Apesar de Ikeda ter colaborado com o arquitecto Toyo Ito, com o fotógrafo Hiroshi Sugimoto, com o coreógrafo William Forsyth e, no Cylo, com o artista sonoro Carsten Nicolai, a maioria da sua definição como artista foi conseguida isoladamente. Perguntei-lhe se aprendeu muito com a concepção de teatro que os Dumb Type tinham. “Sim, tecnicamente, conceptualmente, tudo.” diz. “Foi como uma escola para mim, mas Dumb Type foi um óptimo lugar para aprender qualquer tipo de qualquer assunto, porque havia muitos tipos diferentes de pessoas nos dumb type. Performers, eles não sabiam nada de música e de computadores. Eles apenas adoravam dançar. É mais intuitivo, o que é maravilhoso. Os Dumb Type não tinham líder nem director, conceptualmente. O director estava oculto. É totalmente democrático, e por isso um performer pode queixar-se da música e eu posso sugerir qualquer coisa acerca da coreografia ou das luzes. A forma de relacionamento é realmente saudável. É por isso, se nós tentássemos mover uma cadeira daqui para ali precisávamos discutir durante 3 noites, porque tudo era baseado na democracia ideal. É fantástico, mas é também muito cansativo. Esse caminho influenciou-me muito. É por isso que eu agora sou uma espécie de fascista.”
Depois corrige-se a si próprio, percebendo que o uso de uma palavra tão emotiva apenas pode tornar a sua imagem como um freak controlador extremo. “Fascista não,” diz. “Fazer uma peça. Tenho sempre um jovem assistente e sou sempre muito claro quando peço alguma coisa. É realmente concreto: pode fazer esta imagem, esta linha, e quantos pixels de altura? Por vezes esqueço os Dumb Type porque estou sempre sozinho, basicamente, agora, por isso esqueço-me dessa atmosfera.”
Há cerca de 10 anos, os Dumb Type actuaram no Barbican, o que provocou alguma nostalgia em Ikeda. Nessa ocasião o som estava muito alto e todos os técnicos de som fizeram um boicote. “Estava com muito medo e ao mesmo tempo muito excitado,” diz ele. “Era mais uma atitude punk que outra coisa.” Muita desta abordagem confrontacional da perfomance permanece nos seus espectáculos. Ambos formula e C4I contêm momentos-choque de ruído intenso e repentino, luzes psicadélicas, cortes viloentos e repetição rígida e cruel, e seja que ideias sobre o que a luz branca pura do seu trabalho gravado possam trazer à mente, elas são completamente desmanteladas pela imageria, texto e cor que forma o conteúdo de C4I.
Sendo um trabalho que tudo sobre a desigualdade global e destruição ambiental ao imperialismo Americano, ele carrega certas contradições na sua aurora poderosa. Temos de ser um bocadinho de direita ou revisionistas ambientais para discutir a maioria dos textos que aparecem em flashes no écran gigante, mas eu fico sem saber acerca das conexões entre poder, tecnologia, digitalização e natureza, todos inerentemente fazendo parte da peça e projectados como seu assunto.
Há um sentimento residual que os valores de produção sofisticada, textos enfáticos isolados e saturação sensorial se encaixam muito bem na paisagem mediática dominante, sem remeter para qualquer coisa mais profunda que as estatísticas, apesar da polémica que parece muito suave dentro do contexto do debate Europeu mas que se poder ler de forma muito diferente em relação ao programa de segurança da América, ou do consenso Japonês. “As pessoas no Japão pensam que eu me tornei um activista ou qualquer coisa desse género.” diz Ikeda, “mas não.”
Num momento chave, precedido por um impacto áudio massivo, as palavras de Ad Reinhardt - “Nenhum livro aberto, apenas tacto” - aparecem no écran. elas foram tiradas da Time, de uma pequena secção das notas não publicadas e não datadas de Reinhardt, escritas pouco antes da sua morte em 1967. Nos últimos 10 anos da sua vida, ele pintou apenas pinturas em preto, e as suas notas exploravam as implicações do negro quer no contexto da história e função da arte, quer como símbolo, filosofia e qualidade intrínseca. Esta linha que precedia aquela que Ikeda usou é “A linguagem serve para escondermos os nossos pensamentos”, o que nos leva ao território dos colegas estudantes e amigos de Reinhardt, o poeta Robert Lax e o monge trapista e escritor Thomas Merton.
Todos os três escreveram sobre o silêncio nas suas variadas formas e exercitaram versões de reducionismo, um uso de palavras para confundir palavras. “As noções de silêncio, vazio, redução, dão-nos novas prescrições para o olhar, o ouvir, etc.,” escreveu Susan Sontag, “especificamente, quer para ter uma mais imediata, sensitiva experiência da arte ou para confrontar o trabalho da artístico duma forma mais conscenciosa e conceptual.”
Isto parece resumir o sentimento de Ikeda: que o seu trabalho deve ser experenciado o mais directamente possível, em vez de tomados como instrumentos de teoria, e ele está maispreocupado com o indíviduo, a subjectividade de resposta aberta do que com significados fechados.
Depois, lá está a prática de como apresentar os trabalhos em concerto. Em Maio de 1997 actuei no Stadtgarten de Colónia, num concerto organizado por Frank Schulte. Também aí actuaram Scanner, David Moss, Burnt Friedman e Ikeda (nos teclados). Este concerto é agora listado na sua biografia como o primeiro. Como na altura todos lutávamos para encontrar maneiras de traduzir as gravações digitais em actuações ao vivo, estou curioso por saber quantos destes concertos a solo houve, antes de chegar até à sua presente formulação, que é a de eliminar todos os traços de presença humana física no palco.
“Fiz o mesmo tipo de coisa 3 ou 4 vezes mas depois tive uma grande dúvida,” diz. “A minha grande questão foi, será isto um concerto? Qual é o conceito de concerto? Normalmente as pessoas vão para ver o concerto. Não ouvir música mas ver - olhar para o que está a acontecer. Mas quanto a isso eu não podia fazer nada. Não sei dançar, não sei cantar. Não sei entreter as pessoas, e por isso pensei seriamente sobre o que poderia fazer. Decidi usar imagens.
“Mais do que tudo,” continua, “a peça chamada C4I é como eu posso compor a imagem e o som e como posso orquestrar os elementos, por isso em certo sentido é um tipo de imenso rascunho na minha cabeça ou um tipo de estudo, um estudo de composição para mim, e então a parte política é apenas um dos elementos a ser orquestrado por mim. Provavelmente, claro, poque eu vivo em Nova York e sinto muitas coisas em Nova York, isso reflecte-se directamente na peça, mas eu não consigo avaliar esse ponto por mim próprio. É por isso que os críticos é que o devem analisar. É o seu trabalho; não é o meu.”
Outra grande gargalhada.
Porta aberta, porta fechada; entra a teoria. Christoph Cox, por exemplo, publicou um artigo na Artforum de 2003 intitulado “Return To Form: On Neo-Modernist Sound Art”. Ele propunha um revivalismo da abstracção modernista na Arte do Som, citando Carsten Nicolai, Richard Chartier e Ryoji Ikeda como líderes do neo-modernismo. “Contra o assalto da inestética da vida do dia-a-dia, “Cox escreveu, “Ela reclama uma função básica da arte: a afirmação e extensão da sensação pura.” Quando eu trouxe à baila este assunto do revivalismo no interesse no modernismo e minimalismo, Ikeda ficou enfadado. “Eu na realidade não sei nada dessas categorizações.” disse. “Claro que é útil mas para os artistas é realmente difícil aceitar ser apelidado de minimalista. Até [Donald] Judd recusou ser um minimalista, e também Steve Reich. Eu percebo. As pessoas não são assim tão simples. Têm muitos, muitos aspectos, como seres humanos que são.”
Opostos situados nos 2 extremos são simplesmente versões um do outro. Pensando nas citações impressas no seu livro e DVD formula - “Menos é mais”, de Mies Van Der Rohe, e “Mais é mais”, de David Tudor - sugeri-lhe então que os músicos minimalistas americanos soam a maximalistas. “Sim.”, disse. “Philip Glass é totalmente um maximalista. Mas alguém disse uma vez algo de muito interessante. Que se tu ouvires um CD de Ryoji Ikeda, sentir-te-às minimalista mas se fores assistir a uma sua actuação sentirás que é um maximalista, fisicamente.”
Talvez alguma desta fisicalidade maximalista advenha dos seus anos de teenager. Perguntei-lhe sobre a primeira música que realmente o excitou. “Tenho de ser honesto,” disse. “A minha primeira experiência musical realmente chocante foram os Kiss e os AC/DC. Ao vivo, muito alto, é como se se tratasse de uma “parede de som”. Eu tinha 13 ou 14 anos quando fui a uma sala de concertos enorme e aí estava uma parede de amplificadores Marshall no palco. Fui com um amigo e com a família e era apenas um rapaz do campo. Fiquei impressionado. Fiquei de boca aberta. Com os AC/DC, a engenharia de som nos discos era muito boa e quando faço soundcheck ainda uso o Back In Black. como pessoa, sou definitivamente rock. a experiência é espantosa. Se fosse um pouco mais velho, gostaria de ter visto os Led Zeppelin e o Jimi Hendrix.”
Na altura não gostou do punk devido à sua simplicidade, e até odiou todos os sons electrónicos. Perguntei-lhe se tinha ouvido música electrónica japonesa dos primórdios; peças tais como My Blue Sky (No. 1) de Joji Yuasa, Water Music de Toru Takemitsu, ou Music For Sine Wave de Toshiro Mayuzumi, os quais podem ser ouvidos como tendo uma relação directa com o seu próprio trabalho com tons puros. “Mais recentemente,” diz, “porque a música deles foi totalmente abandonada. É muito complicado para eles e para mim. Aquela geração experenciou a guerra e odiavam realmente qualquer coisa tradicional japonesa, como uma coisa de direita, estavam tão contra elas quando eram jovens. Agora, retornaram ao básico e isso é muito difícil de aceitar por mim. Joji Yuasa, porquê? Ele era tão abrasivo e o seu ruído branco [Projection Esemplastic For White Noise and
A sua frase termina em desapontamento. Talvez tenha a ver com o tornar-se velho, sugiro eu. Ikeda fala por momentos de bandas sonoras que o seu pai costumava tocar todos os Domingos de manhã. O assunto deriva para John Zorn e os seus gostos musicais sem fronteiras. Ikeda diz que por vezes o vê em Nova York, mas que é demasiado tímido para tentar uma abordagem. “Ele é um herói,” diz. Conto-lhe a história do tempo em que Zorn veio até minha casa, em meados dos anos 80. Na altura eu estava a trbalhar numa série de televisão e a investigar bandas Britânicas de dança dos anos 40. Passei-lhe uma gravação primeva de Mantovani, o líder de banda nascido em Itália, cujas cordas oceânicas tiveram grande sucesso em 1951 com o clássico easy-listening “Charmaine”. Zorn sabia tudo sobre Mantovani, claro, assim como, pareceu-me, Ikeda. “Eu tenho muitos discos do Mantovani,” diz. “Mantovani realizou gravações em quadrofonia - é música easy-listening super-sofisticada.”
Voltando ao silêncio, e a Susan Sontag; “... observamos quão frequentemente a estética do silêncio aparece lado a lado com uma dificilmente controlada repulsa do vazio.”
“Muitas pessoas podem dizer muitas coisas acerca do silêncio,” diz Ikeda. “Haverá milhares de teorias acerca do silêncio - teoréticas, filosóficas, científicas. É uma questão muito difícil. Mas uma coisa eu lembro. Desejo começar tudo do silêncio. Claro, comecei a fazer música como DJ, mais como uma cultura de estrada, e aprendi muito caecrca da arte contemporânea, música, arquitectura e filosofia. Então encontrei a palavra, silêncio. Ainda estou sempre a pensar no silêncio, todo o tempo. Isto é fundamental e muito importante para mim. Posso falar do silêncio como metáfora e silêncio real, sem som. Digamos que é por isso que eu faço arte, para encontrar respostas. É muito filosófico e claro que está ligado com o pensamento Zen mais profundo.Pode ser perigoso dizer isto mas é apenas um estado da tua mente. Não é psicologia, é muito difícil.”
A referência ao Zen é surpreendente, pois a maioria dos novos músicos Japoneses prefere evitar o assunto. “Eu também era assim,” diz, “então eu compreendi. Eles tinham tanto medo que lhes perguntassem sobre isso, porque o Zen é tão profundo e inexplicável. É como a música: Zen é Zen, logo é impossível de discutir. É um cliché, e também no Ocidente é objecto de moda. Sempre sofri muito, especialmente em França. Muitos intelectuais perguntavam-me apenas acerca do Zen. Eu não sou um mestre Zen, e eles entrevistavam-me como se eu fosse Japonês e só depois como Ryoji. Houve tantos casos desses, até que eu desliguei. É tão superficial.”
Ideias de controlo (perdido), silêncio e o vazio estão embebidas no último CD. Um dos mais belos e refinados de todas as suas gravações, dataplex é também a exposição mais clara da sua fascinação crescente com a matemática. Em particular, a última faixa, a estranhamente irritante “data.adaplex”, contém dados que nem todos os leitores de CD conseguem ler ou tocar. A música está lá, apesar de não estar lá.
“Honestamente, foi um acidente,” diz. “Há uma muito específica forma de onda e por isso o estúdio de masterização não conseguiu lidar com ela, mas o engenheiro não tinha experiência acerca disso e garantiu-me que tudo estava ok. Então a fita master foi enviada para a fábrica. Ninguém tinha nenhuma dúvida acerca isso mas então houve verficou-se que havia um erro de leitura em alguns leitores de CD. tentámos descobrir a razão. a Philips e a Sony inventaram o Compact Disc - eles investigaram tudo, mas não encontraram nada, por isso decidimos abandonar a questão. Pensei que era um conceito muito atractivo - apenas dados. Foi realmente uma estranha forma de onda que usei. Editei a taxa de amostragem de 44.1khz como 441000 quadros. Tirei alguns quadros, por acidente, e então houve muitas manipulações e o laser não conseguiu ler tudo apropriadamente. Em leitores de CD profissionais tudo funcionou bem mas em leitores de CDs em carros ou em leitores caseiros normais existe um buffer para onde são lidos os dados em avanço. Talvez este buffer tenha causado o erro. A composição era muito matemática, e a última faixa foi composta através da matemática.
Uma vez que falamos neste assunto, ele fala subrepticiamente em Bach, depois em Merzbow. “Gosto do fenómeno da invisibilidade no som,” diz. “Dados que tu podes ver como resultado num monitor de computador, mas o conceito de dado é tão abstracto que não podes tocar-lhe. Este tema é muito excitante para mim. Tu não consegues ouvir, apenas sentes. Ou nem sequer sentes. É como uma coisa do subconsciente, das tuas células. Também, num certo sentido, o silêncio e o ruído branco são, por vexzes, a mesma coisa para mim. Máxima aleatoridade da frequência, densidade, pinta tudo de preto e o silêncio vazio e branco.”
dataplex foi recentemente editado na Raster-Noton; Ikeda actuará na Tate Modern, Londres, em 29 de Maio.
link útil: http://differentwaters.blogspot.com/2006/10/brinkmann-and-ikeda.html
Problemas com o link ? mailto: mig.pand@netc.pt


















_Bubok.jpg)