Eliane Radigue

Eliane Radigue nasceu em 1932 e cresceu no coração de Paris, onde estudou harpa e composição, no Conservatório, antes de um encontro casual com a música de Pierre Schaeffer a ter conduzido ao mundo da música concreta, trabalhando como assistente no estúdio d’Essai, de Schaeffer, em 1957. O seu casamento com o artista Arman levou-a até Nice e, no início da década de 60, a Nova Iorque, onde o casal se juntou a uma comunidade de artistas e compositores que incluía Marcel Duchamp e John Cage.
De regresso a Paris no fim da década, Radigue tornou-se assistente de Pierre Henry, no seu estúdio Apsome, e começou a trabalhar nas suas próprias “proposições sonoras”, instalações em galerias usando feedback em loop. O surgimento do sintetizador permitiu-lhe cunhar o seu estilo distinto, de texturas lentamente envolventes, com a precisão com que sonhou. O ARP tornou-se o seu instrumento essencial numa série de trabalhos de maior fôlego, começando com Psi 847, de 1973. O Budismo Tibetano, ao qual se converteu em 1975, foi uma constante inspiração, principalmente em Songs of Milarepa (1984), Jetsun Mila (1986), e Trilogie de La Mort (1988-93).
Mesmo sabendo que Radigue descreve L’Ile Re-Sonante como “provavelmente a minha última peça de música electrónica”, ela está longe de ter arrumado as botas desde a sua publicação em 2000, produzindo trabalhos para o baixista/laptopper Kasper T Topelitz – Elemental II, uma versão da qual foi também tocada por Antye Greie, Kaffe Matthews e Ryoko Akama, aka The Lappetites – e mais recentemente uma série de três trabalhos acústicos, Naldjorlak I-III, escritos especialemente para o violoncelista Charles Curtis e os clarinetistas Carol Robinson e Bruno Martinez.
A Jukebox teve lugar na casa de Radigue, em Paris.
Julette Gréco
“Il N’y A Plus D’Apr’es”
From Juliette Gréco Master Série (PolyGram) 1993, rec. 1960
É Gréco. Inimitável. É a minha geração! Logo após a guerra, quando estávamos a descobrir em França o jazz. Eu costumava dançar ao som do jazz de New Orleans, Louis Armstrong. Não nas caves de Saint-Germain-des-Prés – sabe, os meus pais eram muito restritivos e nunca me deixavam sair à noite – mas durante a tarde no Lorientais na Rua dês Carmes. Todas as Terças-Feiras costumava ir lá para ouvir [o clarinetista de kazz] Claude Luter. Foi há tanto tempo! Mas as minhas primeiras experiências musicais foram as matinées de sábado no Théâtre du Châtelet. Um tio-avô deu-me algum dinheiro e eu gastei-o no bilhete para toda uma época. O meu pai foi comigo. Nunca havia lá muita gente, as baias estavam quase sempre meio vazias e eu ficava num lugar lá atrás, mesmo ao pé da varanda com montes de lugares vazios à minha volta. Sentia-me como se estivesse sozinha, totalmente imersa na música. Ouvi concertos extraordinários… [o violinista] Jacques Thibaud, o novo [pianista] Aldo Cicciolini. Tinha cerca de 11 ou 12 anos nessa altura.
Havia música lá em casa?
Havia o rádio, claro, e eu aprendi como filtrar os sons que queria. O primeiro instrumento que estudei foi o piano. Tinha uma professora maravilhosa, madame Roger, que gostava muito de mim e me dava tudo. Mais tarde, quando entrei para o Conservatório, havia muitas pessoas na classe de piano, e eu tinha problemas com os meus dedos, que eram demasiado pequenos, e por isso virei-me então para a harpa. E adorei. Não havia propriamente um reportório para a harpa, por isso eu tocava arranjos de outras peças. Comecei a compor por essa altura, mas era claro que eu não conseguia escrever tão bem como os compositores clássicos que eu tanto adorava, e por isso escrevi música de 12-tons. Segui todas as regras, vertical e horizontal, etc., mas tentei evitar a dissonância o mais possível. Descobri recentemente que La Monte [Young] conseguiu escrever uma peça serial sem quase nenhuma dissonância. Tiro-lhe o chapéu! Eu nunca o consegui.
Anton Webern
Concerto Op 24
From Complete Works (Sony Classical) 1934, rec. 1991
É a Cathy Berberian?
Não há voz nesta peça.
Mas ela canta! É claramente 12-tons. [Ouve] É engraçado, mas eu sempre estive mais interessada no exercício intelectual do serialismo do que nos seus resultados sonoros. A música propriamente dita nunca me fascinou. Fui aos primeiros concertos Domaine Musical com Boulez, mas nunca senti o mesmo sentido de admiração que costumava sentir no Théâtre du Châtelet quando era mais nova. Nunca gostei realmente de ouvir peças como Wozzeck e Lulu [de Berg], mas dava-me prazer lê-las. Era a facilidade de escrita que me fascinava. Dos três membros da Segunda Escola Vienense, era Webern que me interessava mais. É Webern?
Sim, o Concerto Op 24.
Aqui vamos nós. Eu nunca fui muito apreciadora.
Há algum vestígio do serialismo na sua música recente?
Oh não. Eu não mantive nada desse período. Escrever música serial foi como praticar um jogo intelectual. Da mesma forma que fazer umas palavras cruzadas ou um Sudoku hoje em dia.
Pierre Schaeffer
Étude Aux Allures
From Various: Archives GRM (INA/GRM) 2004, rec. 1958
[De imediato] Ah, o meu primeiro amor, Pierre Schaeffer. Que estudo é este?
Étude Aux Allures
Este foi o golpe de asa da minha vida musical. O início dos anos 50. O Pierre Schaeffer tinha acabado de fundar o Studio D’Essai na rua da l’Université, e costumava apresentar um programa de rádio durante as manhãs, no qual passava peças como esta. Eu apanhei-o um dia por acaso, e pela primeira vez desde os meus dias do Châtelet fiquei colada à cadeira. Foi como se a história dos 12 tons da escala cromática, a nossa herança cultural, tivesse terminado com a Segunda Escola de Viena, e fosse impossível ir mais longe, ou fazer melhor – mas aqui estava todo um novo campo para explorar, expressivo, rico, quase infinito nas suas possibilidades. Eu caí nele como o Obélix caiu no pote de cozinhar. Abriu-me uma série de portas . Descobri Cage, os Futuristas Italianos, Russolo, toda a ideia do questionar – eu prefiro ‘questionar’ a ‘pesquisar’ – um modo de te expressares com sons que também se respeitam a eles próprios. E não creio que alguma vez tenha abandonado essa pergunta.
Como se encontrou e se colou ao Pierre Schaeffer?
Bem, por vezes o acaso organiza as coisas muito bem. Em 1954, penso que foi, calhou estar na mesa de uma conferência dada pelo autor Lanza Del Vasto – eu estava na minha fase hindu, espiritualidade, e ele tinha escrito um livro chamado A Peregrinação às Raízes, que era uma introdução ao pensamento de pessoas como Sri Aurobindo – e quem vejo eu na mesa se não o senhor Pierre Schaeffer. Encontrei uma amiga que já o conhecia, e ela disse, gostarias que te apresentasse a ele? E eu disse que sim! Na altura, muitos dos músicos que haviam passado pelo Studio d’Essai diziam que não havia futuro para a música concreta, por isso eu pensei que ele gostaria de ter uma jovem mulher entusiasta debaixo de asa e mostrar-me o estúdio. Por isso fui até lá e encontrei-me com toda a gente, Pierre Henry, Abraham Moles, como o seu famoso ‘tijolo de percepcionador’, e passei horas e horas a cortar fita magnética, o que adorei. Conseguia fazê-lo dias inteiros. Não estava na realidade a fazer nada meu, mas absorvia tudo à minha volta, aprendendo as técnicas que depois usei nos 40 anos seguintes da minha vida. Estava a escutar.
Os primeiros cursos que ele organizou foram em 1957, tanto quanto me lembro, e eu participei, encontrando aí a primeira geração de pioneiros, Luc Ferrari, François-Bernard Mâche e Béatrice Ferreira, numa sala de aula de uma luz opalina, uma daquelas lâmpadas que a minha avó tinha em casa. A ideia era diferenciar todos os diferentes tipos de som que ela conseguia produzir de acordo com o material que usavas para percutir. Isso alertou-me para um tipo de escuta extremamente subtil, a distinguir os diferentes tipos de ataque. Quando estudas tão intensamente como daquela maneira, isso fica contigo para sempre. Aprendes a usar o teu ouvido como filtro, e a descobrir os sons à tua volta, os sons dos aviões, os sons de saltos altos na rua, aprendendo a reconhecer se eles caminham em tarmac ou em pedra ou noutra coisa qualquer.
Veja, aqui estão os meus apontamentos dessas aulas. Veja como são classificados os sons, de acordo com a estrutura (‘choque’, ‘percussivo’, ‘explosivo’, progressivo’...); tipo (‘vibratório’, ‘esfregado’, ‘pulsado’, ‘ameado’, ‘oscilatório’, ‘cíclico’...). Havia ‘sons puros’, ‘sons finos’, ‘sons gordos’, ‘sons flautados’, ‘sons brancos’... como poderias estabelecer um solfejo [do – re – mi] a partir dali? Isso foi o que o Schaffer passou a vida a tentar fazer. Ele era obcecado pela ideia da escrita, de encontrar uma maneira de notar a música que, por definição, não pode ser notada.
Deixe-me ler-lhe o que ele escreveu na minha cópia do [seu livro de 1966] Traité Des Objects Musicaux: ‘Era uma vez uns meninos que descobriram a mesma concha. Alguns guardaram-na, alguns transformaram-na, outros abandonaram-na. O objecto tornou-se enorme, terrível, insaciável, sem sentido, desesperado, venenoso. Mas para uma inocente rapariga loura, a concha no ouvido, inexplicavelmente, e apesar de tudo, seguiu o tranquilizador e respeitável som do sangue. Para Eliane, para sempre perdida e encontrada. Abril de 1968.’
John Cage
Music For Marcel Duchamp
From John Cage Music For Keyboard 1935-1948 (New World) 1947, rec 2007
Reconheço, mas não consigo lembrar-me de quem é.
A resposta está a cerca de 60 centímetros do seu cotovelo...
[Repara numa cópia de um livro de Marcel Duchamp na mesa de café em frente] Duchamp?
Bem, é a Music For Marcel Duchamp, de John Cage.
Eu conheci o John Cage quando vivíamos em Nova Iorque no início dos anos 60, esse período mágico em que todas as noites se passava algo de maravilhoso. Lembro-me dele a tocar as suas Sonatas And Interludes [For Prepared Pian]. Arman e eu fomos vê-lo várias vezes ao seu apartamento – que parecia uma floresta tropical com todas aquelas árvores e plantas – mas sempre mantive uma distância respeitável. Suponho que ele me impressionava demasiado. A única altura em que mantivemos uma relação mais familiar foi da última vez que o vi, numa recepção depois de concerto baseado na sua música, no Amphithéâtre de l’Opéra-Bastille. Ele disse, posso pedir-lhe um favor? Eu não penso ficar muito tempo... quando eu lhe fizer um sinal é capaz de me tirar daqui? [Risos]
Você conhecia Duchamp também.
Sim, eu e o Arman éramos muito chegados a Marcel e à sua mulher, Teeny, e convidámo-los para ficar connosco em Cadaqués por alguns dias. Eu joguei xadrez com ele, mas foi apenas uma única vez. Foi um jogo de duplas – Eu jogava com Marcel e o Arman com a Teeny. Eles eram todos bons jogadores, excepto eu. Não era permitido consultarmo-nos uns aos outros entre jogadas, por isso tive de tentar e seguir o ‘pensamento duchampiano’. Não era f´cil. Ele notou um dos seus jogos para mim, uma vez, para usar como base para uma composição.
Discutia música com ele?
Não que me lembre. Sabe, o Marcel era muito calado. Era extremamente charmoso, ouvia muito mas não falava muito. Ele não era um tagarela como eu. Uma das suas palavras preferidas era ‘claro’. Claro, claro. Ele costumava sentar-se a fumar o seu cigarro. Sabe como morreu? Tinha acabado de terminar um jogo de xadrez, acendeu um cigarro, disse à Teeny, ‘sinto-me um pouco cansado’, e paf! Que maneira extraordinária de partir.
Neu!
“Super 16”
From Neu!2 (Brain) 1973
Não faço a mínima ideia.
Eu escolhi esta faixa porque no mesmo álbum ela aparece mas tocada a diferentes velocidades. Você explorou a mesma ideia em Vice Versa, etc...
No final dos anos 60 o material sonoro em que estava interessada era o proveniente do acaso, do acidental. Andava a utilizar o feedback entre dois gravadores de fita, experimentando com a velocidade de rotação e ficando microfones em vasilhas meio cheias de água. Na altura chamei Às peças ‘proposições de som’, porque não me sentia bem a chamar-lhes ‘música’. Estava interessada na versatilidade do material sonoro, a sua elasticidade, a sua maleabilidade, a sua riqueza. Bastava mudares ligeiramente a posição de um potenciómetro e tudo mudava. Costumava criar loops de diferente comprimento de fita magnética, a que chamava música combinatória, combinando-os de modo a que eles giravam em paralelo, durante meses e sem sequer voltarem a tomar a posição de onde partiram. Criei várias peças desse tipo, para instalações em galerias. Costumávamos esconder os altifalantes atrás dos painéis das paredes da galeria, porque fixar um altifalante naquele espaço branco pareceria como se colocássemos uma tarântula num prato de natas.
Rhys Chatham
Guitar Trio Pt 2 (1978)
From Guitar Trio Is My Life! (Radium) 2008
Soa como aquele instrumento indiano, a tambura.
Não, eu conheço isto – é o meu amigo Rhys Chatham, não é?
Já não o vejo há muito tempo. Reconheço o tema, mas sabe, teria-o reconhecido muito mais rapidamente se o tivesse tocado no volume apropriado. Ele toca realmente alto. Conheci o Rhys em 1970 em NYU, onde ele partilhava o mesmo estúdio com a Laurie Spiegel. Ele tinha cerca de 20 anos, e eu era já uma velha dama, perto dos 40. Mas conhecemo-nos melhor depois do meu primeiro concerto no New York Cultural Center, em 6 de Abril de 1971. Ele chamou-me no fim e disse umas palavras muito amáveis.
Que peça foi tocada no concerto?
Foi Chryp-tus, em três versões. Essa foi a primeira peça que compus utilizando um sintetizador, em Buchla, mas usava o mesmo vocabulário que peças anteriores, batidas movendo-se através de tons estáveis. Trabalhar com o sintetizador deu-me mais controlo e permitiu-me concentrar-me numa pequena área do som, aquela em que eu estava interessada.
White Noise
“Firebrid”
From An Electric Storm (Island) 1969
O meu ouvido dirigiu-se de imediato para o sintetizador ao fundo. Quem são?
White Noise, com a participação de Delia Derbyshire, outra pioneira da música electrónica, que trabalhou na BBC Radiophonic Workshop. Pensa que os compositores dessa época exploraram todo o potencial daqueles velhos sintetizadores analógicos?
Não sei o que os outros compositores andavam a fazer. Quando comecei a trabalhar com o sintetizador estava por minha conta, sabe, e gostava do que estava a fazer, por isso não prestava muita atenção ao que os outros andavam a fazer. Penso que é por isso que a minha música saiu do modo que saiu. Eu não devorava a música das outras pessoas da mesma forma que fazia quando era mais nova. Hoje em dia comecei a ouvir mais de novo – tenho pilhas de discos como você, e faço questão de me sentar e ouvi-los atentamente. Mas na altura estava tão envolvida no que estava a fazer que me tornei completamente inculta. É provavelmente por isso que não lhe sei dizer que peça é esta. [ouvindo novamente] Sim, os sons de fundo atraem-me muito mais do que a canção à superfície. Eu passei tempos árduos associando o fundo e a superfície. A canção é bonita, a voz é suficientemente interessante, mas não é na verdade a minha chávena de chá.
Lamas of Samye Memorial Institute
“Rituel De La Tare Verte”
From Tibet: Sacrdd Ceremonies (Air Mail Music) 2004
[De imediato] Os meus amigos Tibetanos. Este é um som do mundo com o qual estou muito familiarizada.
Como é que a sua música mudou depois de ter descoberto o Budismo?
De uma forma curiosa, tenho de dizer que não mudou muito, porque, como já disse antes, eu cheguei até ao Budismo através da minha música, e não o contrário. Suponho que a única coisa que mudou foi eu querer prestar homenagem ao meu professor, escrevendo as canções Songs Of Milarepa e Jetsun Mila.
A religião é muito importante para si, claro, mas a música Tibetana influenciou-a de alguma maneira, como compositora?
O que é interessante é que esta música é muito mais parecida com o que eu estou a fazer agora com músicos reais do que com a música electrónica que fazia antes. É uma música cujos principais instrumentos são os rag-dun, aqueles trompetes enormes tocando continuamente, e isso fascina-me, claro. É como ruído de aeroplanos, podes explorá-lo e encontrar o que quiseres nele. Depois há os gyaling, aquela espécie de oboé, que é tocado por respiração circular – tenta fazer isso com um oboé! – e o damaru, que são bombos de dupla face, tocados com umas bolinhas presas a uma corda em cada lado. E tocas címbalo não batendo com eles um no outro mas deixando-os vibrar um de encontro ao outro. Há sempre uma procura de continuidade no som.
Sabes, a nossa música Ocidental, em que sou uma privilegiada pois foi com ela que cresci e estudei, é um achado magnífico. Não há sistema no planeta que tenha uma notação musical tão precisa como a nossa, tão rigorosa e precisa teoricamente – excepto que tem de fazer batota em algum ponto, em ordem a que a teoria funcione: esse é o pequeno achatamento que constitui a famosa vírgula Pitagoriana. Mas são essas pequenas diferenças que torna extremamente delicado e subtil que as coisas aconteçam, que uma pequena zona de indeterminação, de incerteza exista – felizmente! – em todas as leis da física, e não apenas na acústica. As outras grandes músicas do mundo – que não são notadas – todas possuem percussão, e a complexidade rítmica advém dessas pequenas diferenças entre os músicos. Há também a ideia de respiração. É música que usa sons sustenidos, que significam batidas, pulsações. É um vocabulário elementar ao fim e ao cabo, mas extremamente rico e subtil.
MIMEO
“Chair, track 2”
From Electric Chair + Table (Grob) 1998
É o Pierre Henry?
Não. Isto é de 1998. É Kaffe Matthews tocando no MIMEO, uma orquestra electrónica de improvisação, com 12 elementos.
É intrigante.
Como surgiram as Lappetites?
Através dos bons ofícios de um promotor de concertos que chegou ao pé de mim depois da estreia de Elemental II com Kasper Toeplitz e contou-me que se tinha encontrado com Kaffe Matthews em Barcelona e que ela queria fazer algo comigo. Bem, disse eu, por que não... naquele tipo de situação nunca gostamos de dizer taxativamente não, não é? Descobri depois que ela tinha dito exactamente a mesma coisa às outras raparigas! Então, o Gérard Pape estava a organizar um concerto no Les Voûtes, para o qual programou a peça com Kasper e The Lappetites, Kaffe, Antye [Greie] e Ryoko [Kuwajima]. Por isso, tínhamos de fazer qualquer coisa. Eu contei-lhes do Elemental II, e sugeri que fizéssemos uma versão dessa peça.
O álbum [Before The Libretto, Quecksilber 2005] foi outra coisa. Estou um pouco envergonhada na verdade, porque não tive nada a ver com ele na verdade. Foi maravilhoso trabalharmos juntas, estávamos muito felizes, mas eu não fazia ideia que iríamos começar um grupo destes. Que podia eu fazer? Elas estavam habituadas a trabalhar juntas à distância, através dos computadores, uma no Japão, uma em Inglaterra e Antye na sua pequena ilha no Báltico... Mas os computadores não são a minha especialidade. Apenas lhes dei alguns sons originais e disse-lhes que os poderiam usar como quisessem. Não fazia a mínima ideia do que iria sair dali, ou até se os iriam utilizar, sequer.
Michael J Schumacher
“Still”
From Room Pieces (XI) 2003
Oh, gosto... Não faço ideia do que é, mas realmente apetece-me ouvir! Tenho a certeza que é de alguém que eu conheço muito bem. Soa-me familiar, mas nunca ouvi. [Ouve] É o [violoncelista] Charles [Curtis]?
Sim, numa peça de Michael Schumacher.
Ah, eu conheci o Michael em Nova Iorque. E conheci o Charles aqui em Paris quando ele cá veio há alguns anos para tocar a peça de três horas para violino de La Monte Young [Just Charles & Cello In The Romantic Chord]. O Gérard [Pape] apresentou-nos, e disse ‘Vocês os dois deviam fazer algo em conjunto’. E, de novo, eu disse, ‘Bem, sim, sentir-me-ia muito honrada’. Acontece que o Charles já tinha dito ao Gérard que queria trabalhar comigo, e disse-o também a vários amigos meus, incluindo o Manu e [Shiin Records’] Stépnahe [Roux]. Por isso, depois de vários telefonemas em que realmente percebi que ele estava a falar a sério, começámos a aventura do Naldjorlak. Sempre tive uma ideia do que queria fazer, e por iso tudo o que tive de fazer foi explicar isso mesmo ao Charles. Ele compreendeu de imediato. Enviou-me um CD com sons que conseguia fazer no seu violoncelo, eu fiz uma pequena selecção, ele apareceu com o seu instrumento e começámos a trabalhar. Acabámos muito rapidamente, como resultado daquele acidente acústico, o tom do lobo. Cada instrumento tem o seu próprio tom do lobo, e se afinar o instrumento para esse tom, o tom move-se por ele próprio delicadamente para cima e para baixo.
Poderia ter escrito essa peça para mais alguém? E, se não, poderia alguém sem ser o Curtis tocá-la?
Não, tal como disse antes, não é uma peça para um instrumento, é uma peça para um instrumentista. A mesma coisa com o Naldjorlak II e III. Charles, Bruno [Martinez] e Carol [Robinson] são as únicas pessoas que poderiam tocá-las, e as únicas pessoas que conseguem transmiti-las aos outros. É uma tradição oral. Recebi chamadas de pessoas perguntando se havia uma pauta, e claro que não havia. E agora já não é a altura de ser eu a transmitir a peça, mas sim eles. Por um momento eu cheguei a pensar que eles queriam ficar com ela só para eles.
Qual é o seu próximo projecto?
O Gérard Pape está a trabalhar com um grupo de oito pessoas com as quais é suposto eu encontrar-me dentro de aproximadamente uma semana. Eu desejo um projecto que seja mais aberto, não como o Elemental mas também não muito longe. Pediram-me recentemente para escrever um artigo [“The Mysterious Power of the Infinitesimal”, no Leonard Music Journal 19, 2009] acerca de uma coisa que eu descobri nos anos 70 no Natural History Museum de Los Angeles. Era um gráfico, da largura de toda a parede, mostrando todos os comprimentos de onda do universo, do maior ao menor. E havia uma pequena e estreita zona no meio da qual o nosso ouvido consegue transformar em sons os comprimentos de onda dessa minúscula faixa. É essa a imagem básica da peça. A palavra que eu tinha em mente em inglês era ‘wave’. Não é necessariamente o título definitivo, mas preciso de algo que transmita a ideia da peça. Tenho outras imagens em mente, como a grande onda de Hokusai, e as dunas de areia petrificada no Utah. Preciso de imagens para estimular os músicos, e a partir das imagens aprendemos a trabalhar com sons. Então, a ideia é ondas. É a primeira vez que estou a falar disto. É uma caixa para si.
Tem planos para voltar a trabalhar com o ARP? Constato que já não está aqui.
Não, penso que L’Île Re-sonante é, provavelmente, a minha última peça de música electrónica. O meu ARP e todas as minhas consolas estão na cave da casa de Stéphane. Eu posso ainda fazer sons com ele, mas apenas por razões físicas, não consigo já sentar-me em frente da máquina, durante horas, como costumava fazer. Da última vez que tentei, não consegui depois pôr-me em pé, e acabei por ter de ser operada às costas! E trabalhar com Charles, Bruno e Carol foi tão intenso, tão feliz! Este é o período mais belo da minha vida. Não quero voltar atrás, àquele árido e solitário trabalho, como fiz durante 40 anos.
LINKS

Biogenesis (1996)
geelriandre & arthesis (2003)
Kyema, Intermediate States (1992)
Trilogie de la Mort - Koume
Trilogie de la Mort - Kailasha
Trilogie de la Mort – Kyema
CLIPS
Eliane Radigue trailer from Anaïs Prosaïc on Vimeo.
A Portrait of Eliane Radigue (2009) from Maxime Guitton on Vimeo.
Trailer " Fathers" - The Lappetites- from whiteemotion on Vimeo.














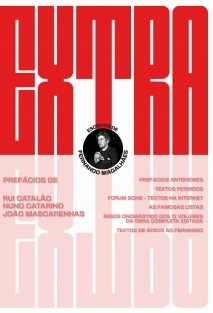


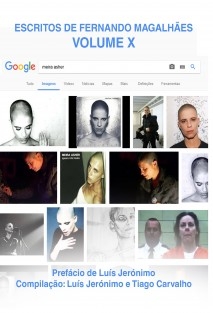


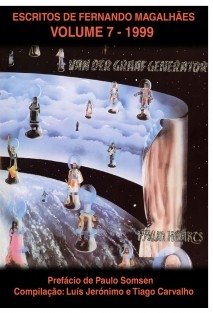







_Bubok.jpg)



























