Música & Som
Nº 94
Agosto de 1984
Publicação Mensal
Esc. 150$00
Director: A. Duarte Ramos
Chefe de Redacção: Jaime Fernandes
Propriedade de: Diagrama - Centro de Estatística e Análise de Mercado, Lda.
Colaboradores:
Amílcar Fidélis, Ana Rocha, Carlos Marinho Falcão, Célia Pedroso, Fernando Matos, Fernando Peres Rodrigues, Hermínio Duarte-Ramos, João Gobern, José Guerreiro, José Tavares, Manuel José Portela, Manuela Paraíso, Nuno Infante do Carmo, Pedro Ferreira, Rui Monteiro,Trindade Santos.
Correspondentes:
França: José Oliveira
Inglaterra: Ray Bonici
Tiragem 16 000 exemplares
Porte Pago
56 páginas A4
capa de papel brilhante grosso a cores
interior com algumas páginas a cores (8 exteriores + 16 centrais com brilho) e outras a p/b, todas elas também com um papel com um certo brilho mas de pesagem menor que as referidas anterioremente entre parênteses.
A Vitória Das Novas Propostas Na Final Do Rock Rendez-Vous
por Amílcar Fidélis
Movimentou inicialmente mais de uma centena de bandas, seleccionando vinte e quatro delas que se apresentaram no palco ao longo de doze semanas. Dessas eliminatórias, apreciadas por um júri variável, apuraram-se seis bandas. Foram elas que, há poucas semanas atrás, discutiram entre si a Final do Concurso de Música Moderna do Rock Rendez-Vous. E os seus nomes de guerra são Mler Ife Dada, Culto da Ira, Croix Sainte, Dead Dream Factory, Banda do Sul e Magnetics.
Ao fim e ao cabo foram seis projectos, de validade e inovação variável, procurando vias de divulgação. E nesse aspecto, independentemente da classificação final e subjectiva, atribuída por um júri de dez elementos, qualquer das seis bandas presentes teve oportunidade para mostrar a suas propostas de trabalho - e foi essa, cremos nós, a perspectiva mais importante de todo o Concurso de Música Moderna e mais particularmente da sua final.
Daí que o resultado final das bandas tenha um significado bastante relativo: Mler Ife Dada, 87 pontos em 100 possíveis; Culto da Ira, 85; Croix Sainte, 82; Dead Dream Factory, 58; Banda do Sul, 44; e Magnetics, 21.
Os Mler Ife Dada terão agora direito a editar um «single» e o que virá depois ninguém sabe. Quanto aos outros grupos resta-lhes aguardar por uma editora que lhes abra a porta e, enquanto isso, aproveitarem para ganhar maior rodagem, quer em termos de execução quer em termos de composição.
Com condições de trabalho adequadas, estamos certos de que algumas destas bandas poderão ir bastante além nos caminhos da inovação e da qualidade.
As Bandas Em Apreciação Individual
Na sala repleta do Rendez-Vous, todos os presentes tiveram oportunidade de apreciar cada uma das bandas e fazer o seu juízo. Aqui se segue o nosso.
MLER IFE DADA: foi indubitavelmente o projecto mais ousado e original de todos os que apareceram neste Concurso.
Mais do que uma proposta puramente musical, o trabalho dos Dada é uma concepção de som e imagem. A música cria uma atmosfera adequada ao ambiente visual que a rodeia e vice-versa.
Alinhada num estilo minimalista e repetitivo, a música dos Dada vive de caixas-de-ritmo em repetição, estranhas guitarras em espirais e jogos indecifráveis de palavras. O efeito é hipnótico e ajusta-se como uma luva ao cenário mágico e sobrenatural que a rodeia: fosforescências verdes, azuis e laranja, em flores, peixinhos e barquinhos, resultando o palco da extraordinária «perfomance» num autêntico «happening» de luminosa florescência. O ambiente que dele resulta parece ter vindo directamente de um filme de ficção; é etéreo e irreal, num curioso misto de sensibilidade «naif» e atmosfera aquática.
Mler Ife Dada afirma-se pois como um interessante projecto de vanguarda dentro da moderna música ambiente e minimal e fazemos votos para que continue a receber o apoio que justifica.
CULTO DA IRA: longe de atingirem a originalidade dos Dada, os Culto da Ira envergam excelentes pistas sonoras, mais conotadas com algumas das melhores bandas do som do período «post-punk» britânico. Cantando em português e vestindo de negro, esta banda do Porto pareceu-nos ainda à procura de uma entidade própria. O som é moderno e atraente mas como frisámos falta-lhe ainda aquela tónica de personalização que decerto não estará longe de aparecer.
CROIX SAINTE: excursões psicadélicas e ambiências urbano-depressivas, onde se respira um certo misticismo e se denota uma grande dose de «feeling».
O vocalista André denuncia fantasmas e neuroses no seu canto angustiado e carismático enquanto o baterista Sampayo é o grande coração rítmico da banda. Senhores de uma personalidade marcada os Croix Sainte são outro dos bons projectos participantes no Rendez-Vous.
DEAD DREAM FACTORY: foram os grandes derrotados desta final, já que quanto a nós se cotaram como a mais fascinante banda deste Concurso.
Contando com uma vocalista extraordinária, as composições dos Factory mostraram a força e o ardor de hinos finais. «Candy House», «Whips» ou «The Stage», na sua magia e espontaneidade, são temas que invadem o espírito e nos arrepiam o corpo.
Psico, a vocalista, é sem favor uma das mais espectaculares cantoras do momento, enquanto na guitarra Athayde nos faz viver uma certa mística esquecida nos saudosos «sixties».
Dead Dream Factory são, de todas estas bandas da final do Rendez-Vous, aquela que se afigura com maiores potencialidades para atingir um padrão de trabalho ao nível daquilo que de melhor nos chega do Reino Unido.
BANDA DO SUL: se os apreciarmos exclusivamente sobre o aspecto da execução técnica e instrumental, então merecem uma nota bastante alta. Só que nisto da arte musical a imaginação e a criatividade são tanto ou mais importantes do que a técnica de execução.
Enfim, uma banda de bons músicos, nomeadamente o guitarrista e o teclista, mas que se dedica a uma sonoridade já vista dentro da linha do «rock de fusão» com alguns sinais de dançabilidade.
MAGNETICS: depois de uma presença agradável na última eliminatória, esta banda da Amadora teve uma actuação desastrosa na final.
Um visual redundante e de mau gosto veio juntar-se a interpretações falhas de espontaneidade, ao abraçarem um neo-romantismo de «feira»... Uma verdadeira decepção! - porque, verdade se diga, esta banda mostrou anteriormente algumas indicações que, se bem aproveitadas e inflectidas para um estilo mais sóbrio, poderão resultar num trabalho minimamente válido.
E quanto à final do Concurso de Música Moderna do Rock Rendez-Vous ficamos por aqui, acrescentando no entanto que a sua segunda edição se prevê já para Janeiro do próximo ano.
P.S.: A constituição do júri nesta final teve, para lá da nossa, as seguintes presenças: Ana Rocha, Rui Pego, António Sérgio, Ana Cristina, João Gobern, António Manuel Ribeiro, José Pedro, Manuel Cardoso (Frodo) e João Santos Lopes (Rock Rendez-Vous).
Entrevista Exclusiva
Thomas Dolby
«Atingir o Topo Mas Sem Me Conformar»
por Ray Bonici, correspondente em Inglaterra
Dentro de momentos, vamos transmitir uma entrevista com o autor / compositor /intérprete Thomas Dolby, um rigoroso exclusivo para «Música & Som», com realização de Ray Bonici, nosso correspondente em Inglaterra. Ao longo da peça, o jovem músico falar-nos-á de várias etapas da sua carreira e, nomeadamente, daquela que se relaciona com o seu novo álbum, «The Flat Earth», e também com a surpreendente popularidade de que, de um momento para o outro, passou a disfrutar nos Estados Unidos. Bom, tudo preparado? Então vamos a isto.
Ray Bonici - Para começarmos, gostaria que me falasses de uma eventual colaboração tua com Michael Jackson...
THOMAS DOLBY - Diverti-me à brava quando, numa altura em que eu estava no norte de Gales a tirar umas fotos para a capa do álbum, apareceu um artigo num jornal dizendo que eu tinha ido para lá apanhar ervas para a lama de Michael Jackson e que acabaria por ter que alugar uma para comer tudo aquilo. Não compreendo como é que isto foi soprado para a imprensa. Tudo aconteceu quando estive em Bruxelas. A pedido de Michael, eu encontrava-me a escrever material para eventual inclusão no álbum de The Jacksons. Um dia, o Michael telefonou-me e, por graça, disse-me que se andasse pelas bandas do Tibete lhe arranjasse uma erva - tasneira - que as lamas tanto apreciam. Enfim, era uma piada, um trocadilho com os lamas do Tibete e as lamas do Peru, como a que ele tem. Alguém apanhou a coisa e, pronto, não se falou doutra coisa: eu andava a apanhar ervas para a lama de Michael Jackson.
R.B. - Vocês são amigos? Trabalham em conjunto?
T.D. - Não, aconteceu somente que me pediram para escrever algumas canções para o álbum de The Jacksons, mas duvido que alguma vez elas venham a ver a luz do dia.
R.B. - Pelos vistos, continuas envolvido em várias coisas, umas aqui, outras ali...
T.D. - Sim. Este convite significa, no fim de contas, que consigo manter as minhas canções fora de certas «esferas de influência». Se eles me convidaram para escrever uma canção para o disco é porque eu sou Thomas Dolby. talvez até consiga escrever uma que seja melhor do que as de Rod Temperton. Não me sentei a escrever com The Jacksons em mente. Perguntei-lhes a razão do convite e disseram-me que foi por terem encontrado na minha música sons e ritmos intrigantes, nomeadamente pelo uso da bateria electrónica. Aliás, esta ideia até talvez só venha a ser aplicada no próximo álbum de Michael Jackson, a sair por volta de 1996, quando «Thriller» desaparecer das «charts». De qualquer modo, ele é um tipo que gosta de estar sempre a controlar tudo, a todo o momento, e, como já há algum tempo nada me diz, provavelmente esqueceu-se de mim.
R.B. - Agora, queria felicitar-te pelo teu sucesso nos Estados Unidos. Foi tudo à tua custa...
T.D. - Nem por isso. É uma das coisas estranhas que nos reserva a «vida de artista». Os States são vastos, o negócio dos discos é muito complicado e, até certo ponto, corrupto. Isto, embora eles falem em «marketing» agressivo em lugar de corrupção.
R.B. - De qualquer modo, dão-lhe um nome.
T.D. - Bom, mas eu não pretendo compreender o «business» musical americano, nem tão pouco porque é que um puto de Cleveland, num sábado à tarde, chega a uma discoteca e compra o meu disco, em vez de levar o dos Saga ou o dos Def Leppard. Sei, isso sim, que «She Blinded Me With Science» foi um bom trampolim comercial para relacionar as pessoas com o resto da minha música, que é mais séria. Realmente, «She Blinded Me With Science» foi um mero momento de frivolidade da minha parte, uma graça. Resultou nos Estados Unidos porque a passagem do vídeo na TV começou a ter muita importância e também porque a música britânica estava a ganhar pontos na América. Vai daí, agarraram o meu vídeo, passaram-no milhares de vezes e o disco tornou-se um êxito. Muita gente pegou, depois, no álbum e achou-o diferente. Para mim, e tendo em conta o que eu esperava atingir, foi um sucesso a 100 por cento.
R.B. - O teu nome tornou-se familiar entre o público norte-americano.
T.D. - Nem por isso.
R.B. - A tua última canção, Hyperactive», cose-se com as mesmas linhas...
T.D. - No tocante a palavras, é bem diferente de todas as outras. Tal já acontecera no primeiro álbum. O estilo que eu criei é extremista e muitas vezes «canibalisa» um outro estilo que ouço algures pois desse modo posso atingir um determinado ponto pretendido. Sempre foi assim. A única fórmula que tenho é não me repetir a mim próprio. Daí que, entre o primeiro e o segundo álbuns tivessem decorrido dois anos. Trabalho muito devagar e leva tempo até que me surja uma ideia suficientemente forte para que possa ser moldada numa canção.
«Hyperactive» é a canção mais acessível do disco, talvez porque eu a tivesse começado a idealizar como o «follow up» de «She Blinded Me With Science». À medida que mais me integrava no álbum, menos essa canção parecia pertencer-lhe. Tentava ser profunda e provou ser banal. O resto do álbum penso que é estranho, mas acessível. A ideia de ter um single, tal como habitualmente se entende o single extraído do álbum, revelou-se-me não apropriada. Por isso, pu-la de parte.
R.B. - Sempre vi em ti um perfeccionista. Deves ver-te grego para escrever e escolher canções...
T.D. Especialmente neste álbum. No anterior, «Golden Age of Wireless», em relação ao qual ainda estou muito afeiçoado, adoptei um critério mais flexível. Passei três ou quatro anos a trabalhar com bandas diferentes, quer em «full-time», em digressões ou em sessões de estúdio, e absorvi uma série de estilos musicais. Devido a esse «background», não tenho uma raiz musical especifica a que esteja ligado. Por um lado, não tenho, pois, restrições; mas, neste segundo álbum, tentei ser um tanto firme comigo próprio, não me permitindo gravar uma qualquer canção só por gravar. Tinha que haver, para cada uma, um certo objectivo, um motivo forte por detrás dela.
R.B. - A maior parte das canções foi escrita em Inglaterra, não foi?
T.D. - No estúdio. Desta feita, resolvi trabalhar com músicos. Embora no primeiro disco também participassem alguns músicos, tudo começava sempre com a «drum machine» ou coisa do género. Depois, chamava um guitarrista e deixava-o tocar até que estivesse Okey. (?) Neste estabelecemo-nos no estúdio e eu fiquei ao piano, nada de sintetizadores. Durante algum tempo, preocupámo-nos somente em fazer arranjos de canções. Por vezes, passavam dois e três dias sem que puséssemos os gravadores a trabalhar. Só quando nos soava muito bem, aí sim, começávamos a gravar. Consequentemente, fiz muito poucos «overdubs», exceptuando nas vozes. Em várias canções, eu estive somente no piano. Ainda pensei que acrescentaria mais coisas, teclados, mas quando me sentei a ouvir o trabalho, pensei: «Estas canções estão prontas». Não vale a pena põr sintetizadores. É por isso que os sints neste disco são tão pouco evidentes. Dá para dizer que, nesse aspecto, estive abaixo da média do que se fez em 1984.
R.B. - Podias agora falar de algumas das canções do disco...
T.D. - «Moonlight», por exemplo, contém a imagem forte de uma grande chuvada em plena floresta, e decidi incluir nela todos os sons desse mundo. Então, comecei com alguns grilos e o som de árvores a cairem. Essa foi a faixa rítmica. Depois, usei flautas e barulhos de insectos. «I Scare Myself» foi escrito por Dan Hicks, um dos meus heróis, quando era «teenager». Aliás, uma das poucas canções lentas dele. Num nível, é somente uma canção de amor - quando estás aqui, estou feliz, quando estás longe, fico amedrontado. Noutro plano, «I Scare Myself» parece referir-se à cabeça do compositor: «há coisas na minha mente que me amedrontam». Por vezes, sinto o mesmo. Então, pensei que devia transmitir a canção, a meu modo. Há outra canção no lado um, «Screen Kiss», que, à superfície, tem muito a ver com o verão californiano, as piscinas, a relva, etc. De facto, é acerca de uma rapariga que casa com um californiano. Ele pensa que vai fazê-la feliz, porque tem aquela grande casa, carros, campo de ténis e tudo o mais. Mas acaba por ouvi-la gritar durante a noite, fechada na casa de banho, com uma mão cheia de pílulas, hesitando entre tomá-las ou não, esperando que ele se lamente de a ter magoado, o que não acontece porque ele só vê a peça de teatro que está a escrever no momento. O engraçado é que esta canção vai ser tocada em Los Angeles, lado a lado com tantas outras que, À superfície, lhe parecem iguais. Muita gente ouvirá esta canção rodando nos seus descapotáveis, pelas praias, nas tardinhas de Verão e comê-la-á como a outra forragem a que está habituada; alguns, notarão que eu minei toda aquela situação, e agrada-me que isso aconteça.
R.B. - Estar a fazer ressaltar a argúcia deles.
T.D. - A minar.
R.B. - Sim, mas também tu foste muito influenciado pela América. De resto, era americana boa parte da música que gozavas no passado. Dan Hicks é americano.
T.D. - Há muitas coisas que quase me agradam mas acabam por me frustrar, e isso aplica-se em relação à América como até à Europa. Suponho que isso se torna claro nas canções. «White City», por exemplo, é uma canção de rock'n'roll, é muito «branca». Se há alguma coisa a que se possa chamar «música branca», esta é a mais «branca» do álbum. Curioso é que dificilmente encontro música do estilo que me agrade. Ora aqui está uma coisa que me frustra: deveria haver material desse género de que eu gostasse. Quase gosto de Def Leppard e Foreigner, mas, no fim de contas, sempre me desapontam.
R.B. - Deu-te gozo o que fizeste com os Foreigner?
T.D. - Sim, porque foi uma experiência bastante diferente. Quando me empenho nesse tipo de projectos, quero que eles sejam o mais diferentes possível daquilo que eu faço. Gostei desse e do trabalho com Malcolm McLaren, funcionou para mim como um ponto de partida.
R.B. - Trabalhaste com Malcolm McLaren?
T.D. - Sim, em «Duck Rock». Conheci-o depois de ter feito umas coisas com Trevor Horn.
R.B. - Que me dizes da tua canção sobre os dissidentes?
T.D. - Escrevi-a porque houve pressões veladas, após «She Blinded Me With Violence», no sentido de que o álbum tivesse canções que soassem desse mesmo modo. Teria sido a coisa mais fácil e mais confortável para eu fazer. A melhor maneira de assegurar um sucesso contínuo. Mas, depois de ter tomado o gosto desse síndroma, muito ao de leve, verifiquei que era um buraco sem fundo, um beco sem saída. Se tens um single que atinge o «top 5», e o seguinte apenas se fica pelo «top 50», todas as pessoas que contactam contigo, no dia a dia, mostram-se deprimidas. Os putos com quem falas sentem-se embaraçados e lamentam que o novo single não tivesse feito tão boa carreira, apesar de o preferirem em relação ao outro que foi um grande hit. Naturalmente eles presumem que foi um fiasco.
R.B. - Regido por números.
T.D. - Sim. Por outro lado, se o teu single chega ao número 100 e o seguinte ao 50, toda a gente abre garrafas de champanhe. Isto acontece a todos os níveis. Se o próximo álbum de Michael Jackson só vender 10 milhões de cópias, será um desastre. Dez milhões de álbuns para mim, e para quase toda a malta da música, seria pairar sobre a Lua. Esta nossa actividade proporciona uma vida instável, governada por números. É desesperante, nunca se consegue obter qualquer satisfação. Desde o princípio sabia que me podia pôr ao lado de toda essa gente. A minha ambição era atingir um certo nível de notoriedade, sem me conformar com as regras do mercado. E penso que o segundo álbum o conseguiu, de alguma forma. Havia uma espécie de romance nisso, tentei arranjar um paralelo com essa situação e surgiu «Dissidents», escritores dissidentes que são obrigados a ser foras-da-lei, heróis de culto que são espezinhados pelo sistema. Em seguida, fui pelo caminho que a minha mente indicou - panfletos, encontros clandestinos, senhas. Pensei que escapava pela fronteira, no meio da noite, que caía de desgraça relativamente ao governo. Foi todo um conjunto de imagens que surgiu. Mal decidi que «Dissidents» era alguma coisa que eu queria dizer, emergiram todos esses detalhes e também formas musicais. Há uma secção no meio do tema que soa como o remador do Volga. Não é coisa que conheça ou que esteja relacionado. Antes uma atmosfera.
R.B. - Pensas que as pessoas compreendem completamente as tuas canções?
T.D. - Eles não precisam de compreender as canções tal como eu tenho estado a falar delas. Aliás, quando gravo uma canção, não articulo o seu significado do modo como agora falo dele. Isto só acontece quando alguém me desperta com este tipo de perguntas. No momento, não estou ciente do que digo. A última coisa que quero fazer é gravar música que nada vale, a não ser que tu percebas e aceites um certo número de condições, o que provavelmente é verdade relativamente a uma série de pessoas com as quais sou comparado - Brian Eno e companhia. Não penso que isso esteja certo. Eu espero que a música inclua em si o suficiente para poder funcionar, a qualquer nível.
R.B. - Em tempos, falaste comigo, com grande desenvolvimento, acerca de um potpourri de assuntos que incluía a ciência, o desenho e a história. Podes moldá-los numa peça única e daí fazer uma canção. Será que esta ideia se vai manter no futuro?
T.D. - É difícil dizer o que vou encontrar na próxima esquina. É difícil prever qual a moda do próximo ano ou o filme que estoirará espectacularmente. Mas, na altura, algo surgirá subitamente. Um mês antes de gravar o álbum, eu tinha uma mão cheia de ideias, mas nenhuma canção escrita. Agora, depois do disco estar pronto, é difícil focar a minha mente. Não escrevi uma única canção desde que o elepê saiu e, dentro de uma ano, precisarei de dez. E, felizmente, elas serão melhores que estas.
R.B. - A história de Thomas Dolby, até ao momento, está marcada por um primeiro álbum que converteu algumas pessoas em Londres, estoirou nos Estados Unidos quando foi divulgado o vídeo e fez depois sentir os seus ecos na Grã-Bretanha. Muita gente está a virar-se a ti, atraído por canções que soam como tu realmente sentes. No entanto, já apontaste várias coisas com que não concordas no «showbiz», nomeadamente no americano. Entristece-te o facto de teres de passar por tudo isto para conseguires fazer transmitir a tua mensagem?
T.D. - Bom, também não me exponho tanto como isso.. Não tenho que me submeter de forma tão dolorosa às pressões. O verdadeiro conflito é comigo próprio e não com o «establishment». Sempre fiz as coisas à minha maneira, sabendo de antemão todos os riscos que iria correr. Não, isso que disseste não me entristece.
R.B. - Nunca estiveste sob pressão, do estilo de seres obrigado a fazer uma canção de determinado tipo.
T.D. - Não, sou um felizardo nesse aspecto. Tenho amigos que permitiram ser catalogados dentro de um determinado tipo e depois não tiveram meio de sair dele. Se não estiver lá o gozo pelo teu trabalho, pelo teu tipo de vida, então não há nada a fazer. Ou melhor, há a glória e riqueza máximas...
R.B. - És muito considerado nos States, agora?
T.D. - Quer dizer, não sou um Deus. Antes de conseguir por lá alguma coisa, comercialmente falando, tudo era tão difícil como apertar a mão ao presidente. Depois, é outra pose. Quando chegas à editora deves sacar umas amostras de discos, pedir uma chamada para o outro lado do Atlântico e mandar um piropo a uma secretária bonita. O manager deve aparecer com ar firme e berrar que o disco não está a ter suficiente divulgação radiofónica. Enfim, todo um guião que está completamente escrito. Mas, para mim, é muito difícil proceder assim. Nem sequer me ralo com isso o suficiente para o querer mudar.
R.B. - Dá-me ideia de que não estás confuso...
T.D. - Não, somente tento aceitar as coisas e ver o seu lado gozado. Houve alturas da minha vida em que durante dois, três meses, não conseguia divertir-me. Apenas pensava: «Para quê tudo isto? Qual é o objectivo disto tudo se não consigo divertir-me?». As pessoas podem ouvir «Hyperactive» e comprar o álbum. O resto das canções é diferente. Sinto que a personalidade dessa canção não está assim tão distante da das outras. O estilo é diferente. Se as pessoas estão desapontadas com o álbum porque não é como o single, espero que haja alguma meia-dúzia que descubra neste álbum qualquer coisa que sempre procurou e que nunca descobriu noutro. Talvez as pessoas que estão numa de música dos anos 60 e 70 e acham aborrecido a dos anos 80.
«Science» foi visto nalguns círculos como uma novidade «barata». todavia, outras pessoas ficaram intrigadas e foram atraídas pelo disco o suficiente para o ouvirem. Descobriram então todo um mundo que, de outro modo, não conheceriam. «Hyperactive» não será o single único a ser extraído do elepê. Talvez o seguinte desaponte muita gente, será bem diferente.
R.B. - Uma característica das tuas canções é o humor, mais evidente agora do que antes. Porquê, agora, esse destaque?
T.D. - Quase tudo aquilo que fiz teve humor à mistura. Pode ser humor negro, pode surgir sob a forma de ironia ou cinismo. No primeiro álbum, parte dele perdeu-se porque não estava suficientemente explícito. Agora, pu-lo mais em evidência. Provavelmente vai ser notado.
R.B. - Voltando à tua estadia nos States. Conheceste o Quincy Jones?
T.D. - Não. Conheci Michael Jackson, muito à pressa, e também Daryl Hall. Para mim, trabalhar com gente ultrafamosa é um desafio menor do que com tipos completamente desconhecidos. Pela mesma razão do que há pouco te disse acerca das «charts». Se participares num disco a solo do Maurice White e se ele não vender, toda a gente ficará desapontada e dirá que não é tão bom como o último dos Earth Wind and Fire.
R.B. - «Pertences» mais à Capitol ou à EMI?
T.D. - Eles não estão em posição de me ditar seja o que for; mas, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com eles. E não é bom para mim se não estiverem satisfeitos com esse trabalho. Se eu fizer um álbum de que eles gostam pessoalmente mas fiquem embaraçados de o colocarem numa estação de rádio importante, quer porque seja demasiado estranho ou demasiado auto-indulgente, dirão «Isto é um álbum com uma atmosfera fantástica e têm de ouvi-lo». Mas se somente forem dizer «Aqui está o último álbum do Thomas, não estamos muito seguros acerca dele», isto já é negativo. Eu preciso das estações de rádio para que as pessoas possam ouvir o disco. É importante que toda a equipa que me cerca esteja envolvida nele. Portanto, tem que haver um equilíbrio de relação. Até que eu não sou um tipo duro de aturar...
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição: . Weather Report na FIL, por José O. Fernandes + Feira das Indústrias, por Trindade Santos . Maneiras de Sentir a Música (2), por Carlos Marinho Falcão . Discos em Análise: .. The Danse Society - «Heaven Is Waiting» [Arista 0320597232], por Célia Pedroso .. Siouxsie And The Banshees - «Hyaena» [Wonderland 821 510-1], por Nuno Infante do Carmo .. Nena - «Nena» [Epic 25925], por Célia Pedroso .. Heróis do Mar - «O Rapto» [Philips 880 079-1}, por Carlos Marinho Falcão .. Echo & The Bunnymen - «Ocean Rain» [Korova 229 24-0388-1], por Carlos Marinho Falcão .. Malcolm McLaren - «Scratchin'» [Charisma 723205], por Ana Rocha

















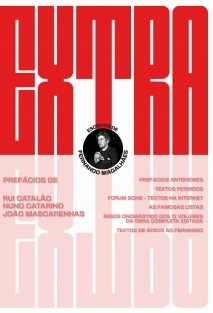


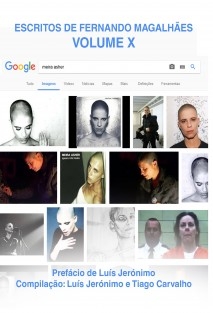


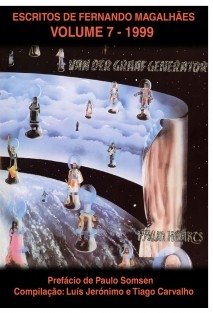







_Bubok.jpg)




























Sem comentários:
Enviar um comentário