Ao contrário dos meios digitais, a síntese analógica permite aos artistas transcenderem-se, transgredir, e até falhar de uma forma heróica.
Imagine a ‘retro-actividade’ musical contemporânea como uma espécie de uma gigantesca consola num sistema sintetizador analógico modular, com cabos a serem constantemente ligados e desligados entre géneros, ideologias, tecnologias, movimentos históricos.
A música electrónica académica pode ser remendada em Acid; a grande fuga da fusão dos anos 70 para a New Age pode ser puxada para fora e voltada a ligar na ficha da música concreta e a seguir em Noise. Tudo pode ser encaminhado através de arpegiadores para criar novos padrões estilísticos em espirais infindáveis.
Depois de, pelo menos, três décadas caracterizadas por um estreitamento gradual do intervalo entre o estudo científico do som atomizado e o acto de criar trabalhos sonoros – síntese granular, transformação espectral e por aí fora – o frisson modernista-utópico inerente ao acto de ligar a ficha do seu primeiro artefacto (patch) num módulo sintetizador analógico foi transformado no derradeiro gesto pós-moderno – conhecedor, esperto, auto-consciente, mesmo que pareça significar o contrário.
No seu livro de 2002 Analog Days: The Invention And Impact Of The Moog Synthsizer, Trevpr Pinch e Frank Trocco afirmam que a emergência, nos finais dos anos 60, do sistema modular Moog na visibilidade da cultura pop representou muito mais do que apenas uma mudança na paisagem musical, reclamando que foi “parte do aparato dos anos 60 para a transgressão, transcendência e transformação”.
Mas há pouco nos esforços iniciais feitos na esfera da pop pelos poucos que tiveram a sorte de ter acesso ao dispositivo, para sugerir qualquer paralelo com os movimentos sociais da época.
A faixa de Mick Jagger para a banda sonora do filme de Kenneth Anger de 1969 Invocation Of My Demon Brother, em que aquele utiliza o Moog, é charmosamente tentadora e exploratória, e o álbum de George Harrison Electronic Sound, do mesmo ano, com a sua refrescadoramente cândida e adequadamente infantil ilustração da capa, é essencialmente um documento das suas iniciações desajeitadas com o hardware. (Obviamente foi um tipo estranho de revolução aquela que tinha tipos como Jagger e Harrison como sua vanguarda, mas isso é um argumento para outra ocasião).
Contudo, é esta tradição de exploração amadora, em que os praticantes actuais do analógico, como Carlos Giffoni e Keith-Fullerton Whitman, estão mergulhados, muito por via o período Eno dos Roxy Music, Pere Ubu e o eixo dos industriais iniciais Cabaret Voltaire/Throbbing Gristle.
Para Whitman, passar do digital para o analógico é menos uma questão de mestria e mais acerca de como a manipulação do equipamento expõe o performer ao perigo e o potencial para o caos.. No seu site, ele descreve a sua prática corrente como a ultrapassagem das suas “frustrações com a performance de música de computador nas actuações ao vivo e o desejo de introduzir mais risco – e reciprocamente mais recompensa” na sua música.
Whitman não força o lado ‘som quente’ desses sintetizadores analógicos em benefício dos amadores do analógico – como os seus amigos mais próximos, o fetichistas do vinilo – desejam tão veementemente.
Em vez disso, utilizar um sistema modular tem um efeito profundo no tipo de música que produz. Ele tem falado do desafio de fazer música ‘audível’ e de como isso lhe impõe uma planificação, desenvolvendo novos artefactos para cada actuação ao vivo. Na realidade, o que mais impressiona em Whitman é a forma como, consistentemente, o sucesso dos seus trabalhos analógicos se tem revelado; no seu lado do LP do ano passado, que repartiu com Giffoni, parece que condensou toda a história do som sintetizado numa faixa de 15 minutos de virtuosismo óbvio. (Neste aspecto, ele está próximo do improvisador alemão Thomas Lehn, que tem utilizado um sintetizador EMS vintage como ferramenta de actuação ao vivo, desde os anos 90, o que lhe permite agir e reagir instantaneamente à dinâmica do grupo de improvisação.)
Argumentavelmente uma resposta à facilidade que se tornou experimentar com som no reino do software, a explosão na utilização de sistemas modulares de sintetizadores nos últimos dois anos parece ter a ver com o decretar de rituais de controlo e disciplina musicais e tecnológicas, quase uma afirmação puritana em face da decadência do portátil.
No caso de Whitman uma espécie de pensamento duplo está subjacente; ele saboreia a necessidade de atingir a auto-disciplina requerida para utilizar com sucesso o seu equipamento, a par com o enfrentar do risco de tudo se desfazer em pedaços, mas reconhece que a presença da falha é necessária para que o drama tenha alguma energia. “Se não falhar com alguma frequência, então é porque não estou a tentar arduamente ” declara: o sintetesista como um herói Beckettiano.
Uma das marcas de um sintetizador modular é que os caminhos convencionais do sinal sonoro podem ser facilmente disrompidos e aquele reencaminhado, e ainda o facto de componentes aparentemente incompatíveis poderem ser construídos para afectar um outro componente de forma profunda, e frequentemente imprevisível.
Para músicos da electrónica, como Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), o grupo de Ohio Emeralds, e os Caboladies , de Chicago, há um sentimento de que as suas histórias musicais secretas estão a ser deliberadamente conectados em todos os locais errados possíveis. Isto cria um ‘ruído’ cultural (no sentido que os resultados produzem uma interferência perturbadora na nossa noção de um continuum de compreensão entre a arte séria e lixo sem validade alguma) de intensidade inversa à sua natureza, que é música calma à superfície, devido ao seu recuo do Noise actual. Lopatin, por exemplo, fica feliz quando revela que o seu interesse pelo sintetizador vem da afeição do seu pai pelo grande álbum de fusão, Return To Forever, de Chick Corea, e muito do seu álbum de 2010, Returnal, apresenta muitas reminiscências do influente trabalho de Steve Hillage, indisputavelmente presciente mas inegavelmente doentio, no festim synth de 1979, Rainbow Dome Musick.
Parte do que estes músicos estão a fazer é a religar o artifício, os aspectos de baixa arte do analógico – particularmente o cativante mas, de algum modo, com padrões de sequenciador e arpegiador imbecis, dos Tangerine Dream de finais dos anos 70, que de imediato liga o ouvinte a um mundo de lasers e cabelos grandes.
O psicadelismo sensual do seu trabalho certamente tem o seu apelo, mas o recuo do Noise e a entrada num casulo New Age pode apenas assegurar um respeito temporário. Em breve aqueles circuitos começarão a sobreaquecer: talvez até já estejam demasiado quentes.
Aquele miasma Hypnagógico, transparente, que aquece, dentro de uma embalagem de fumo nostálgico, pode talvez ser apenas fumo a saltar de um fusível queimado.
LINK
LINK
LINK
















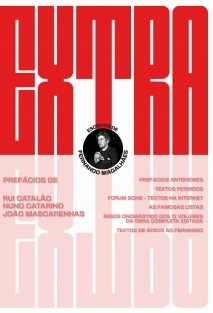


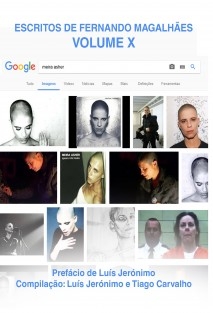


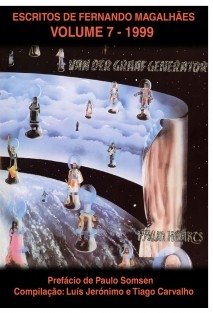







_Bubok.jpg)




























Sem comentários:
Enviar um comentário