Mondo Bizarre
Revista / Magazine
A4 - papel de jornal - a corres capa e contracapa
48 páginas
Publicação Trimestral
Distribuição Gratuita
Ano VI
Nº 23
Julho de 2005
ELECTRELANE
Um Foguetão Em Direcção À Lua

Elas são quatro. Quatro meninas de aspecto tímido, fãs do legado do krautrock, de teclados (especialmente do órgão Farfisa) e outros equipamentos com o selo vintage – elementos facilmente confirmados pela audição atenta dos seus discos. Os três discos, pois se ao disco de estreia “Rock It To The Moon” se sucedeu “The Power Out” (um disco acentuadamente pop, quanto mais não seja pelo relevo dado às vocalizações), agora é “Axes” que chegou para mais uma reviravolta na bússola estouvada das Electrelane. O tempo passado no estúdio de Steve Albini em Chicago foi o suficiente para limar algumas arestas, reunir forças e preparar o tal foguetão rock para a sua viagem – mais uma -, até à Lua. Antes de mais, os propulsores de “Axes” alimentam-se essencialmente e cada vez mais do krautrock, e colocam quase de parte qualquer tipo de combustão com a marca Stereolab – tudo o que sobe tem sempre que descer, e essa descida leva as Electrelane de volta aos territórios pisados no disco de estreia. E o mesmo vai para as vocalizações, que diminuíram e de que maneira, em detrimento da evidente exploração sónica que marca quase todas os treze temas deste “Axes”. Pegue-se por exemplo em “Bells” ou em “If Not Now, When?”, coloquem-nas lado a lado e percebam instantaneamente que a marca de água das Electrelane, ou o pão-nosso de cada dia, é a justaposição de estruturas inversamente dinâmicas, ou seja, há todo aquele preparo inicial meticuloso e fantasmagórico que, mais tarde ou mais cedo, desemboca num acelerar quase intuitivo do batimento do ritmo cardíaco e no aumento da percussão que arrastam consigo todo um remoinho de teclados (que soam mais cabaréticos que nunca) e alguma electricidade. E aí, nesse preciso momento, há qualquer coisa de perseguição típica da máfia – com os carros robustos e pretos e disparos certeiros – que está ainda por explicar. Se ainda restarem dúvidas quanto à fórmula, ouça-se “Eight Steps” e contemple-se a escuridão, e alguma teatralidade como se a luz ao fundo do túnel fosse a última esperança. E do outro lado desse mesmo túnel surge “Gone Darker”, ou pelo menos o som do comboio que a anuncia. Depois é ver esse mesmo som misturar-se com o som de um saxofone, o saxofone confundir-se com a percussão e perceber que o facto das Electrelane terem gravado o disco live (o dedo mágico de Steve Albini não pode deixar de ser referido mais uma vez naquilo que é a concretização de um desejo das próprias Electrelane) resultou na perfeição tendo em conta o tipo de composições que aqui se alicerçam. “Business Or Otherwise” é a associação livre de ideias de Freud em versão musical, metrónomo que orienta e conduz a entrada de cada elemento, mímica cacofónica como nunca antes se viu nas Electrelane. É uma espécie de pausa para repouso, intervalo para recompor forças das emoções fortes que os primeiros trinta minutos proporcionam. “Those Pockets Are People” é ver as Electrelane sobreporem camadas sobre camadas, resolverem conflitos internos enquanto fazem com que as guitarras rujam como se não houvesse amanhã. Até ao final do disco, há ainda espaço para o rasgo enérgico que é “The Partisan” e para intromissões de um banjo inesperado. Fosse “Axes” um livro, e “Suitcase” seria um posfácio perfeito, por concluir e encerrar nos seus quase dez minutos, aquilo que as Electrelane têm de melhor: os teclados, as acelerações quase matemáticas (elogio), as descargas de electricidade. O parar para recomeçar novamente. E com convidados: o Chicago A Cappella Choir, que por momentos faz lembrar “Atom Heart Mother” dos Pink Floyd, na peça central que dá nome ao disco – já em “Rock It To The Moon” se tinha feito sentir a presença dos britânicos. E não sendo um passo atrás, “Axes” funciona como uma espécie de actualização da primeira viagem à Lua, ou se quiserem, o aperfeiçoamento desejado do horizonte lunar. Para nosso bem.
André Tiago Gomes
AUTECHRE
Desbloqueados
Com uma das carreiras mais influentes na área da electrónica, os Autechre regressam este ano com o novo álbum “Untitled”, lançado mais uma vez na Warp, que relança o duo inglês para territórios mais acessíveis, rebuscando no seu próprio passado.
Já lá vão muitos anos desde que os então adolescentes Sean Booth e Rob Brown, apaixonados pelo hip-hop instrumental, começaram as primeiras gravações a partir de colagens de sons em cassetes. Na os mais tarde lançaram o primeiro álbum “Incunabula”, já na editora Warp, seguido de “Amber”, lançando as bases de uma carreira que buscou inspiração em coisas tão diferentes como o hip-hop, a música ambiental de Brian Eno e o industrial dos anos 80. Foi um ponto de partida ao qual os Autechre nunca mais iriam voltar, o início de uma viagem que estabeleceu de uma forma clara a idm (iniciais de inteligente dance music) como um dos mais importantes subgéneros da electrónica.
A inovação e importância dos Autechre encontrou especial eco em álbuns como “Tri Repetae”, um épico mecânico e industrial, com robots a enroscar parafusos nos androides do futuro, ou em discos como “EP7”, que é considerado um EP quando tem mais de 70 minutos de música. A par com o desenvolvimento do software e hardware, os Autechre deixaram-se influenciar pelo drum ‘n’ bass, criando novas batidas arrítmicas que deram origem a discos como “LP5”. Mas foi com “Confield” que a evolução deste duo atingiu o pico. Este é um disco que mergulha definitivamente no experimentalismo e em conceitos como a música generativa, gerando paixões acérrimas que foram da devoção absoluta a acusações daquelas músicas não conterem alma. A melodia quase que desaparece, e o lado ambiental que ainda existia anteriormente foi rasgado por sons metálicos que a alguns ouvidos pareciam quase aleatórios. Naturalmente, depois da compressão veio a descompressão, e o novo álbum “Untitled” marca o regresso dos Autechre a territórios mais familiares. Neste novo disco os Autechre voltam um pouco atrás, procurando apurar novamente o tipo de batida que caracterizava álbuns como “LP5”, agora com uma perspectiva diferente. De certa forma a procura incessante pela inovação foi domada, para dar lugar a motivos mais melódicos. Faixas como “Ipacial Section” ou “Sublimit” mostram uns Autechre invulgarmente descontraídos, a brincar um pouco com a sua própria obra e explorando novas potencialidades. “Untitled é um disco que mostra alguma felicidade, e que pela primeira vez mostra uns Autechre com vontade de ir um pouco ao encontro do seu público. Desbloqueados da necessidade permanente de trilhar novos caminhos, os Autechre estão francamente mais acessíveis e capazes de gerir, pelo menos por agora, o que conseguiram fazer no passado. E voltam a mostrar que as emoções nunca deixaram de estar presentes na sua música, simplesmente elas estarão mais evidentes em discos como o recente “Untitled”.
CAL
César A. Laia
LOOSERS
Uma Certa Lisboa Que Lateja Lá No Fundo
Os Loosers andam a provocar a cidade de Lisboa com a mesma arte de perfil selvático e bas-fond que noutros tempos terá pertencido a grupos como os Mão Morta ou os Pop Dell’Arte (o cabecilha dos Loosers, Tiago Miranda, chegou a fazer parte dos últimos, por sinal). Um monstro ressurge para perturbar o sossego instalado e os Loosers exibem-no no álbum de estreia “For All The Round Suns”, produzido por Vítor Rua, Pedro Alçada e pelo grupo.
Há uma Lisboa subterrânea que tem latejado com maior ou menor intensidade ao longo destas três últimas décadas de liberdade de costumes. Devemos estar numa das fases intensas. Neste três ou quatro últimos anos, essa estranha criatura chamada underground tem enviado à superfície sinais claros do seu resfolgar; sente-se o bafo quente da fera nos concertos de grupos como os Loosers, Dead Combo ou Vicious 5. E o odor acre da besta incensa de novo alguns antros da cidade, como o da galeria Zé dos Bois, onde os próprios Loosers aliás cresceram. Acrescente-se ainda que por todo o lado, não só por Lisboa, vão brotando novos projectos, alguns deles seguidores à letra da proposta do grupo. Perante isto, convenhamos, começam a ser sinais a mais para ainda se continuar a fazer de conta que nada está a acontecer.
O curto percurso dos Loosers tem sido curioso. Conduzido pelo guitarrista, vocalista e percussionista Tiago Miranda, ao qual se juntam o baixista Rui Dâmaso e o baterista Zé Miguel, o trio tem encontrado nos palcos o campo de acção ideal para expor as suas manobras de guerrilha sónica junto de uma cada vez maior legião de militantes. Entre estes, assenta a opinião de que cada concerto é diferente do anterior e nada tem a ver com o da semana ou do mês seguinte, uma opção errante que se estende, de alguma forma, aos EPs lançados até agora (ver caixa). No primeiro disco, “Six Songs EP”, assim como nos primeiros espectáculos, ouvia-se o que, aproximadamente, podemos designar por canção, com uma estrutura rítmica que muito fazia lembrar os Joy Division ou os Gang Of Four, mas, logo a seguir, as referências divergiriam noutros sentidos. Desceu-se às caves mais escuras de Nova Iorque anos 80, forradas com o ruído sincopado das guitarras e dos baixos como os que se ouvem no primeiro LP dos Sonic Youth ou com as arritmias da no wave dos Teenage Jesus & The Jerks ou dos DNA, elementos entretanto recuperados por outras pandilhas de lunáticos como a dos Liars, com os quais os Loosers, afinal de contas, partilham um notória afinidade estética. Numa ou noutra situação, as baterias pareceram também apontar para os minimalistas norte-americanos ou para os fazedores de ruído japoneses. Estas mutações transglobalistas têm ocorrido, convém sublinhar-se, no curto espaço de alguns meses ou até mesmo semanas. É o exercício quase académico a que se entrega o grupo de Tiago Miranda, ele próprio graduado nas mais diversas escolas do rock e da música urbana em geral, conforme evidencia a sua eclética e bizarra residência como DJ no Lux. Tal vagabundagem estética tem impedido, conforme já se dizia acima, que se possa levar qualquer tipo de expectativa para um concertos dos Loosers. Pode sair tudo ao contrário da ideia com que entramos na sala. É verdade que o grupo não poderá jurar fidelidade eterna ao exercício, mas a estratégia seguida tem permitido, até agora, manter ao largo a monotonia.
A monotonia também não marca presença em “For All The Round Suns”, o primeiro álbum, que agora sai em formato LP e limitado a 500 exemplares, numa edição da Ruby Red Records, o selo DIY criado pelo próprio grupo. Depois de uma abertura sombria, eminentemente gótica, de “Dakantala”, somos assaltados pela trepidante “The Craft”, onde quase parece que ouvimos Lee Ranaldo a cantar “Mole”, para, em seguida, sermos hipnotizados pelo longo mantra de um baixo entretido com escalas médio-orientais, em “Aboriginal Urine Down The Slope Of A Tight Vagina”. No lado B, o maior realce tem que ir para o tema que dá título ao disco, que serve de base a um interessante texto aparentemente construído com a técnica do cut up. “For All The Round Suns”, produzido por Vítor Rua, por Pedro Alçada e pelo próprio grupo, tem a força de conseguir capturar a fascinante selvajaria que os Loosers t~em espalhado pelas salas por onde têm passado. A criatura que se falava mais acima, que até pode ser a capa deste disco, está bem desperta.
Vítor Junqueira
KUBIK
Estilhaços De Uma Metamorfose

Kubik é Victor Afonso, o músico da Guarda que em 2001 marcou a sua estreia oficial com 2Oblique Musique”, um disco editado pela Zounds. “Oblique Musique” fundia vários universos que passavam pela música electrónica, pela colagem e pelo experimentalismo, e acabou por receber vários prémios e críticas entusiasmantes. A sua carreira musical prosseguiu, quer no que diz respeito ao trabalho desenvolvido através de alter-egos, quer nas constantes colaborações com o cinema (uma área onde se sente em casa), e a lista de projectos onde participou nunca mais tem fim. Um desses projectos consistiu na criação de uma espécie de banda sonora para a história da Guarda: “Guarda: A Memória Das Coisas” surgiu num CD integrado na revista Praça Velha. Mas agora Kubik está de volta com “Matamorphosia”, um disco que conta com as participações de Adolfo Luxúria Canibal (voz), Old Jerusalem (voz9, Américo Rodrigues (voz), César Prata (gaita de foles, electrónica e voz), Luís Andrade (guitarra, baixo, programações) e Alberto Rodrigues (saxofone alto). Victor Afonso, com uma disponibilidade impressionante, fala-nos do passado e traz-nos de volta ao seu presente e obviamente a este “Matamorphosia”.
- Como é que foi olhar para o final de 2001 e para “Oblique Musique” e partir para um novo disco? O que é que mudou do primeiro para este segundo disco?
Depois das óptimas críticas que o “Oblique Musique” recebeu aquando da sua edição, tornou-se, efectivamente, mais complicado “pensar” num novo trabalho. Há sempre aquele estigma de se saber se o álbum sucessor de um disco de estreia consegue igualar ou até superar o predecessor. Mas é óbvio que se trata de um estigma estimulante e motivador. Por isso demorei quatro anos a arquitectar o sucessor de “Oblique Musique”, porque tomei o meu tempo a considerar em que direcção haveria de fazer este disco. Não acredito que tenha havido assim tantas mudanças entre um disco e outro, antes assumo que houve uma evolução significativa na minha forma de criação musical: desenvolvi ideias que no primeiro eram meramente esboços, melhorei a produção e aprofundei a minúcia de cada som, de cada montagem e manipulação sonoras, abri portas a novas colaborações, redobrei o carácter surreal e aparentemente caótico da minha sonoridade, não deixando quaisquer coordenadas de orientação ao ouvinte (e por isso tentando surpreendê-lo a cada momento, ainda que não de forma gratuita). “Metamorphosia” acaba por ser um disco bem mais elaborado e, quiçá, mais arriscado. É um trabalho de um alquimista dos sons, que os trabalha como se tratassem de peças de puzzle ou de lego com vista à construção de algo original e intrépido.
- Quanto tempo demorou a concepção deste “Metamorphosia”?
A partir do momento em que decidi avançar para este novo álbum decorreram dois anos. Foi um processo algo longo e demorado, sobretudo para uma pessoa pouco paciente como eu. A demora deveu-se também ao facto de ter tido um maior número de colaborações (Adolfo Luxúria Canibal, Old Jerusalem, Luís Andrade,…), o que acarreta sempre uma demora no processo de criação. Basta dizer que os temas em que participam alguns dos músicos convidados demoraram um ano a serem concluídos.
- Como foi lidar com a habitual pressão e a problemática cada vez mais presente do segundo disco?
Pressão nunca senti muita.Aliás, nem concebo que um músico como eu, independente e alheio à lógica de mercado da indústria discográfica e da comunicação social, sinta alguma vez pressão exterior pela edição de um segundo trabalho. Se alguma pressão senti, entenda-se, foi de índole interior, no que ao processo criativo diz respeito. Com o primeiro álbum não tinha que provar nada, houve uma maior libertação e sentido de aventura no momento de editar o disco. Com este segundo disco, as coisas passaram-se de modo distinto. As comparações serão inevitáveis entre os dois álbuns e o sentido de responsibilização para mim é, quer queira quer não, de maior envergadura. Mas isso é algo perfeitamente normal e pacífico.
- “Matamorphosia” surge dividido em dois espaços abstractos designados por A e B. Em que consiste propriamente a divisão do disco?
Numa perspectiva eminentemente saudosista, representa ao mesmo tempo um sereno sentido nostálgico pela divisão dos discos de vinil e cassetes, e também por um assumido carácter conceptual que existe no “Metamorphosia”. Isto é, há claramente esse sentido abstracto de divisão de temas que representa, no fundo, uma estrutura própria do disco, numa divisão quase matemática ou geométrica: o lado A tem 7 temas, o lado B tem outros 7 temas. E há um princípio, meio e fim no disco com três falsos “intros”. Isto tudo fará mais sentido quando se ouvir o disco, dado que há uma lógica estrutural interna com base nesta divisão.
- Além disso optou por incluir em todos os temas, assim como uma maior utilização de instrumentos reais. Porquê? “Metamorphosia” constitui uma aproximação ao formato canção?
Decididamente, o formato canção não é algo que eu preze muito. Há, nos meus discos, músicas que obedecem a uma estrutura própria (nem que seja uma estrutura ilógica!9, mas nunca se submetem àquele formato rígido de canção standard, com princípio, meio e fim e, - oh heresia! – com refrão. O tema mais próximo desse formato é a remistura que fiz para um tema dos Bypass, mas mesmo aí subverti, deliberadamente, o sentido dinâmico e estrutural desse mesmo formato. Interessa-me muito mais o processo criativo inerente à desestruturação, à fragmentação estética, ao estilhaçar de fronteiras, de limites estilísticos. E o facto de ter utilizado em “Metamorphosia” mais instrumentos ditos “reais” e mais vozes, não significa, tacitamente, que tenha recorrido ao formato de canção tradicional. Longe disso…
- Este novo disco conta com mas participações de Adolfo Luxúria Canibal (voz), Old Jerusalem (voz9, Américo Rodrigues (voz9, César Prata (gaita de foles, electrónica e voz), Luís Andrade (guitarra, baixo, programações) e Alberto Rodrigues (saxofone alto). Tendo em conta a diversidade dos músicos e das suas áreas de acção, pode-se dizer que “Metamorphosia” percorre vários caminhos dentro do mesmo percurso?
É uma boa definição. Na capa do disco vem impressa uma afirmação de um compositor italiano do início do século (Ferruccio Busonni) que resume na perfeição a ideia do projecto Kubik – “a música nasceu livre, e o seu destino é ganhar essa liberdade”. Ou seja, partilho muito dessa ideia de que a arte deve manifestar-se livremente, rompendo fronteiras, padrões estandardizados, numa via de busca incessante de novas formas de expressão. A história da arte prova que os movimentos artísticos – da música ao cinema ou à literatura – mais ricos e fracturantes foram aqueles que romperam esses padrões e revelaram inéditas formas de criação – surrealismo, dadaísmo, vanguarda soviética, free-jazz, electrónica experimental, Fluxus, etc. O meu trabalho musical é, por isso, fundamentalmente “livre”, espartilha-se numa espécie de bricolage electrónica multi-tentacular, não revelando quaisquer compromissos de ordem estética com este ou aquele estilo ou tendência. Por conseguinte, os músicos colaboradores, todos oriundos de universos bem distintos entre si, acabaram por me ajudar a trilhar essa pesquisa de novas formas de experimentação, que é o que mais me interessa.
- Acaba por ser curiosa a participação de Francisco Silva (Old Jerusalem) em “Metamorphosia”, visto serem dois projectos aparentemente tão distintos…
No tal sentido de procura de novas formas de expressão libertária de que falei anteriormente, o convite ao Old Jerusalem veio permitir isso mesmo: o confronto de sensibilidades e universos sonoros aparentemente antagónicos ou inconciliáveis. O Francisco Silva gostou muito do meu primeiro disco, aconteceu conhecê-lo pessoalmente numa actuação de Old Jerusalem na Guarda e aproveitei para convidá-lo a participar neste disco. Achou o desafio fantástico e aceitou de imediato. E deu um excelente contributo para o tema “I’m a Vampire, I’m Disgust”, uma música que irá surpreender muita gente, precisamente porque o trabalho vocal do Francisco afasta-se muito daquilo que conhecemos do projecto Old Jerusalem. Ou seja, o Francisco soube adaptar-se brilhantemente ao universo sonoro “kubikiano” (tal como os outros convidados, diga-se). Foi uma colaboração bastante frutífera para ambas as partes, uma colaboração entrosada como peças de um relógio suíço.
- Ao longo da sua carreira, nota-se a predilecção pela composição de bandas sonoras. É um mundo que o encanta particularmente?
A música e o cinema (e também o teatro) são as duas áreas artísticas que me fascinam desde miúdo. De resto, antes de ter enveredado por um curso superior de música ponderei entrar para o curso de cinema… Sou um cinéfilo inveterado, tenho muitos mais livros sobre cinema do que sobre música e sempre tive a paixão pela descoberta e experimentação da relação entre o som e a imagem, desde os primórdios do cinema. Quanto ao teatro, já tive cinco experiências de composição de bandas sonoras originais, assim como música para performance, vídeo e e cinema. O trabalho de construção de bandas sonoras para estas áreas é bastante peculiar e motivante. Sou grande admirador do expressionismo alemão e da vanguarda soviética e o afã de experimentar este campo de relação som-imagem levou-me a arriscar criar uma banda sonora original para o filme surrealista “Un Chien Andalou” (1928) da dupla Luís Bunuel e Salvador Dali.
- Em 2004 foi convidado pessoalmente por Mike Patton para actuar na primeira parte do concerto dos Fantômas na Aula Magna, em Lisboa. Como é que foi a experiência?
Detestável!... Não, foi óptima. Na verdade, já tinha sido excelente o facto de o Mike Patton ter manifestado gostar imenso do “Oblique Musique”, depois, mais extraordinário ainda, o facto de me ter convidado pessoalmente para abrir o concerto dos Fantômas na Aula Magna, foi algo completamente fabuloso. Esta consideração crítica favorável do Mike pelo meu trabalho é algo que contribuiu, em larga escala, para um maior reconhecimento do projecto Kubik. É claro que havia muita gente na Aula Magna que não fazia ideia quem eu era, uma espécie de extraterrestre solitário a fazer música bizarra antes dos Fantômas (alguns pensaram mesmo que eu era uma “banda” estrangeira de suporte da digressão da banda do Mike), mas acabou por ser uma experiência única, valha a verdade.
- Como vê actualmente a cidade da Guarda, tendo em conta que contribui largamente para a sua dinamização cultural?
A cidade da Guarda sempre foi conhecida, nos últimos anos, como uma cidade muito dinâmica culturalmente e que tem, proporcionalmente, mais dinamização cultural do que certas cidades do litoral do país. Basta dizer que é pioneira nalgumas iniciativas, como o festival de Novas Músicas “Ó da Guarda” dedicado às músicas ditas experimentais, electroacústicas e de improvisação; o ciclo de conferências sobre Cibercultura, festival “Correntes de Ar” (sobre poesia sonora, spoken word e experimental), etc. A Câmara detém três equipamentos culturais que têm dinamizado o panorama cultural da cidade e da região. Músicos como Elliott Sharp, Meira Asher, Chris Cutler, Xiu Xiu t~em passado pela Guarda. E agora a cidade mais alta tem um novo Teatro Municipal com capacidade para a realização de maiores eventos (em dimensão e qualidade), como é o festival de Jazz, que traz à Guarda músicos da craveira de Nils Petter Molvaer ou Anthony Braxton Trio. Curiosamente, um dos grandes promotores culturais da cidade é o músico, actor e poeta sonoro Américo Rodrigues, que já participara no meu primeiro trabalho e que volta a participar em “Metamorphosia”. A Guarda é, por isso, uma cidade que apesar de ser do chamado interior do país (sem sentidos pejorativos) tem sabido apresentar uma programação cultural diversificada e de grande valor artístico. A área da programação cultural e educativa é, actualmente, a minha área profissional propriamente dita.
André Tiago Gomes (Mondo Bizarre / Bodyspace.com)
A OUVIR:
Kubik
Metamorphosia (CD Zounds / Sabotage)

Os gestos e nostalgia estão um pouco por todo o lado, e a música não é excepção. Considere-se desde já “Metamorphosia” como uma espécie de máquina do tempo, que tanto viaja para o passado na procura da magia dos discos de vinil e das cassetes (o seguidor do aclamado “Oblique Musique” surge dividido em dois lados designados por A e B, contendo cada um desses lados sete temas), assumindo igualmente o lado conceptual da obra, como ao mesmo tempo aponta o dedo ao futuro e abraça ainda mais elementos no já de si abrangente mundo de Kubik. Depois tenha-se em atenção que em “Metamorphosia” Kubik utiliza mais vozes e instrumentos reais, e que para isso contou com as participações de Adolfo Luxúria Canibal (voz), Old Jerusalem (voz), Américo Rodrigues (voz), César Prata (gaita de foles, electrónica e voz), Luís Andrade (guitarra, baixo, programações) e Alberto Rodrigues (saxofone alto). Desde que foi pensado até ao momento em que foi concluído, “Metamorphosia” demorou dois anos, facto que acaba por se relacionar e de que maneira com a complexidade das suas composições. Mas mais do que a complexidade que “Metamorphosia” emana, o que aqui realmente sobressai é a capacidade de Victor Afonso – o verdadeiro nome por detrás do epíteto Kubik – na costura de uma manta feita de retalhos provenientes de cosmos distintos. A prova mais evidente dessa harmoniosa convivência é “Night And Fog: Ya!”, anunciada por vários “ya” e “que ritmo” de “acento” latino e trespassada por furiosas rajadas metal, o cheiro boémio de Paris e um acordeão, uma gaita de foles, interferências vindas deste e de outros planetas, chuva mágica e manifestações intensas de percussão – não obrigatoriamente por esta ordem. Kubik mistura tudo, passa a matéria para outro lugar e volta a misturar tudo de novo, desta vez com intensidade redobrada. Como bom artesão que é, Kubik equilibra todo este mundo aparentemente complicado de controlar – mas a verdade é que o consegue, e com superior mestria – com três intros, responsáveis pela definição de uma estrutura “discursiva”. “Metamorphosia” é, do início ao fim, um registo notável, um disco que estabelece cada vez mais Victor Afonso como um dos músicos portugueses que pretendem e conseguem romper os limites que a música, por vezes, parece pressupor. (8 / 10) André Tiago Gomes.
LIVROS
DUZENTOS E TRINTA E UM DISCOS
PARA UM PERCURSO PELA MÚSICA URBANA EM PORTUGAL tenho
Henrique Amaro, Jorge Mourinha, Pedro Félix (Fnac)
“Duzentos E Trinta E Um Discos – Para Um Percurso Pela Música Urbana Em Portugal” é um livro de pequeno formato (12 X 14,5 centímetros), de poucas palavras, mas de grande valor. Compilado pelo divulgador e radialista Henrique Amaro, pelo jornalista Jorge Mourinha – que aqui entrevistamos – e pelo antropólogo Pedro Félix, “Duzentos E Trinta E Um Discos” abarca quatro décadas e meia (de 1960 a 2005) de música portuguesa moderna e urbana. Começando com Zeca do Rock e terminando nos M’as Foice esta não é, nem pretende ser, a listagem definitiva da Música Urbana portuguesa.
O que é que a FNAC vos pediu em termos de abordagem e do conteúdo para este livro?
As “regras” impostas pelo Jorge Coelho foram muito simples: criar uma listagem relativamente alargada e nada “definitiva” de discos. A ideia seria mais a de propor uma diagonal personalizada, se calhar passando por coisas menos evidentes, em vez de andar a querer fazer a lista definitiva dos melhores discos de sempre da música portuguesa.
Quanto tempo levaram a selecionar os 231 discos que surgem no livro?
Eu diria aí um, dois meses, entre reuniões em conjunto e trabalho pessoal de cada um. Quanto a horas de trabalho pessoal… isso depende de cada um de nós!
Porquê 231 e não 250 discos?
Precisamente para evitar a “listagem definitiva” do que quer que fosse. Não quisemos um número certinho e redondo… E ficou 231 porque foi o número de discos que tínhamos acordado quando o prazo de entrega fechou.
Sendo que apenas 16 discos estavam nas listas dos três foi difícil escolher os restantes 215 discos?
Nem por isso… Havia muitos artistas que estávamos de acordo que deveriam entrar, só não estávamos de acordo quanto aos discos. Eu diria que para aí 80 por cento da selecção foi relativamente fácil. Os outros 20 por cento… enfim, como em qualquer trabalho de grupo, a democracia é sempre a melhor opção, mesmo que nem sempre concordemos!
Qual foi o principal critério de selecção dos discos? Que géneros / áreas musicais foram deliberadamente deixados de fora?
Procurámos um equilíbrio entre o valor histórico, o valor musical e o valor de referência social ou cultural de cada disco. Trabalhámos essencialmente na área da música urbana moderna, ou eléctrica, abrindo algumas excepções para trabalharmos mais ligados à tradição ou às raízes que tinham um ponto de vista criativo essencialmente urbano. Não quisemos entrar em áreas mais específicas como o Fado, por exemplo, que daria um outro livro completamente diferente, mas abrimos espaço a alguma canção ligeira paredes-meias com o rock, ou a bandas que fizeram do seu som um espaço de trabalho e modernização da tradição.
Há bandas que surgem com mais do que um disco, como os casos dos Mão Morta ou dos Três Tristes Tigres. Não teria sido preferível optar por discos de outros artistas de modo a alargar o número de presentes?
Mmmm… Não procurámos fazer uma listagem exaustiva. É um percurso cruzado de três vivências e concepções diferentes e específicas. As bandas que têm mais de um disco têm-no porque são bandas cuja importância social, cultural, histórica ou musical ou cuja carreira não se consegue resumir a um único disco. E limitámos deliberadamente cada artista a um máximo de três discos, para não sobrecarregar a listagem – de qualquer maneira a ideia original seria sempre uma apresentação cronológica dos discos, não alfabética. Seria muito difícil escolher um disco dos Mão Morta, um disco dos Xutos ou um disco do Jorge Palma para resumir carreiras tão ricas… E cada um de nós escolheria discos diferentes para cada um destes artistas – foi, aliás, o que aconteceu durante a elaboração! Acontecia-nos cada um de nós propor três discos que nada tinham a ver com as escolhas dos outros.
Que discos é que, após o livro terminado e impresso, lá deveriam estar e não estão?
Eu lembro-me, de cabeça, do “Foram Cardos Foram Prosas”, da Manuela Moura Guedes, que nos passou completamente ao lado… Mas acho que isso acaba por jogar a nosso favor, na medida em que a lista nunca foi pensada como exaustiva ou definitiva. É um ponto de partida para cada leitor partir à descoberta de coisas que não conhecia, ou recordar coisas de que não se lembrava. É normal que faltem coisas numa lista que não se quis exaustiva nem definitiva!
Portugal é um país com muito pouca memória e no caso da Música Popular essa memória é ainda mais difusa quando não inexistente. Têm noção da importância do vosso livro no escasso panorama da História e da Memória fixada da Música Popular Portuguesa das últimas décadas?
Não gosto nada de pôr as coisas nesses termos. O livro é um modesto contributo para a preservação dessa memória, mas não pretende de todo ser uma obra definitiva.
A gratuitidade do livro foi condição imposta por vós ou era já essa a ideia da FNAC?
Não, isso era já ideia da FNAC, oferecer o livro gratuitamente, mas eu acho muito bem!
Raquel Pinheiro
LIVROS
RIP IT UP AND START AGAIN
Simon Reynolds
(Faber Books)
tenho

Basta uma leitura para eleger “Rip It Up And Start Again” como um dos pontos altos da literatura sobre música editada em 2005. Editada, obviamente, não entre nós. Mas isso porventura não interessa. O tema em causa, o pós-punk, é afinal um género que todos (re)conhecem, ora como música localizada num tempo específico, ora enquanto música (como outras, hoje) destituída de um tempo. “Rip It Up And Start Again” não nos vem dizer qual é o tempo verdadeiro, vem antes falar daquele que o autor viveu entre 1978 e 1984. Nesse sentido podemos falar de um livro sobre e de uma geração: aquela que se fez expelir pelo punk e que em fuga nem se lembrou de olhar pata trás, para o gesto, já paralisado, de 76-77. Sem quase nunca sair do contexto anglo-saxónico, Simon Reynolds dedica capítulos a alguns desses fugitivos: PIL, Devo, Vic Godard, Pere Ubu, DNA, Talking Heads, Gang Of Four, Cabaret Voltaire, Chrome, The Fall, Joy Division entre outros. E lentamente nos vai revelando uma das suas teses: o pós-punk foi um momento só comparável aos anos 60. Não só pelos seus excessos estéticos e culturais, mas pela vontade constante e quase obsessiva em inovar e experimentar. Os métodos, linguagens e instrumentos eram variados mas acessíveis, mesmo quando estranhamente contraditórios. Havia quem propusesse um reencontro com a música negra enquanto fonte de ideias e sons. Grupos rejeitavam o texto (do rock9 em prol das texturas e ambientes. A contaminação com outras artes era incentivada assim como a procura e o extremar consequente de antinomias, enquanto uma nova atenção às músicas dos outros mundos acontecia em simultâneo com a atenção que a presença das mulheres enquanto artistas requeria no contexto da pop. Transversal a todas estas abordagens a ideia de desenvolvimento formal da música, de avanço estético movimenta-se em sossegadamente em “Rip It Up And Start Again”. Ou pelo menos é o que nos diz Simon Reynolds, parecendo vislumbrar um modernismo da música popular urbana. Em causa estava a necessidade de abater de vez o obscurantismo que já se havia apoderado dos lugares comuns do rock e nos quais o punk havia caído. Por momentos parece que isso de facto aconteceu e o autor até parece congratular-se com o sucedido, mas face ao título da segunda parte do livro (New Pop And New Rock), dedicado ao goth rock, aos novos-românticos ou à segunda onda industrial, facilmente percebemos que as suas certezas foram-se tornando menos certas. O pós-punk foi de facto um momento libertador e único e almejou, nalguns casos, os tops. Ao contrário dos anos 60 contudo não intensificou mudanças directamente no campo social. Disseminou-as primeiro no contexto musical e através dos meios de comunicação social insinuou a sua concretização como algo inevitável. Depois, esgotado nas suas contradições, deu lugar às novas aventuras do rock e da pop. Aventuras que, diga-se, foram cada vez mais sujeitas a novas repetições e variações. E dispersas, pulverizadas, perderam eficácia enquanto momentos políticos, sociais ou culturais. Seria necessário esperar pelo hip hop e pelo fenómeno Nirvana para que um novo abalo se fizesse sentir. Mas já não se podia, como em 1978, começar de novo. Eis o drama que vive em “Rip It Up And Start Again”. E o fascínio que transporta.
JM
José Marmeleira
Clássicos
DISCOS
BOURBONESE QUALK
Unpop (LP/CD Funfundviertzig, 1992)

Nascidos em Liverpool, algures em 1979, quando no ar ainda se podiam sentir as cinzas do punk, os Bourbonese Qualk passaram a maior parte da sua existência de costas viradas para o mundo. Recusando todas as etiquetas que lhes queriam colar criavam alguma da mais entusiasmante música que ia surgindo nos squats britânicos, à qual aliavam uma componente visual igualmente forte e original. Aliás, Simon Crab, um dos elementos chave do grupo sempre preferiu ver os Bourbonese Qualk como um projecto multimédia em vez de como uma banda. Passam a década de 80 a desenvolver uma sonoridade própria, muitas vezes enfiada no saco da música industrial. Destacam-se os álbuns “Laughing Afternoon (1983), “The Spike” (1985), “Bourbonese Qualk (1988) e “My Government Is My Soul” (1989) como pilares importantes na construção do som dos Bourbonese Qualk, um som imaginativo, personalizado e de difícil categorização. Prometido para 1990, “Unpop” (abreviatura de unpopular) surge apenas em 1992, depois da primeira versão ter sido gravada e regravada. Essencialmente instrumental (excepção feita a quatro dos catorze temas do disco) “Unpop” converge em si uma miríade de sonoridades díspares que vão da música electrónica a étnica, passando pelo jazz e pelo pós-rock (antes mesmo de este estilo ter sido “inventado”). A constante procura de uma sonoridade única levou os Bourbonese Qualk até “Unpop”, um disco todo ele feito em regime DIY e que conseguiu chamar (finalmente) a atenção da cruel imprensa britânica, que sempre os havia ignorado. Difícil de encontrar nos escaparates, “Unpop” pode ser descarregado gratuitamente no site da banda (www.bourbonesequalk.com), onde está disponível para download toda a discografia dos Bourbonese Qualk
Hugo Moutinho

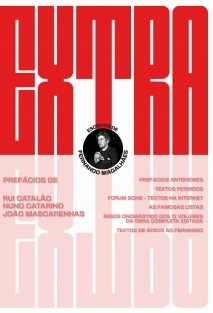


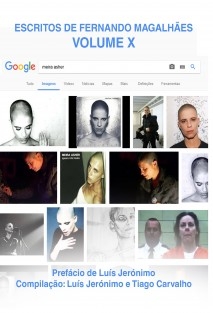


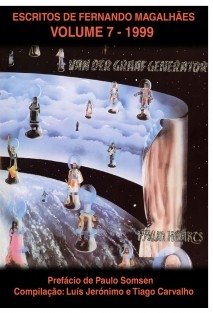







_Bubok.jpg)













Sem comentários:
Enviar um comentário