Música & Som
Nº 78
Janeiro de 1983
Publicação Mensal
Esc. 100$00
Música & Som publica-se à 5ª feira, de quinze em quinze dias.
Director: A. Duarte Ramos
Chefe de Redacção: Jaime Fernandes
Propriedade de: Diagrama - Centro de Estatística e Análise de Mercado, Lda.
Colaboradores:
Ana Rocha, Carlos Marinho Falcão, Célia Pedroso, Fernando Peres Rodrigues, Hermínio Duarte-Ramos, Humberto Boto, João David Nunes, João Freire de Oliveira, João Gobern, João de Menezes Ferreira, José Guerreiro, Miguel Esteves Cardoso, Nuno Infante do Carmo, Manuel Cadafaz de Matos, Pedro Ferreira, Raul Bernardo, Ricardo Camacho, Rui Monteiro,Trindade Santos.
Correspondentes:
França: José Oliveira
Holanda: Miguel Santos e João Victor Hugo
Inglaterra: Ray Bonici
Tiragem 16 000 exemplares
Porte Pago
56 páginas A4
capa de papel brilhante grosso a cores
interior com algumas páginas a cores e outras a p/b mas sempre com papel não brilhante de peso médio.
O Leitor Escreve
A Paixão Heróica Dos Anos 80
"What are we fighting for?"
Marianne Faithfull in "Broken English"
O Rock, nas suas díspares emoções, sempre se tem comportado como um movimento flexível, sujeito a amores fugazes, a modas estranhas, a ciclos destemidos, a concepções flutuantes. Quando o rock, nos primeiros anos da década de 70, se começou a disciplinar, tornando-se uma execução ritual de sons que assim haviam sido baptizados, a paixão generosa dos jovens achou-se momentaneamente órfá, sem a vocação de insubmissão que marcava o rock, como mais do que um qualquer movimento musical.
Assim, essa imagem enevoada a que ainda se chama rock (mais até por uma questão de definição), foi perdendo a inocência que os jovens movimentos loucos e nihilistas transportam. Ginsberg e Warhol, Velvert Underground e Jefferson Airplane passaram a fazer unicamente parte de um mito que alguns (já poucos) reverenciam e que a maior parte olha como se de uma cicatriz adiada se tratasse. O rock havia-se tornado uma indústria obcecada pela perfeição, gingando entre correntes amorfas e doentias (a primeira metade de 70 é de uma pobreza quase confrangedora) e opções que se identificavam com uma evolução negativa.
Quando em 1976 rebenta o fenómeno Punk, há finalmente a clara demarcação de eixos tendenciais da evolução da música. O Punk, mais do que uma sacudidela na saturação que o rock apresentava, foi uma opção, em termos de novas vias, para o percurso musical dos nossos dias. O Punk trouxe à música rock aquilo que ela há muito tempo já não conhecia: inquietação. Ignorou a harmonia, mas saudou o imediatismo rítmico. Mas, mais do que isso, trouxe-lhe o esclarecimento profissional que, curiosamente, havia sido a base de contestação sonora punk (é espantoso como um movimento que nasce nas ruas, de jovens sedentos, da recusa de tecnicistas, será hegemonizado pelos futuros tecnocratas que hoje pululam pelas maiores editoras conhecidas e dos quais Malcolm McLaren, no seu exotismo, é o mais conhecido).
No fundo, o punk estabeleceu novas opções, não só musicais, mas, fundamentalmente, traduziu-se em propostas inovadoras no savoir-faire comercial (vide as editoras que conhecem o seu salto, a Virgin e a Stiff, e a nova geração de "independentes" que se lançam no rescaldo do pandemónio punk), ao chocar com as concepções musicais dominantes nas editoras estabelecidas. Mas, a insubmissão punk (curioso como as suas "eminence grise" estão hoje no topo do universo musical britânico) durou pouco tempo. Depois disso, quase todas as bandas, estrangulando o movimento, se dirigiram para uma área bem mais frutuosa: o pop.
Não gostar, pelo menos minimamente, do som que hoje as ilhas britânicas produzem é um passo muito tentador, a que só os resignados defensores da geração hippie ainda têm a coragem de opor o dogma da nostalgia. É impossível resistir ao fascínio que emana das bandas pop de hoje e da sua ideologia (simples) de lazer e prazer. O nosso cepticismo face ao valor da simplicidade que elas nos trazem é o discurso possível para quem (como nós) se recusa cada vez mais a seguir unicamente os ímpetos racionais (não gostar) e se lança numa aproximação incómoda porque unicamente emocional (gostar). Mas isto é algo que geralmente se sente em cada meteórica pista de dança e que não ultrapassa a mera paixão idiota. Na verdade, a lírica pop é insípida e o seu imediatismo musical é esquecível a curto prazo. As suas propostas sedativas são trabalho excelente de produtores (Trevor Horn, Martin Rushent) e, cada vez menos, de músicos. Mas, as correntes pós-punk a que a sua raiz ainda consegue dar uma consistência mínima, debatem-se hoje com o pavor quase chocante de serem ultrapassados pela Moda. No fundo, na sua renovada arqueologia de um exotismo esclarecido, caem (ressalvando as diferentes causas e efeitos) nos erros que os esforçados (mas pouco convincentes) defensores do paradigma hippie também caíram: o serem ultrapassados pelas circunstâncias.
A crise, apesar de tudo, é visível, mas as distracções são ainda mais evidentes. Hoje já não se mete em questão a problemática da vanguarda musical e o pop é antes vocacionado para receber juízos apressados. Gosta-se e gasta-se. E é isso: crítica de música hoje (assim como o consumidor) já não pensa o que ouve (apenas julga que ama). Mas o nosso amor compreende, hoje, um período bastante restrito. O pop é de tal maneira efémero que surpreende como os discos vulgarmente designados de importantes se sucedem vertiginosamente nos nossos pick-ups. Hoje, a originalidade é algo que se procura incessantemente, através de rasgos de exotismo, geralmente desastrosos (vide os Modern Romance ou os Blue Rondo à la Turk). Felizmente, nos últimos dois anos, surgiram algumas propostas que ultrapassaram a banalização de sons gerada pela secura de opções com que se debatia o rock: o caso da Joy Division, dos Specials, dos Young Marble Giants ou, agora, de Rupert Hine, Peter Gabriel, Durutti Column, New Order ou Dexys prova que ainda existe encanto inovatório. O que não deixa de ser reconfortante...
Porque, não nos iludamos, o rock, hoje (sobre)vive através de um novo paradigma: a venda. Mas nem por isso é correcto falar apressadamente (e pejorativamente) de "comercialismo". O sempre honesto Kevin Rowland dizia, recentemente, que dava entrevistas porque estas eram razão sine qua non para vender os seus discos e que continuara trabalhar para meia dúzia de iluminados não valia a pena, já que era necessário que todos conhecessem os seus trabalhos (e todos sabemos que assim deveria ser). O comercialismo tem sido um tabu que artistas (geralmente falhos de imaginação) sempre t~em combatido. E outro tabu, não menos incrível, é o da defesa das editoras independentes. E ambos têm servido enquanto alibi vulgarmente chamado de ideológico.
Tomemos o caso das "independentes" britânicas: a sua táctica é simples (descrevia há tempos um dos seus homens de ponta: uma mistura de Marx - analisar as movimentações de infra-estrutura - e de Maquiavel - como conseguir os tops e lá se manter). No fundo, muitos dos discos das independentes (vide Joy Division, Depeche Mode ou Yazoo!) vendem mais que os das grandes editoras (o único óbice é sua entrada nos tops normais é o sítio onde vendem). Ora, se se seguir a lógica (sedutora e, ainda que nos custe, correcta) de que tanto se suja as mãos com lucro, seja este muito ou pouco, vale mais aderir às grandes editoras. As "independentes" têm assim funcionado como verdadeiros indicadores de mercado, conseguindo lucro onde e como as "gtrandes" nunca conseguira (devido à sua estrutura burocrática e pouco adaptável a conjunturas que as ultrapassem), devido à sua elasticidade num mercado móvel como é o actual (ao contrário do que havia sido no período anterior à revolução punk). As linhas de força da compreensão do fenómeno rock residem hoje em como vender (segundo os modelos tradicionais ou segundo os alternativos) e em fazer produtos que resistem ao tempo, como abstracção possível da moda que hoje nos submerge. E é só isso que conta.
Dizia Malcolm McLaren que "um homem que se senta no seu escritório, vendendo discos, não é um homem muito criativo". E nós, pragmaticamente, não podemos deixar de concordar.
Fernando Almeida Sobral
Concerto de Peter Hammill
Para Além De Todas As Palavras
por Ana Rocha
Fotos: José Tavares
Há nomes que nunca mais se esquecem. Há figuras que se libertam da lei do esquecimento, pela qualidade das obras que transportaram a sua chancela. Peter Hammill faz parte desse Panteão de Heróis. Distancia-se do grupo de funcionários que faz música para vender, para entreter, para se escutar enquanto se deglute o almoço no snack. A sua música exige uma concentração total. Não é possível estar a ler um livro enquanto se escuta os VDGG. Uma actividade exclui a outra. Opta-se. Impreterivelmente.
Fazendo progredir a sua música, extirpando-lhe arremedos sinfónicos, Peter Hammill, muito inteligentemente, constrói música dos anos 80, mantendo-lhe no entanto uma dimensão muito pessoal (quase mística), sem ceder a modas e tendências de momento. É actual e moderno sem estar na moda. Soube terminar os VDGG num momento em que tal decisão se impunha. Soube encetar uma carreira a solo sem recorrer aos conceitos expressos nos LPs dos Van Der Graaf Generator.
O último concerto de Dezembro foi o seu. A temporada de 82 fechou-se com chave de oiro.
Milhares de adeptos dos VDGG e de Peter Hammill reuniram-se no Pavilhão de Alvalade para escutar ao vivo um dos mais interessantes músicos destes últimos 12 anos. E não saíram desiludidos. Interpretando temas dos seus três últimos LPs (PH7, Sitting Targets e Enter K), acompanhado por dois ex-Van Der Graaf Generator - na bateria Guy Evans, um veterano, e no baixo Nic Potter - e por um terceiro elemento vindo dos lados de Peter Gabriel, o guitarrista John Ellis, Peter Hammill agarrado à sua guitarra, seca e nervosa, envolto numa camisola com o Frank Sinatra gravado, a todos envolveu na sua aura de mistério e emoção, atingindo momentos de verdadeiro delírio num Pavilhão cheio de adeptos e convertidos. Três calorosos encores - por exigência do público, que nestas coisas, manda - terminaram uma actuação límpida e grandiosa.
A primeira parte foi preenchida pela actuação da Lena D'Água & Banda Atlântida, que, em tempo breve, interpretaram seis dos seus temas mais conhecidos do público. Deu direito a um encore.
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição:
. artigo sobre os Magazine, de autor não identificado
. artigo / coluna: Prosas de Fogo e Água - "O Rock e a Droga: Elogio do Quotidiano (2ª parte)"
. Discos em Análise:
.. The Durutti Column - «LC» [Factory VFACT 111-18], por Carlos Marinho Falcão
.. Kate Bush - «The Dreaming» [AMI IIC 078 64589], por Manuela Paraíso

















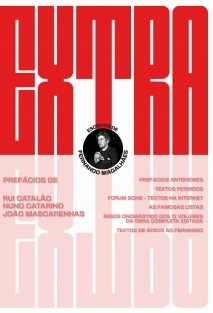


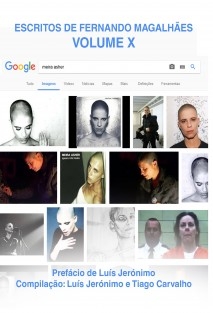


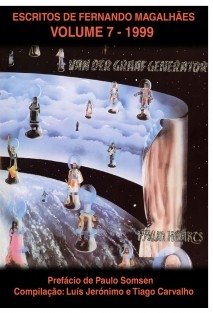







_Bubok.jpg)




























Sem comentários:
Enviar um comentário