Entrevista a Rui Eduardo Paes, publicada na revista Número Magazine #020, de Janeiro de 2004.
No fim deixa-se ainda o link para o site pessoal do crítico / escritor musical, para além de um link para mais uma lista, a sua lista pessoal dos melhores 100 discos de sempre.
Entrevista a Rui Eduardo Paes
José Marmeleira
Fotos de Mário Alexandre
Rui Eduardo Paes é um autor que personifica uma excepção
no contexto da nossa escrita sobre música. As razões são óbvias: interessa-lhe
identificar a arte que nesta pode existir e é detentor de uma curiosidade
irresistível face às margens de todas sonoridades, desde o rock mais heterodoxo
até à sound art. É partir destes princípios que em cada obra nos propõe
interrogações políticas inesperadas, ligações de ordem estética fascinantes e
leituras inquietas. Sempre sem uma
conclusão definitiva. Porque cada livro abre a porta para outra. Paulatinamente
distante da boçalidade que os mass media vão disseminando.
. É um dos poucos autores que publica, regularmente, em
Portugal, livros sobre música contemporânea. O que o fez avançar na aventura
que é escrever sobre o tema?
- Para responder a essa pergunta devo recuar no tempo.
Comecei a escrever sobre música em meados dos anos 80, no “Diário de Lisboa”,
onde trabalhava na secção de cultura e espectáculos e abordava várias
temáticas. A música era uma delas e já há muito tempo que me interessava. O meu
pai era um velho fã de jazz sem qualquer tipo de pruridos em relação às formas
mais vanguardistas do género, pelo que desde muito jovem me vi rodeado. de
diferentes sons musicais. Quando comecei a escrever no “Diário de Lisboa”,
porém, o que me interessava mesmo era receber os discos de promoção. Nessa
época não considerava a minha escrita sobre música mais séria do que os meus
textos sobre literatura, artes plásticas ou outra qualquer manifestação
artística. Agradavam-me a cultura e os espectáculos em geral. Ainda nos anos 80
acabei por me especializar nas áreas da dança e da perfomance art mas, com a
continuação da minha actividade profissional, a escrita sobre música foi-se
tornando mais séria. Nesta fase do meu percurso escrevia essencialmente sobre
jazz e só mais tarde fui abarcando outras áreas musicais, como o rock dito
alternativo, a música contemporânea e os diferentes experimentalismos.
Entretanto, fui-me dando conta que já possuía, depois de anos de produção de
escrita e já depois de o “Diário de Lisboa” ter fechado as portas, um
determinado património que não desejava perder. Tinha uma série de textos
publicados em diversos jornais e pensei em publicá-los. Bati a algumas portas
que ou não manifestaram qualquer interesse, ou exigiram que arranjasse
patrocinadores. A minha primeira tentativa – uma monografia sobre Carlos
Zíngaro – ficou assim sem publicação, mas Jorge Lima Barreto sugeriu-me a Hugin
Editores e pôs-me me contacto com ela. Proporcionou-se assim a edição do meu
primeiro livro, Ruínas, que apresentei como um balanço das músicas do final do
século XX e que consistia essencialmente na reunião e na selecção do meu acervo
de textos. Assim surgiu a minha oportunidade de me lançar como autor,
publicando livros até hoje.
. Questionava-se sobre quem é que seriam os seus
leitores?
- De facto, nos primeiros anos de profissão jornalística,
fazia muito esse tipo de pergunta. Interrogava-me sobre quem seriam os meus
leitores... reflectia sobre a velha questão filosófica: “escrevemos para quem”?
Chegou a ser naquela altura uma preocupação um bocado obsessiva. De qualquer
modo, e reflectindo sobre essa questão, devo dizer que apesar de o meu
trabalho, designadamente aquele que está contido nos livros, ser, até certo
ponto, pedagógico, vai mais além. Ou seja, escrevo sobretudo para pessoas que
já têm um interesse pelas novas músicas, o que facilita a entrada num campo de
maior especulação. Não esqueço, no entanto, a vertente informativa, que coloco
na base de tudo. Aquilo que procurei fazer sempre foi lançar pontes. Para outras
artes, por exemplo, pois penso que há paralelismos óbvios em termos estéticos,
mas também filosóficos, sociológicos e antropológicos, com outros campos. São
muitos os casos em que verificamos a existência de movimentos e tendências
organizadas que sublinham coincidências entre a música e as artes plásticas.
Tento também projectar ligações para o campo das ideias, pelo que nos meus
livros se podem encontrar “chaves de pensamento” como o nihilismo, a teoria do
caos, o desconstrucionismo, etc. Finalmente, procuro lançar pontes para a vida
quotidiana, abordando questões que nos preocupam de forma global. Considero,
portanto, que aquilo que escrevo, tendo à partida sido pensado para
“iniciados”, pode perfeitamente ser lido por pessoas pouco ou nada familiarizadas
com estas músicas. O que escrevo está aberto à compreensão, presumo, de
qualquer um...
. Daí o seu enfoque sobre a intertextualidade.
- Exactamente. Julgo que se trata de permitir a entrada
às pessoas que não estão dentro de um determinado domínio musical, despertando,
por exemplo, a sua curiosidade para determinado tipo de assuntos através de
associações, inter-relações. Aquilo que procuro fazer nas minhas obras é, em
primeiro lugar, algo a que chamo, meio a brincar, compilação e tratamento da
informação. Os meus livros são extremamente informativos e julgo que é a partir
da informação e do seu grau de síntese que podemos em seguida correlacionar os
dados, de modo a mais facilmente descobrir transversalidades, localizar
cruzamentos e perceber relações. Penso que assim conseguimos ter, mais
facilmente, uma visão global do que nos rodeia e perceber que nada acontece por
mero “acidente”, ou pelo menos que nada acontece isoladamente. Na verdade,
procuro contar histórias, o que explica o facto de nunca fazer uso de índices
remissivos. Não quero que os meus livros tenham um carácter enciclopédico, de
simples consulta. Não quero que as pessoas os procurem para ler a minha opinião
sobre determinado músico. Estou interessado antes em que encontrem uma
narrativa em que haja uma perspectiva de pensamento. Digamos que pego numa
ponta de um fio e depois vou desenrolando até obter uma visão global das
coisas, mas sempre por meio de parcialidades. Os meus livros são reflexões,
especulações, num registo híbrido entre a escrita jornalística e a escrita
ensaística...
. Como procede a essa junção, tendo em conta que ainda
tem de ouvir primeiro a música? Trata-se de um processo sincrónico, diacrónico?
- Possuo um forte sentido histórico, ainda que não de uma
forma “clássica”, em termos de sucessão de acontecimentos. Diria que é um
processo simultaneamente sincrónico e diacrónico. Descobri muito depressa que
para escrever ou falar sobre música era necessário ter uma perspectiva
geográfica e histórica bastante razoável, o que implica estar atento a todas as
músicas que nos rodeiam, as nossas contemporâneas e as outras, as que já cá
estavam quando nascemos... Carregamos a Terra e o passado às costas.
. Calculo que não é alheio a essa realidade o facto de
possuir uma extensa colecção de discos...
- Sim, quando se começa a ter uma discoteca bastante
grande torna-se mais fácil perceber as relações existentes entre este ou aquele
disco, este ou aquele músico, compositor, grupo musical. O que importa é
explicar, ou fazer ver às pessoas, que aquele objecto [o disco], ou sujeito [o
músico ou o agrupamento], apresenta relações e ligações inesperadas com outros
objectos e sujeitos. Por vezes, até as mais insuspeitas...
. Tendo em conta que os seus livros falam de novas
músicas, como consegue estabelecer essas ligações em plena contemporaneidade?
- Em termos temporais podemos dizer que o espectro destas
novas músicas está sobretudo balizado entre os anos 60 do século passado e a
actualidade, este tempo a que alguns vão chamando de pós-contemporaneidade.
Tudo aquilo que hoje se faz remete invariavelmente para as décadas de 60 e 70,
que foram períodos absolutamente seminais para o desenvolvimento da criação
musical. Essa é a razão porque encontramos hoje muitas práticas neo-modernistas
e pós-modernistas [às vezes confundem-se os seus preceitos] que usam os métodos
da colagem e da repescagem, citando ou até reproduzindo elementos dessas
épocas, o que é um fenómeno bastante curioso e que me deixa grandes dúvidas,
mesmo que o resultado seja bastante interessante. Isso chega a ser verdade até
nas práticas musicais que apostam no futuro e até na inovação, apesar de este
conceito ser cada vez mais discutível. Ora, dentro deste intervalo de quatro
décadas [está agora a iniciar-se a quinta] as coisas avançaram e recuaram
inevitavelmente, o que nos permite ter uma perspectiva histórica. E é por via
dela que podemos encontrar conexões com o que os movimentos vanguardistas,
principalmente os futuristas, fizeram na primeira metade do século XX. Estamos,
portanto, inevitavelmente a lidar com conceitos e práticas que atravessam o
tempo para a frente e para trás...
. Voltando à questão da prática auditiva dos discos...
como passa da audição para a escrita? O processo passa por etapas tais como
pesquisa, comparação de dados, colocação de hipóteses?
- Não, nada de tão científico. Aliás, a maneira como
organizo a minha discoteca julgo que explica as coisas de forma simples. Não
ordeno os discos por famílias musicais, pois isso equivaleria a acreditar na
sua definição como entidades estanques, como também não as organizo por ordem
alfabética. Nestas áreas, sobretudo quando se trata de improvisação, os músicos
estão sempre em trânsito, ora tocam com este, ora tocam com aquele, pelo que é
impossível fazer essas separações. De maneira que a minha discoteca é
anárquica. Está organizada anarquicamente nas prateleiras, apesar de eu saber
exactamente onde cada coisa fica. A minha mente também é assim... Não se trata,
de facto, de um processo científico – não me considero um “musicólogo” – e,
quando essa tentação surge procuro sempre contrariá-la. Limito-me a comprar, a
ouvir os discos e a escrever sobre eles. Trata-se de um exercício reactivo à
audição e que se vai repetindo periodicamente ao longo dos anos. Isto faz com
que encontre formas de estruturar a recepção de coisas tão diferentes como uma
reedição dos Canned Heat e o último disco de electroacústica lower case de
Steve Roden. É evidente que faço pesquisa, que estudo, que desenterro e
escarafuncho, mas não tenho pretensões “laboratoriais”.
. Podemos dizer que o Rui Eduardo Paes tem uma
preferência por um determinado género de música? Ou não discrimina nenhuma?
- Não discrimino nenhuma. Talvez possa dizer que a música
que oiço com mais frequência e à qual presto mais atenção seja a improvisada,
mas isso acontece, essencialmente, porque o fenómeno da improvisação me
interessa de forma particular. Em termos intelectuais deu-me mais gozo entrar
por aí. Recordo, contudo, que a música improvisada tem grandes e íntimas relações
com a música clássica contemporânea, com todas as vanguardas ou com o jazz e
até com o rock, no caso das mais jovens gerações de improvisadores. Gosto de
explorar estas relações.
. Fala da música usando o substantivo arte e ao mesmo
tempo cita nomes vindos das áreas da pop e da rock, termos muito associados com
a esfera da baixa cultura. Como lida com este dado?
- Acho que não existe nem baixa cultura, nem alta
cultura. Se os dois termos ainda permanecem algo actuantes é por razões
sociológicas. Por exemplo, na Gulbenkian, o Serviço de Música privilegia
essencialmente a música clássica. Em termos de contemporaneidade, o mais longe
que vai é a compositores como Xenakis ou Morton Feldman, e mesmo assim de forma
discreta. Só muito recentemente, por exemplo, é que parecem ter-se apercebido
da existência de um Steve Reich ou de um Terry Riley. Ora, estamos a falar de
um tipo de música que a Gulbenkian considera como “alta cultura”. Para mim,
contudo, isto não passa de um conceito ou de um preconceito que está muito
relacionado com mecanismos dos sistemas de ensino e de reprodução musical. É
verdade que a Gulbenkian tem tido o Jazz em Agosto, mas isso nasceu de uma
estrutura interna algo especial e mais preocupada com a actualidade – ainda que
até nesse contexto não seja habitual ver as coisas mais actuais, as que estão a
acontecer neste exacto momento. Recuso-me a hierarquizar as músicas dessa
forma. Oiço com a mesma atenção e igual gosto e respeito um compositor como
Xenakis ou um grupo de rock extremo como os Lightning Bolt. Talvez me
interessem de maneiras diferentes, mas não parto do princípio de que uma é mais
“séria” do que a outra.
. Mas diferencia a arte do entretenimento?
- Sem dúvida. Arte e entretenimento são coisas bem
diferentes, ainda que a arte possa conter uma dose de entretenimento, não sendo
verdade o inverso. Ainda não encontrei forma de entretenimento alguma que fosse
efectivamente artística. Para mim, a música de forma geral é hoje em dia
entendida como entretenimento, o que é lamentável. Quando falo de música de
arte e música de entretenimento abordo a questão em termos horizontais. Aquilo
que faço é escrever sobre músicas oriundas de géneros associados ao
entretenimento, como seja a pop ou o rock, em que a arte fala mais alto.
Existem nas áreas da música experimental e da música improvisada vozes radicais
que consideram até as expressões mais marginais do rock e da pop como
laboratórios de experimentação da música de entretenimento, mas não concordo
com tal visão, pois essas músicas também são marginalizadas. Como não entretêm,
não interessam ao sistema.
. Porquê?
- A música, ou a sua maior parte, é uma indústria e esta,
nas sociedades de capitalismo desenvolvido em que vivemos, tem de ser de
massas. Ora, as margens dessas expressões mais populares não são músicas de
massas, ainda que possam ser mais consumidas que as músicas experimentais tout
court – aliás, devo dizer que o experimentalismo musical deve muito a essas
margens da música popular, muito mais do que à Academia. Quando uma obra
musical se apresenta como sendo de alta cultura fio imediatamente desconfiado.
As músicas académicas, “clássicas”, são-nos habitualmente apresentadas com um
estatuto, um status, uma aura...
. Entrevistou no seu site os SunnO))) enquanto grupo de
artistas que deve tanto a La Monte Young, um nome da música experimental, como
aos Black Sabbath, um grupo claramente identificado com a música popular. Como
concilia estas diferenças na sua abordagem?
- Julgo que os SunnO))) são o claro produto de um
encontro de influências musicais, na maior parte dos casos até intermediadas.
Ou seja, em muitos casos os músicos não vão à origem dos materiais que
utilizam. Há uma forte vertente do minimalismo norte-americano, designadamente
dos anos 60, na obra dos SunnO))) mas estes não vão directamente à fonte. Na
verdade nem conhecem La Monte Young, paesar de a música deste estar muito
presente no que fazem.
. Como explica isso?
- Digamos que o que eles ouviram e lhes interessou foram
práticas mediadas. Ou seja, práticas que receberam a influência do minimalismo
e que os levaram a fazer este tipo de música, como foi o caso de um grupo de
rock experimental chamado Earth. Nos SunnO))) encontramos também o heavy-metal,
na sua vertente nórdica, com a sua mística muito particular. Sei que
descobriram também recentemente coisas do free-jazz, do John Coltrane na fase
“música estática”. Os SunnO))) são um exemplo muito concreto dos cruzamentos
possíveis entre músicas que supostamente vêm da alta cultura (ainda que seja
muito duvidoso que o minimalismo norte-americano venha propriamente da alta
cultura) e os da baixa cultura. Sob o signo de algo que é muito interessante: a
utilização da electricidade, em termos literais, pois usam guitarras
eléctricas, e até simbólicos, sons em curto-circuito...
. A propósito da contemporaneidade: como caracteriza hoje
a música popular urbana?
- Não me parece que haja algo de novo a surgir.
Deparamos, sim, com apropriações diversas de géneros musicais do passado e
neste momento vivemos um pouco uma nova ressurgência do psicadelismo, presente
aliás nas novas bandas de rock. Trata-se, portanto, de uma repescagem global de
coisas que ficaram para trás. Mas este é um fenómeno que também testemunhamos
nas músicas mais experimentais. Em termos de inovação absoluta poucos exemplos
existem. O que encontramos com mais frequência são fenómenos de repescagem,
cruzamento e perspectivação...
. Fala de um regresso do psicadelismo... em que sentido
se verifica hoje?
- O regresso do psicadelismo verifica-se nalgum
mainstream mas também, ou sobretudo, nas alternativas, e isso verifica-se desde
a década de 90 e nada indica que seja um “movimento” prestes a desaparecer.
Julgo que faz parte da enorme leva de recorrências históricas a que vimos assistindo
nas artes. Recorrências, especifico, como as dos retornos do be bop e do free
jazz, ou, no caso do psicadelismo, das sonoridades tipo de uns Jefferson
Airplane, por exemplo, que são claramente perceptíveis nuns Yo La Tengo. É
evidente que o neo-psicadelismo tem diversas matizes e vertentes, do acid mais
óbvio de certas práticas ditas groovy à grande aceitação actual de um grande
nome dos anos 60 como Robert Wyatt.
. Grupos como Jackie-O-Motherfucker ou Lightning Bolt
também se incluem nos fenómenos de repescagem, cruzamento e perspectivação que
refere?
- Sim. Se os analisarmos friamente, não há nada de
absolutamente novo nesses dois exemplos. Há obras dos anos 60 e 70,
principalmente, naqueles casos em que não se verifica uma grande presença da
forma, que podiam ter sido feitas hoje. Isto porque há gente deste início do
século XXI que está a fazer algo de muito semelhante ou pelo menos a continuar
algumas das propostas então feitas. Trata-se, portanto, de algo que está muito
patente hoje em dia e que é a diluição ou a neutralização do próprio conceito
de inovação.
. Mas a inovação não estará sempre dependente de novas
técnicas ou instrumentos? Se assim for, decerto que, mais tarde ou mais cedo,
conhecerá limites...
- Não tanto. Temos casos de utilização de novos
instrumentos e novas técnicas em diversos tipos de música. Estou a lembrar-me
particularmente de Stanley Jordan, um guitarrista com uma técnica assombrosa e
inovadora mas que tocava um jazz totalmente convencional. A utilização de novos
instrumentos ou de novas técnicas em instrumentos não é, pois, condição sine
qua non para existir inovação. Alguns músicos parecem ter chegado à conclusão
que não é possível estar permanentemente a inovar. O último período de grandes
e radicais inovações centrou-se nas décadas de 60 e 70 e aquilo que se seguiu
posteriormente é ao mesmo tempo uma consagração dessas inovações e uma
tentativa diferente de as perspectivar. Ou seja, fazer o mesmo mas de outro
ponto de vista, de outra forma.
. E esse fazer pode ser cerebral, ou não?
- Em muitos casos é intencional. Em primeiro lugar,
existe hoje um maior acesso a todas as formas musicais contemporâneas. Os
músicos caracterizam-se hoje por procurar sons diferentes, ficando assim sob a
influência de coisas muito diversas, tanto a nível geográfico como histórico.
Trabalham com vários materiais, mesmo que não o façam numa perspectiva de
fusão, como é o caso de John Zorn. Depois, temos os casos de músicos que fazem
perspectivações e transversalidades que passam de facto por um exercício muito
cerebral, não só na música experimental, mas também no rock e na pop. Trata-se
de música feita por pessoas que também escrevem sobre música. Ou seja, têm uma
actividade jornalística ou teórica, e compreendem muito bem o que acontece à sua
volta. A sua abordagem não é, portanto, inocente. Por exemplo, na música
experimental temos os exemplos de Alan Licht, David Toop, Dan Warburton e até
de Eugene Chadburne, que foi jornalista e crítico musical. No caso do rock
mainstream posso dar o exemplo de Marlyn Manson. Aquilo que ele faz nada tem de
inocente ou espontâneo.
. Mas há bons músicos com essa “inocência” ...pelo menos
na música rock... o que já parece mais difícil na música improvisada.
- Sim... por exemplo aquilo que os SunnO))) nos dão a
ouvir é inocente, na medida em que eles não têm plena consciência do que fazem.
Mas fazem-no muito bem... e se calhar até revelam mais frescura que alguns dos
artistas ditos pensadores das músicas. Na música experimental, e no caso da
improvisação, abundam os músicos que tiveram formação clássica ou académica.
Nalguns casos são virtuosos que entraram em ruptura com essa aprendizagem, mas
aquilo que fazem reflecte inevitavelmente esse passado. É música que está
iluminada por tudo aquilo que aprenderam e fizeram, mesmo que eles afirmem
querer destruir esse edifício que deixaram para trás. É, de facto, muito
difícil ouvir música inocente na área da música experimental.
. À luz destas discussões, como vê as cenas
norte-americanas do novo noise ou da free-folk?
- Há muita coisa a acontecer. O caso de um grupo como os
Black Dice não me parece muito tomado pela inocência. Eles são um testemunho de
como hoje em dia é muito difícil um músico não estar informado sobre aquilo que
o rodeia em termos de sonoridades. Relativamente à New Weird America, como a
revista “The Wire” chamou ao que se passa nos EUA, trata-se de grupos que
misturam a folk com o free-jazz, a pop com experimentalismos vários ou com o
krautrock, fazendo assim cada vez menos distinções entre as supostas altas e
baixas músicas. Na verdade, estão-se nas tintas para isso. Fazem música popular
e ao mesmo tempo música de arte.
. Então podemos falar com propriedade de uma evolução da
música popular urbana...
- A questão talvez possa ser explicada de outra forma.
Até aos anos 60 e 70 havia frentes musicais mais ou menos organizadas, existia
determinado número de grupos, músicos e artistas que praticavam músicas com
identidades próprias. Tratava-se de blocos, ou se quiser, de colectivos de
gente que foi introduzindo novas tipologias de música. A partir dos anos 80,
contudo, julgo que houve uma atomização da música, com a consequente
individualização de práticas musicais. Quanto ao free-folk e ao new-noise
parecem-me reformulações de músicas que já existiam. São híbridos, como muitas
outras coisas noutras áreas. Vivemos num tempo de construção de híbridos
musicais e presumo que será assim durante muitos anos.
. Voltando aos seus livros, este têm um olhar muito forte
que incide não só sobre a música, mas também sobre temas como a política. Este
extrapolar do campo da música para o campo mais vasto da história cultural
lembra por exemplo Greil Marcus... Sente afinidades com este autor?
- A maior parte dos meus autores preferidos não escreve
sobre música. Vêm das áreas da filosofia, da sociologia, da antropologia. São
estas as minhas referências de pensamento. Em termos musicais não posso dizer
que tenho uma refer~encia directa. Entre os críticos e teóricos Greil Marcus é
talvez aquele que mais me tocou, de facto, devido sobretudo ao assombroso
“Lipstick Traces”, o livro em que aborda o fenómeno punk a partir de todas as
suas raízes possíveis e imaginárias, ao longo da história humana.
. Também é jornalista. Enquanto tal como vê o papel dos
seus pares no contexto nacional?
- É triste dizê-lo, mas sou o único jornalista
profissional a escrever sobre estas músicas. Esse é um reflexo da triste
realidade em que vivemos no nosso país e m termos de comunicação social. Não
existem jornalistas profissionalizados nas margens de tipologias musicais como
o jazz e o rock ou em músicas sem grande ou com nenhum relevo comercial como
são a livre improvisação, a electroacústica, a new music, os experimentalismos
vários, a sound art. Encontramos alguns curiosos e interessados, e alguns deles
com bastante qualidade, mas não são profissionais e geralmente escrevem em
publicações fora do maistream porque este lhes está vedado, como aliás está
para mim. Talvez a única excepção seja a de Jorge Lima Barreto que o faz desde
os anos 70, mas cada vez menos de forma regular e permanente, ou o Fernando
Magalhães, que entra em certas áreas sem contudo se aventurar nas músicas mais
experimentais.
. A descrição que faz parece-me muito pessimista. Foi, na
sua opinião, sempre assim?
- Sim... o cenário foi sempre assim desde que me lembre.
Aliás, vivo hoje permanentemente as consequências desse facto. Quando saí do
“Diário de Lisboa” e mais tarde do “Independente” tive de separar a minha
actividade jornalística não-musical da minha actividade enquanto crítico, pelo
que passei a trabalhar quase como um saltimbanco. Rapidamente percebi que as
publicações com as quais colaborava não estavam muito interessadas naquilo que
fazia. Achavam que não era comercialmente vantajoso, que era demasiado elitista
e estranho, pelo que ao longo de um percurso de 19 anos de escrita tive de
saltar de sítio para sítio, e sempre acumulando um day job noutras áreas com
uma escrita sobre música relegada para as noites, os fins-de-semana, os
feriados e as férias. Actualmente, faço críticas para o “JL – Jornal de Letras,
Artes e Ideias” e de forma mais ocasional para outras publicações portuguesas,
como a “All Jazz”. Colaboro ainda nas revistas espanholas “Oro Molido” e
“Margen” e de forma intermitente na francesa “Revue & Corrigée”, para além
de escrever para o website alemão Mex Text. Em Portugal escrevi também para o
“Expresso”, o “Independente”, o “Blitz”, a “Promúsica”, a “Vida Mundial” e
outros, nalguns casos em simultâneo. Algumas dessas publicações morreram, outras
não me prenderam e não me deixaram saudades. Hoje, sou muito requisitado para
escrever textos para booklets de discos ou programas de festivais portugueses e
estrangeiros, e tenho o meu próprio site,
http://rep.no.sapo.pt,
com crítica discográfica, entrevistas e vários artigos.
. Lembra-se em particular de algum momento passado numa
dessas publicações em que se tenha sentido pressionado a seguir outra
orientação?
- Sim, lembro-me de uma publicação por onde passei que me
pediu para aplicar o meu estilo pessoal de escrita à música pop, em vez de
continuar a dedicar a minha atenção aos experimentalismos, às vanguardas e às
margens do jazz e do rock. Perante essa pressão, decidi sair porque entendia
que entre a música pop e a minha escrita sobre música não havia qualquer
relação possível ou imaginária. A minha crítica não é uma crítica pop.
. Como definiria a crítica pop?
- Considero a crítica pop, de um ponto de vista
fenomenológico, como algo que corresponde por inteiro ao fenómeno da música
pop, reproduzindo as suas características: short attention span,
superficialidade, estilismo. O contrário de uma escrita de tipo analítica, que
procura interrelacionações e explicações. A “escrítica pop” não explica: antes
pelo contrário, procura criar mitos. É verdade que alguma crítica pop existente
não é pop [vide o caso de João Lisboa, em Portugal], ou não o é
predominantemente [o Lisboa, quando quer, consegue ser muito pop, verdade se
diga], mas essa é a excepção que confirma a regra e decorre apenas de um outro
fenómeno: a tendência da “abordagem universitária” para conquistar espaço nos
média. Ao longo das décadas, o “Expresso-Cartaz” instituiu este tipo de
jornalismo crítico como padrão.
. O Rui Eduardo Paes teve uma experiência enquanto
músico. Quer contar-nos o que aconteceu?
- Vejo-me mais como um não-músico. Comecei a estudar
música [flauta, solfejo e rudimentos da composição] muito tarde, com um
professor particular chamado Hélio Azevedo, e acabei por abandonar esses
estudos porque não tinha tempo para tudo: preferi dedicar-me ao estudo teórico
da música. Foi na qualidade de “não-músico” que fundei com Carlos Raimundo, dos
Duplex Longa, os Astronauta Desaparecido, o que aconteceu na sequência de um
trabalho de produção que realizei com aquele grupo de avant-pop. A minha
intervenção no grupo era essencialmente como compositor ou conceptualizador,
apesar de ter tocado alguns instrumentos. Utilizávamos uma série de gravadores
de cassetes com sons recolhidos um pouco por todo o lado. Os gravadores estavam
ligados a uma mesa de mistura, vários processadores, um rádio, um gira-discos e
um leitor de CDs e usávamos um teclado Casio, uma guitarra, muitos discos,
percussões, flautas. Os astronauta desaparecido foram um grupo de matriz industrial
e punk que fez uma música com elementos noise, étnicos, jazzísticos, de música
improvisada e outros. Não era uma música inocente, decididamente. Editámos o
nosso único trabalho – “Sound And Fury” – em cassete, numa editora do Porto
chamada Tragic Figures e na altura chegou a ter algum sucesso nos circuitos
mais underground. Em breve vou voltar a envolver-me em trabalhos musicais.
Estou a preparar com Carlos Santos, dos Vitriol e dos [des]integração, um duo
no qual vou dizer textos da minha autoria, sendo que a minha voz será
processada em tempo real e acompanhada por sons concretos.
. Os Astronauta Desaparecido chegaram a dar concertos?
- Não. Éramos um grupo de estúdio. Ainda que
trabalhássemos o mais espontaneamente possível e habitualmente gravássemos as
coisas ao segundo take, a verdade é que éramos um projecto de estúdio, de
montagem, de maneira que tocar ao vivo naquele formato era praticamente
impossível.
. Fez parte então da história da música portuguesa. Como
caracterizaria a condição actual desta última, nas suas diferentes
manifestações?
- Sobre a cena jazz devo dizer que não a tenho
acompanhado. Cheguei a fazê-lo nos anos 80 mas depois afastei-me. A música
estava a ficar deprimente, conservadora e medíocre, com notáveis excepções como
era o caso de, entre outros, Rão Kyao. Sobre a música pop e ligeira pouco posso
adiantar, pois não me interessam. No que diz respeito às músicas experimentais
onde estou mais envolvido, aí sim, posso dizer que nos últimos cinco, seis
anos, se verificou uma evolução muito positiva com uma série de músicos a
conseguir furar a barreira das fronteiras nacionais. Nestes últimos anos, a
música experimental portuguesa começou a ter uma relevância importante, ainda
mais lá fora do que cá dentro, uma vez que em Portugal tende a ser
completamente ignorada ou quase.
Quanto à música tradicional, e se calhar não devia dizer
isto, mas acho que, de um modo geral, é muito pobre. Há poucas excepções e uma
ilustre é-nos oferecida pelos Gaiteiros de Lisboa. Basta compararmos com
músicas de outras regiões do globo. Sobre a música popular devo dizer que
parece ter parado em plenos anos 70. Basta ouvir aquilo que Sérgio Godinho
fazia antes do 25 de Abril e o que faz hoje, foi do fantástico para o banal. Já
no campo do pop-rock alternativo, lembro os casos dos Pop Dell Arte, dos Ocaso
Épico, dos Santa Maria Gasolina Em Teu Ventre... que infelizmente não me parece
terem tido uma continuação.
. Como vai ser o seu próximo livro? Poderia desvelá-lo um
pouco?
- O próximo livro será uma espécie de complemento do
espectáculo Senso, de Carlos Zíngaro, que esteve no Instituto Franco-Português
em Novembro. Tem o mesmo tipo de preocupações e o mesmo conceito. Vai utilizar
desenhos que foram projectados no espectáculo, da autoria de Zíngaro, e espero
que marque um salto estilístico no contexto do meu trabalho de escrita. Os
livros que até agora publiquei foram sempre o resultado híbrido da minha
escrita jornalística com uma escrita ensaística. Agora pretendo tornar a
presença da primeira muito menor e acentuar uma maior dimensão literária.
. A música vai continuar a ser o objecto central?
- Sim, mas tratar-se-á de uma escrita mais especulativa e
subjectiva, e que vou querer mais literária e até poética. Esta minha decisão
surgiu durante a feitura de “Stravinsky Morreu”. Estive um ano a fazer pesquisa
e outro a escrevê-lo, constantemente interrompido pelos meus outros afazeres,
mas no meio de todo aquele processo comecei a sentir-me insatisfeito com o tipo
de escrita que tenho estado a desenvolver. Desejo avançar para um registo em
que a abstracção tenha uma maior presença. E o “Senso” veio permitir-me
exactamente isso. O mote do espectáculo foram o violino e o violinista e procurou-se
sublinhar a ideia do sofrimento físico implícito no acto de tocar o violino, um
instrumento que é extremamente incómodo e que nos remete para a exarcebação dos
sentidos. Uma das imagens do “Senso” era, por exemplo, um violinista todo
deformado e é precisamente isso, numa analogia para a escrita, que vou fazer no
meu próximo livro. Procurarei abordar questões que têm a ver com a anatomia, a
psicologia, a acústica.
site do crítico - http://rep.no.sapo.pt/
lista pessoal de REP - os 100 melhores discos de sempre - "Os 100 discos da Minha Vida":
http://rep.no.sapo.pt/Os100discos_1.htm














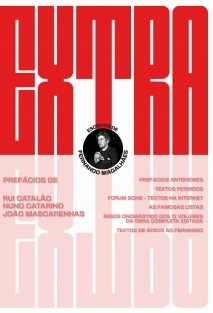


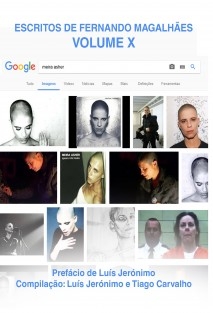


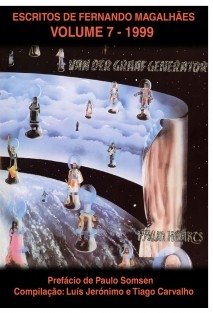







_Bubok.jpg)




























Sem comentários:
Enviar um comentário