Ian Curtis / Joy Division
Dossier de 5 páginas, no
DN:música de 13 de Maio de 2005
Autor: Nuno Galopim
Figura aparentemente distante, autor expressivo, músico visionário, Ian Curtis viu-se transformado em mito pop pela morte precoce, que o levou, por suicídio, meses antes de completar os 24 anos de idade. Era, contudo, um jovem comum, cidadão suburbano com vida feita na periferia de Manchester, melómano profundo, funcionário público por obrigação, músico por sonho concretizado. Desde cedo mostrou uma admiração pelos ícones pop cedo ceifados pela morte. Morte também presente nas suas canções, as últimas das quais embebidas numa pulsão suicida quase denunciadora da tragédia que se concretizou a 18 de Maio de 1980, quando se enforcou na cozinha de sua casa, com a corda de estender a roupa. A sua mulher, Deborah Curtis, afirmaria mais tarde que, caso tivesse acompanhado em estúdio a gravação do segundo álbum, Closer, registado poucas semanas antes do seu suicídio, ouvido as canções e escutado as letras, teria descodificado o estado de depressão e angústia profunda que expressavam, e eventualmente evitado o desfecho que a história registou. Apesar da carta que deixou à mulher, a morte de Ian Curtis não tem motivo conhecido. Terá sido o degradar terminal de um casamento então já à beira do desmembramento? O reforçado impulso suicida vincado pela epilepsia que lhe foi diagnosticada em 1978? A rejeição por parte da amante Annik Honoré nos momentos de ataques? O avolumar da agenda de espectáculos (que amplificou a regularidade e intensidade dos ataques)? A iminência de uma digressão americana e de todo um potencial futuro mais exigente? Um acumular destas e de outras razões?
Intrinsecamente ligada à figura, voz e escrita de Ian Curtis, a Joy Division foi uma das bandas que abriu a porta à década de 80 e uma das mais marcantes forças criativas da sua geração. Formada na ressaca da revolução punk, avessa à luminosidade festiva da new wave que se lhe seguiu, a Joy Division foi a primeira banda que conseguiu captar, não a raiva e energia, mas antes a ambiência e sentido de identidade do punk e projectá-los num espaço diferente que abriu alas ao desenho de uma atitude melancólica que dominaria a cena pop/rock alternativa na primeira metade de 80. Apesar das manifestações primeiras de uma certa desordem formal característica do punk, a depuração de ideias e linhas, o aflorar de um ideário urbano, tortuoso e solitário em tempestades interiores, e a posterior entrada em cena de sintetizadores fizeram da Joy Division um dos mais entusiasmeantes laboratórios de reinvenção pop que a Inglaterra conheceu na passagem de 70 para 80. Em vida de Ian Curtis, tinham decidido que a saída de qualquer membro da banda decretaria o seu fim. A sua morte, em 1980, fechou antes do previsto o tempo da Joy Division. Das suas cinzas nasceriam os New Order. Mas essa é outra história...
25 anos depois da sua morte, Ian Curtis e o legado da Joy Division são presenças vivas na música e cultura popular. Interpol ou Mount Sims herdam claramente os seus ensinamentos. Anton Corbijn, que os fotografou e realizou o belíssimo teledisco de Atmosphere, vai rodar a adaptação ao cinema do livro da viúva, Deborah, Touching From A Distance (traduzido por Ana Cristina Ferrão como Carícias Distantes, editado pela Assírio e Alvim em 1996).
Ian tem o seu primeiro emprego a sério numa loja de discos, a Rare Records, no centro de Manchester. Nunca tinha estado tão próximo do mundo da música, e para ganhar o lugar na loja estuda com entusiasmo velhas edições de jornais e revistas.
É aceite e colocado na secção pop, na cave.
Em Abril de 1974 Ian e Deborah estão noivos. Ian abandona o salário seguro na Rare Records, e monta uma banca no mercado de antiguidades de Butter Lane. Ia vender discos em segunda mão. O primeiro stock custa-lhe a própria colecção. E não poupa sequer a sua muito querida cópia de The Man Who Sold The World, de Bowie. Mas não faz nunca dinheiro suficiente para pagar a renda da desejada nova casa e acaba à procura de novo emprego. Encontra-o num departamento do Ministério da Defesa. O homem que sonhava em ser músico é agora um funcionário público, em horário das nove às cinco.
Depois de casados, Ian e Deborah mudam-se para uma casa própria em Oldham. No novo bairro são como alienígenas, não têm amigos nas redondezas. Afável, conversador, Ian abre a porta a toda a gente. Um dia, o candidato liberal à autarquia local bate à porta. Vende o seu discurso... Reaparece no dia da eleição para transportar, de carro, Ian e Deborah à mesa de voto. Mas, como sempre, Ian vota nos conservadores. E convence Deborah a fazer o mesmo, não fosse um voto em contrário anular o seu!
OS WARSAW. A rotina do casamento aguça o sentido de frustração em Ian Curtis por não ter nenhuma ligação e envolvimento na cena musical. Reza a mitologia que os primeiros passos para a aventura que meses depois se veio a chamar Joy Division são dados depois do marcante concerto dos Sex Pistols no Lesser Free Trade Hall de Manchester. Bernard Sumner e Peter Hook, respectivamente guitarrista e baixista, estão presentes. Deborah, no seu livro, conta que também ela e Ian lá estiveram... Mas em mais nenhum relato se fala da presença do futuro vocalista da Joy Division na sala (enfim, mitologias). O certo é que, semanas antes, Ian Curtis havia publicado um anúncio na imprensa musical no qual, assinando como Rusty, propunha a formação de uma banda. Obtém uma resposta, a de um guitarrista chamado Ian Gray. Juntos começaram a trabalhar e a circular na noite de Manchester, até que encontraram Sumner e Hook. A intensidade da relação musical com os novos amigos condu-los inevitavelmente no sentido da concretização do sonho de Ian: ter uma banda. Nesses dias, o casal Curtis muda-se para nova casa, em Macclesfield, na qual uma sala é guardada para uma nova função: a escrita e composição.
Ian Curtis, Bernard Sumner, Peter Hook e um primeiro baterista, Tony Tabak, apresentaram-se pela primeira vez em público a 29 de Maio de 1977 no Electric Circus como Warsaw, nome directamente inspirado no instrumental Warsawa, do álbum Low de David Bowie. A crítica no Sounds é desmotivadora. Mas Paul Morley, no NME, afirma que “existe uma faísca elusiva da dissemelhança nas bandas mais recentes que indica que têm ainda muito para mostrar. Gosto deles e irei gostar ainda mais daqui a seis meses”. Paul Morley, descoberto numa fanzine e contratado pelo NME para retratar o que parecia uma invulgar agitação na cena musical de Manchester seria o “padrinho” da futura Joy Division na primeira liga da imprensa musical inglesa, um dos muitos parceiros de uma aventura colectiva que iria marcar a história da música. Desses primeiros tempos data ainda o contacto com Martin Hanett, que antes mesmo de surgir em estúdio como produtor, surge em cena como promotor de eventos, alguns dos quais com os iniciados Warsaw.
As canções dos Warsaw (que tinham encontrado novo baterista temporário em Steve Bothersdale) são ainda meros esboços de intenções, e as letras de Ian Curtis primeiras manifestações de uma demanda pessoal. A energia da banda e a sua entrega compensam contudo as evidentes imperfeições. Um anúncio numa loja de música leva-os ao encontro com Steve Morris e este assume de vez o lugar de baterista. Ian trabalha, agora, como assistente social num centro de reintegração de deficientes perto de casa; Sumner trabalha em publicidade... Tentam uma primeira aparição televisiva na local Granada Television. E vêem-se brindados pelo entusiasmo da Virgin, que os grava ao vivo para uma compilação de talentos locais. Uma outra primeira gravação de quatro temas em nome próprio (com capa de Bernard com referências à imagética nazi e impressão a cargo de Steve) ocupa-os logo depois. O EP, de título An Ideal For Living assinala, em Janeiro de 1978. O nome, inspirado na ala dos campos de concentração nazis nos quais eram mantidas as prostitutas de serviço aos oficiais alemães, causa inevitável polémica. A mudança de nome, curiosamente, conduz também a mudanças formais na composição da banda. O punk era agora apenas um eco aceite como herança, as melodias mais cuidadas, as letras mais expressivas. A banda ainda toca mal, problema secundário. A crescente popularidade local dos Warsaw transferiu-se para a nova Joy Division, em concertos já com evidente legião de fãs. Por esta altura, através do investimento de alguns amigos e entusiastas locais (entre os quais profissionais do escritório local da RCA que Ian visitava regularmente), o grupo junta-se nos Greenwood Studios para gravar aquele que poderia ser o seu primeiro álbum (mas não foi). Mas as gravações desapontam o grupo. E acabam na gaveta (editadas dez anos mais tarde numa famosa bootleg).
Uma noite, pouco depois, no Rafters (em Manchester), escreve-se história a tinta permanente. Tony Wilson, jornalista da Granada TV e apresentador do programa musical So It Goes (fundamental montra da revolução punk), ao descer as escadas do clube, é confrontado com um vómito irado de palavrões e insultos do habitualmente pacato Ian Curtis, que o critica por nunca ter levado a banda ao seu programa. Diplomata, Wilson responde que a Joy Division era a sua própria escolha. Satisfaz Ian, tranquilizado pelo efeito de missão cumprida. E a verdade é que, dias depois, tocam Shadowplay frente às câmaras.
Apesar de possuído por esse sonho chamado Joy Division, e por dedicar cada vez mais tempo a grandes conversas sobre livros, filosofias e ideias bizarras com Bernard Sumner, Ian ainda vive com entusiasmo a vida familiar. Deborah engravida e nove meses depois entra em cena a pequena Nathalie.
Mas aquele 1978 é sobretudo um tempo de agitação criativa para Ian Curtis e banda. Assinam um acordo de management com Rob Gretton. Gravam um tema para o sampler de estreia da editora Factory de Tony Wilson, e acabam por descobrir casa editorial para sempre. No fim do ano, contudo, Ian tem o seu primeiro ataque epiléptico registado. Teimoso, só comparece a uma consulta de especialidade em finais de Janeiro de 1979, duas semanas depois de surgir pela primeira vez na capa do NME fumando um cigarro e depois de gravada uma primeira sessão para John Peel na BBC.
A personalidade maníaca de Ian não é mais uma novidade para os amigos e colegas, que já lhe conhecem a volatilidade temperamental e tendência depressiva. A epilepsia contudo é um factor novo, e começa a atormentar os concertos. Ian era já conhecido por assumir em palco uma dança frenética, espasmódica, como que estilizando as convulsões características da doença. Porém, ao longo dos largos meses seguintes, os ataques deixam de ocorrer apenas depois de terminados os concertos, para se manifestarem ainda em palco. Mas, por enquanto, sem consequências trágicas. Medicado, Ian continua.
A música da Joy Division evolui sombria, já evidentemente caracterizada pela presença possante do baixo de Petr Hook. As letras, quadros de desespero emocional e ansiedade urbana pós-industrial, vincam essa negritude depressiva. Era já a expressão superficial da melancolia natural em Ian Curtis, mas colegas e muitos admiradores só descodificaram os sentidos mais profundos das palavras depois da sua morte.
O PRIMEIRO ÁLBUM. Em Abril de 1979 a Joy Division grava finalmente o que seria, de facto, o seu primeiro álbum. Fundamental na construção definitiva de uma identidade sonora para as canções do grupo, a presença em estúdio do produtor Martin Hanett revela-se fulcral. As canções, mesmo que ocasionalmente imperfeitas na arte final, são gritos de identidade dotadas de um invulgar sentido de urgência. A música, quase minimalista, capta o desespero patente na escrita de Ian Curtis e a sua voz parece buscar catárse na partilha com o ouvinte. Hannett encontra-lhes a cenografia ideal, um espantoso sentido de espaço, sugere malabarismos técnicos e formais e define em Unknown Pleasures um dos álbuns mais influentes do seu tempo. A capa, a cargo de PeterSaville, sublinha a imortalidade potencial do disco.
A gravação e mistura do disco quase coincide com o nascimento da filha de Ian Curtis. Contudo, apesar das expressões de amor paternal, a vida doméstica não é mais a prioridade de Ian. Quando está em casa ouve música ou entrega-se à leitura de autores como Dostoiévski, J. G. Ballard, Nietzsche, Sartre ou Hermann Hesse. Os concertos que se seguem ao disco, a recepção nos media, o entusiasmo de uma legião de admiradores em crescimento tomam a sua atenção. Editado em Junho, o álbum colhe críticas diversas. No Sounds, o texto aponta-o como um potencial catalisador de suicídios!
A banda actua intensamente depois da gravação de Unknown Pleasures e da edição do single Transmission, e os ataques de epilepsia multiplicam-se. A banda é agora quase um emprego full time, mas ainda incapaz de gerar salários expressivos. Ian faz de tudo para ganhar dinheiro extra. Limpa a sala de ensaios, cola folhas de lixa na capa do álbum de estreia dos Durutti Column. Os concertos, mesmo assim, surgem com agenda cada vez mais intensa. Os ataques crescem proporcionalmente, assim como aumentam as dificuldades de comunicação entre Ian e quem o rodeia.
Em Agosto, ao assumir o lugar de banda de suporte numa digressão dos Buzzcocks, a Joy Division torna-se em pleno uma banda profissional, e todos abandonam os seus empregos não musicais. Em grupo, fora do palco, Ian começa a desenvolver uma atitude de alheamento aos fardos do dia-a-dia. Não carrega instrumentos, furta-se às obrigações não performativas. Bernard acompanha-o. Hook e Morris toleram...
A 16 de Outubro de 1979, numa pausa na digressão dos Buzzcocks, a Joy Division toca em Bruxelas, no Plan K: É aí que se pensa que Ian terá conhecido a fã Annick Honoré que rapidamente se torna sua amante e sombra omnipresente (para descontentamento dos restantes membros da banda). Quando de regresso a casa Ian está cada vez mais distante, ausente.
Em Janeiro de 1980 o grupo parte para uma exigente digressão europeia. Apesar da política de Greton que pede o afastamento de mulheres e namoradas, Ian leva Annick consigo. Ataques ocasionais ensombram a digressão. Nesses momentos, Annick afasta-se, Ian sente a rejeição e experimenta o frio da solidão. Publicamente, contudo, a banda vive momentos de glória. As canções são cada vez melhores, a voz de Ian mais encorpada e expressiva. A letras mais intensas.
UMA PREMONIÇÃO. Em Março de 1980 o grupo regressa a estúdio para gravar um segundo álbum. Hannett está novamente na dadeira de produção, e volta a interferir na condução da atmosfera dominante. Ian está inspirado, entregue à criação. Mas a sua escrita revela-se mais gélida que nunca, implacável contra si, contra o futuro. Uma premonição? Se o álbum anterior havia definido um rumo, este novo explode em todas as direcções, numa erupção espantosa de criatividade bem estruturada. Os teclados afloram com maior evidência, acrescentando ferramentas dramáticas ao arranjo das melhores canções da obra da banda. O vazio explorado na lírica é aqui oposto evidente da massa sonora e grandiosidade formal.
Um mês depois de gravado Closer, Ian Curtis toma uma overdose de medicação contra a epilepsia. É levado para o hospital, onde lhe é lavado o estômago. Ian é visto por um psiquiatra nessa noite, que conclui contudo que o paciente não é potencial suicida! Mas Ian chegou mesmo a deixar uma nota de suicídio à mulher, que Deborah não divulga aos amigos e familiares. No seu livro conta que se sentiu marginalizada pelo marido e banda, e que desde Unknown Pleasures não conhecia as canções nem lia as letras. Não conhecia a nova realidade da natureza profunda da alma de Ian...
Aconselham-no a uma pausa, e por dias deveria ficar numa casa de Tony Wilson em pleno campo. Mas no dia seguinte levam-no para o Deby Hall, em Bury, onde chegam a discutir se dão ou não o concerto, tal é a debilidade do vocalista. Ian canta dois temas. E os fãs, desencantados, revoltam-se e quase destroem a sala. Ian segue para casa de Tony. Este e mulher desconhecem, todavia, a verdadeira dimensão da sua depressão, agravada certamente pela progressiva degradação da vida familiar (claramente retratada no single Love Will Tear Us Apart que então acabara de gravar), a precariedade da relação extra-marital, consequência clínica potenciada pela epilepsia, e um descontentamento para com a indústria musical. Este último, confessa-o a Deborah quando consigo vai a uma consulta de psiquiatria, a caminho da qual lhe terá dito que se havia realizado com as edições de Transmission e Unknown Pleasures e que tanto Closer como Love Will Tear Us Apart não faziam já parte das suas aspirações. Segundo Deborah, Ian desejava abandonar a banda. Terá dito mesmo a Stephen Morris, mas este julgou que o vocalista se queria mudar para outro lugar. Decades (de Closer) já havia levantado um debate interior sobre a futilidade da vida numa banda (e da vida em geral)...
O EPÍLOGO. Com o divórcio entre as preocupações imediatas, Deborah vê a agenda de concertos da banda conhecer nova erupção entre Abril e Maio, mês no qual o grupo deveria partir em digressão para a América. Ian vive então na casa de Tony Wilson, depois está algum tempo com Bernard e mais tarde regressa a casa dos pais.
A 2 de Maio, em Birmingham, a Joy Division dá o seu último concerto. O passo seguinte era americano, numa viagem preparada para assegurar conforto e cuidados ao vocalista. O velho amigo Terry Mason seria o responsável pelo seu bem-estar, pela medicação, pela tranquilidade. Loucuras e prazeres típicos de bandas em digressão estão vetados.
Uma visita ao especialista de epilepsia coloca-o, a 6 de Maio, frente a um médico novo. Ian dá-lhe a ideia de um homem que quer recuperar e começar vida nova... Depois da consulta oferece a Terry alguns dos seus discos, entre os quais algumas raridades. Indícios para um fim em vista?
A 13 de Maio regressa a casa para ver mulher e filha. Tira uma fotografia com Natalie, a sua última fotografia. Nos dias seguintes está com amigos e colegas, discutindo com aparente entusiasmo a viagem à América. No dia 17 tem uma longa conversa com a mulher. Esta, no seu relato, recorda que nas primeiras horas da manhã ele tinha visto um filme de Herzog, bebido café e estava animado. Falaram da degradação da relação, de Annik, do seu receio em que ela conhecesse um homem enquanto ele estivesse fora. Deborah acaba por ir dormir a casa dos pais. Ian pedira-lhe para não regressar antes das dez da manhã, hora a que deveria apanhar um comboio para Manchester.
Bebe mais café, acaba a garrafa de whisky que tinham na despensa. Tira a fotografia da filha da parede, ouve The Idiot de Iggy Pop e escreve uma longa carta à mulher. Pedia-lhe para não entrar em contacto com ele durante algum tempo porque lhe era difícil falar com ela, revelou Deborah mais tarde. Esta regressa de manhã a casa. Sente a falta do cheiro a tabaco na sala. Vê a carta sobre a lareira, e, olhando para o lado, constata que Ian ainda ali está, ajoelhado, na cozinha. Fala com ele. Só então repara na cabeça tombada, as mãos sobre a máquina de lavar, a corda em volta do pescoço.
O corpo de Ian é velado na Chapell of Rest, onde Tony agenda cautelosamente a visita de Annick, para evitar mais dramas. Tony Wilson também convida Paul Morley a comparecer, mas este fica à porta e recua. Wilson convidara-o para escrever “o” livro, mas Morley recusa.
Ian Curtis é cremado a 23 de Maio de 1980. Na lápide Deborah inscreve: “Love Will Tear Us Apart”. Ian era a primeira vítima rock’n’roll dos anos 80 que mal tinham começado.
Love Will Tear Us apart foi editado em Junho, e deu à Joy Division a sua primeira entrada no Top 20. Closer, o álbum, também teve edição póstuma e subiu ao número seis da tabela de vendas, colhendo igualmente críticas de entusiasmo geral. Seis meses depois da morte de Ian, a banda reunia-se em estúdio para gravar um novo single. Bernard Sumner apresentava-se agora como vocalista. Gillian Gilbert, mulher de Stephen, entrava como teclista. Juntos gravaram Ceremony e o fúnebre (premonitótio?) In A Lonely Place cujas maquetes haviam sido registadas com Ian Curtis, duas semanas antes do seu suicídio. As faixas eram parte de um novo single, apresentado como... New Order. É particularmente arrepiante a gravação de In A Lonely Place, canção na qual um morto, enforcado, é carpido por alguém que observa a sua lápide. Terá Ian Curtis escrito sobre a sua própria morte numa bizarra passagem de testemunho? Coincidência? Ou pura mitologia rock’n’roll?
DISCOGRAFIA
Unknown Pleasures
O histórico álbum de estreia da Joy Division, Unknown Pleasures foi editado em Junho de 1979. Gravado em três dias, misturado em dois, reflecte esse mesmo sentido de urgência, capta a intensidade criativa da banda e espelha as marcas de arquitectura espacial definidas pelo produtor Martin Hannett. As canções são marcos na história da cultura pop, cristalização de um sentido de melancolia pop que conheceu paradigma neste e no segundo disco da banda. Um clássico fundamental.
Closer
Editado já depois da morte de Ian Curtis, em Julho de 1980, Closer foi a obra-prima da Joy Division. As permissas partem dos dados lançados em Unknown Pleasures, mas desta feita a criatividade brota em todas as direcções. A escrita é mais pessoal e inspirada, as palavras mais sombrias que nunca. Banda e produtor assumiram o desafio do risco, alargaram horizontes, intensificando o sentido de vitalidade que corre na sua música. Um requiem pop/rock, hoje com dimensão mítica.
Still
Lançado em Outubro de 1981, Still representa uma primeira reunião de notas soltas e gravações inéditas da Joy Division. Pensado como um epitáfio para a banda (os New Order já seguiam então o seu caminho entre os vivos), o disco, duplo, reúne temas do catálogo do grupo não editado em álbum e junta-lhes a gravação do seu último concerto ao vivo, a 2 de Maio de 1980 no High Hall de Birmingham. Neste a banda tocava, a abrir, Ceremony, aquele que seria o primeiro single dos New Order.
Substance
Lançado em Julho de 1988, um ano depois de editado um best of dos New Order com o mesmo título, Substance reuniu os singles e temas de maior destaque da obra da Joy Division, e permitiu constar que a obra da banda estava a passar de mãos para uma nova geração de admiradores. O alinhamento é representativo, do velho Warsaw ao derradeiro Love Will Tear Us Apart. Atmosphere foi reeditado como single antes da compilação. Em simultâneo foi também editado um vídeo com o mesmo título.
Permanent
Em 1995 uma segunda antologia devolveu a Joy Division aos escaparates das novas edições. Desta feita sob o título Permanent, a antologia revela um alinhamento ligeiramente diferente do de Substance, e acrescenta ao lote de memórias uma escusada remistura de Love Will Tear Us Apart, por Don Gehman. A edição justificou-se pelo facto de novas bandas, dos Smashing Pumpkins aos Nine Inch Nails ou Low apontarem a Joy Division como referência fundamental nas suas obras.
Heart And Soul
Depois de duas antologias em formato de best of, a caixa Heart And Soul, de 1996, apresentou ao mercado uma colecção praticamente integral das gravações da Joy Division. Aqui estão os dois álbuns de originais, as faixas editadas em single, sessões para rádio, demos de estúdio (entre as quais as derradeiras gravações de Ian Curtis, duas semanas antes da sua morte, nas quais registou Ceremony e In A Lonely Place que só seriam editados pelos New Order), e muitas gravações ao vivo.
Preston 28 February 1980
Em 1999 iniciou-se a edição de uma série de gravações ao vivo da Joy Division. O primeiro disco, Preston 28 February 1980. Registo imediatamente anterior à gravação do álbum Closer (do qual tocam já as canções The Eternal, Twenty Four Hours, Heart And Soul e Colony), o disco exibe contudo um concerto no mínimo bizarro, no qual uma série de coisas correram mal. A dada altura o próprio Ian Curtis chega-se mesmo ao microfone para pedir desculpa pelos problemas...
Complete BBC Recordings
Em 2000 foram reeditadas em CD, num disco só, as sessões que a Joy Division gravou para a BBC. Em Complete BBC Recordings é reeditado todo o conteúdo do disco Peel Sessions (lançado em 1996), ao qual se acrescenta uma actuação no programa Something Else (em 1979), e ainda uma entrevista no programa Rock On, de Richard Skinner. A primeira e histórica sessão, em Janeiro de 1979, incluía Exercice One, Insight, Transmission e She’s Lost Control. John Peel foi um grande divulgador da banda.
Les Bains Douches 18 December 1979
O segundo disco de memórias de palco da Joy Division foi editado em 2001. Les Bains Douches 18 December 1979 regista uma actuação parisiense da banda na recta final do ano da sua definitiva afirmação. A gravação já havia sido editada num bootleg lançado em 1984 de título Live In Paris. O alinhamento é característico dos concertos da época, reflectindo já a presença de temas a registar em estúdio no futuro próximo, entre os quais Love Will Tear Us Apart. A gravação não é de primeira água...
Nascidos em 1982, mas revelados em disco apenas em 1983 no single Glória, a Sétima Legião representou a mais importante materialização nacional da herança Joy Division, patente não só nesse single como também no álbum A Um Deus Desconhecido (1984). “Ouvi-o [Ian Curtis] cantar e aquilo mudou a minha vida”, confessa emocionado, mais de 20 anos depois, Pedro Oliveira, fundador e vocalista da Sétima Legião. Descobriu a Joy Division no programa Rotação, de António Sérgio. “Misturava uma coisa subliminar com uma religiosidade espantosa. Era muito forte. Música, estética, temas, estava lá tudo o que eu queria... Eu tinha 16 ou 17 anos e quis, depois, fazer uma coisa semelhante”, lembra. Este entusiasmo, partilhado com o seu amigo Rodrigo Leão conduziria à formação da Sétima Legião, na qual lembra que “filtrávamos o mesmo espírito, naturalmente adaptado ao que nós éramos”.
Como sucede além-portas (ver caixa), a música da Joy Division ainda hoje estimula novas bandas. Os The Gift, em colaboração com Rodrigo Leão e Pedro Oliveira, criaram o concerto “paralelo” Madchester Mad Remixes, no qual tocam versões de Atmosphere, Decades e Love Will Tear Us Apart. Nuno Gonçalves teve um primeiro contacto muito cedo com a Joy Division quando o irmão lhe mostrou Love Will Tear Us Apart. Não gostou. Anos depois reencontrou uma cassete com Closer, e a reacção foi diferente: “Fiquei fascinado pelo Decades, a música que mais vezes ouvi na minha vida”. Encantou-o a convivência de uma lírica “difícil de entender” com uma música acessível. “Comprei depois o livro dos poemas, que saiu pela Assírio e Alvim”.
David Benasulim, dos Ultimate Architects também assume a herança de Curtis. Descobriu a Joy Division, num dia em que foi a casa de um amigo ver a guitarra e bateria do irmão dele (o Sapo então nos Pop Dell’Arte e hoje nos Mão Morta). Olhou para a parede e viu “posters”, e artigos de revistas fotocopiados com fotos de bandas esquisitas, a preto e branco, com gente estranha e olhares alucinados... eram os Joy Division”. Transmission foi, logo depois, o primeiro tema que ouviu: “A voz entrou em mim, a bateria e as guitarras formavam uma atmosfera diferente das músicas que estava habituado a ouvir na rádio. O ambiente em casa do Sapo, os instrumentos, os Joy Division, a voz de Ian Curtis, fizeram com que despertasse o desejo de fazer música e formar uma banda.” Curiosamente, anos depois, os Ultimate Architects incluíam uma versão de Transmission no seu set ao vivo: “O desespero, claustrofobia, força contida, poesia negra e desesperada desta letra arrebataram-me”, remata.
Comprou o primeiro disco em Londres, como tantos outros, pela sugestão do nome da banda. Ou, talvez, porque já tivesse lido alguma crítica no New Musical Express ou Melody Maker, as “bíblias” que então se encomendavam na Distri, em Lisboa. As letras, afirma hoje, eram depressivas, como o ambiente frio e operário de Manchester, e em português até soariam a algo piroso. “Não te vás embora em silêncio!”. “São grandes canções de amor”, atalha a companheira Ana Cristina Ferrão, que em meados de ... traduziria para a Assírio e Alvim Touching from a Distance / Carícias Distantes, a biografia de Ian Curtis escrita pela sua mulher, Deborah Curtis.
Seja como for, o som era “brutal”. De bom. E em boa parte, como descobriu mais tarde com Ricardo Camacho, tudo se deveu a Martin Hannett. “O 5º Joy Division”, o homem da produção que encontrou “aquele som de estilhaço constante” ao fechar a bateria numa cápsula de vidro; que “abriu o baixo”; que “captou a voz de Curtis com o microfone demasiado alto, obrigando-o a esticar o pescoço e abrir o peito – e isso reflectiu-se nos espectáculos pois começou a gesticular de maneira diferente”.
Sem menosprezar a inovação e qualidade das canções e poesia, António Sérgio aponta vários factores que contribuíram para o sucesso da Joy Division: a Inglaterra vivia uma época criativamente rica; as editoras independentes tinham personalidade e tratavam de todo o conceito associado às bandas, do reportório às capas ou modo como se apresentavam em público; e o jornalismo de autor, com Paul Morley à proa da escrita na primeira pessoa, ajudava a divulgar o fenómeno. Por cá, a transmissão vivia do boca-a-boca e Miguel Esteves Cardoso, então a viver no Reino Unido, trouxe os ecos de além-Mancha à imprensa portuguesa [o DN:música não obteve resposta aos pedidos de entrevista].
“Sociologicamente, foi muito importante o papel que acabou por ter a Factory em todo este movimento”, lembra Ana Cristina Ferrão, “Tony Wilson, o dono, era um artista que se exprimia através da edição”. Um Andy Warhol à sua escala. E a Joy Division surgiu no momento certo. “Como os Sex Pistols. Foram aqueles, podiam ser outros”. Eram “ratinhos de experiências” nas mãos da editora e do produtor, diz António Sérgio, que, já no Rolls Rock da Rádio Comercial, tantas vezes levaria ao éter temas como Transmission. Era mais “uplifted”.
“Havia um gap cultural muito grande entre Tony Wilson e a trupe da Factory, nomeadamente, as pessoas da Joy Division, que viviam da assistência social e eram, de alguma forma, exploradas naquele contexto”, considera Ana Cristina.
Deborah Curtis, que muito mais tarde conheceria numa festa em Londres, “era o protótipo da menina bimbinha que está metida num filma do qual não quer ser actriz. Aí percebemos que aquilo que há da sala de ensaio para dentro não corresponde ao que aparece para fora, e tudo isso acaba por funcionar num imaginário que na Joy Division parece demasiado asséptico. Imaginamos sempre Ian Curtis como o eterno namorado que gostaríamos de ter, elevadíssimo, tentando apanhar o ar, e depois, coitadinho, tinha pés de barro como toda a gente”.
A sofrer de epilepsia, medicado e com acompanhamento psicológico, Curtis estava dividido entre “um affair da Bélgica e uma família que não se encaixava nesse novo estilo de vida”. Para não falar na pressão de uma digressão aos EUA e de ser o homem da voz, instrumento que mais facilmente se degrada. Teve a “sorte” de morrer cedo, deixando uma imagem “deificada”.
Entretanto, “mercê talvez de uma característica demasiado suburbana, a Joy Division transformou-se em culto. A pose fazia parte de uma atitude”, argumentam Ana Cristina e António Sérgio, recordando um concerto da Sétima Legião e dos Croix Sainte nas Belas-Artes de Lisboa. Corpos imóveis, enfiados em roupas escuras.
João Santos, ainda hoje conhecido por Pita, chamava-lhes “a fauna”: “pintavam a cara de branco e os olhos de preto, vestiam-se de preto, usavam Doc Martens, calças muito justas e casacos de cabedal”. Malta “do subúrbio – notava-se imenso”. Gente “calma” de Almada, Amadora, Odivelas, Vila Franca, também fã de Echo & The Bunnymen, The Jesus & Mary Chain, Siouxsie & The Banshees e Bauhaus, conta o disc-jockey que, de 1981 a 1991, fez o som, cortou bilhetes, contratou bandas e foi gerente do Rock Rendez Vous (RRV).
Pita, que em 1993 conheceria Tony Wilson durante o concerto dos New Order no Pavilhão do Restelo, ainda trabalhava no Browns Club quando o dono, piloto da TAP, lhe trouxe Unknown Pleasures. “Achava aquilo tétrico”. Mas, “das 11 à meia-noite, quando não estava ninguém”, passava. No Browns e nos fins-de-semana do 2001, “clubes de rock puro onde não dava para inventar”. Transmission era “para os mandar embora”.
Na época do RRV e de Closer (trazido de Londres pelo dono, Mário Guia), “usava Joy Division para fazer a introdução das bandas” que iam actuar. Como adoravam aquilo, comecei a passar dois ou três temas mais acelerados”. E, por ocasião da data da morte, Ian Curtis chegou mesmo a ser homenageado: “Durante uma hora, só se ouviu Joy Division. No ecrã gigante passavam slides do meu amigo fotógrafo Rui Vasco, que tirou fotos no Marquee em 1977”.
New Order, esses sim, “tinham batida mais do que suficiente para manter as pessoas animadas”, afiança, dado que nos 80 os êxitos nas pistas nacionais pertenciam aos INXS, Nina Hagen, Cheap Trick, Tubes, Elvis Costello, Sex Pistols, Devo, Adam & The Ants ou Cars. Outros tempos, esses da tesoura e cola para conseguir um scratch, diz o agora produtor executivo da Pavilhão Atlântico – que entretanto já foi DJ no Kremlin, Alcântara-Mar, Frágil ou Rock’s (Gaia), manager, produtor de concertos dos Rolling Stones e U2, e gestor da Praça Sony. Só lamenta, desde então, o efeito nefasto das playlist, a dificuldade na distribuição das edições de autor e o facto de as gerações mais jovens, que com um computador podem fazer tudo, reduzirem as referências na guitarra ao som dos U2.










































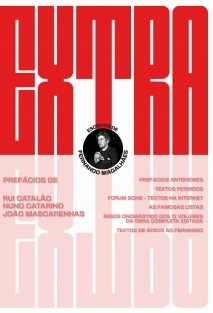


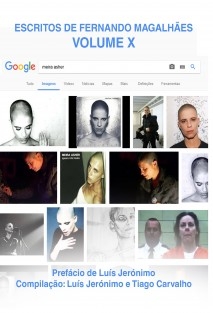


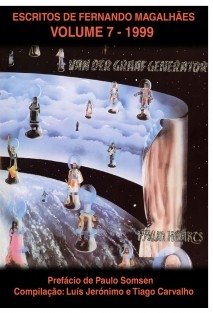







_Bubok.jpg)



























