Banda do Casaco
Entrevista
Diário de Notícias
01 de Dezembro de 2006
Suplemento "Sons" (Sábados)
Entrevistador: Nuno Galopim
Entrevista a propósito da reedição do álbum "Hoje Há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos"
Uma reedição histórica da Banda do Casaco
Histórias do arco da velha
A mais importante e visonária das bandas nascidas no Portugal de 70 reedita, finalmente, o seu terceiro álbum ‘Hoje Há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos’. O álbum, de 1977, pode ser o primeiro na reedição de uma fundamental integral da Banda do Casaco
Texto – Nuno Galopim
Fotos – Diana Quintela
Diferentes entre os diferentes, não alinhados, são, ainda hoje, memória de absoluta referência a resgatar ao esquecimento a que, muitas vezes, a história da música portuguesa é condenada. A reedição do seu álbum de 1977 voltou a juntar Nuno Rodrigues e António Pinho, o núcleo criativo da maior parte da obra da Banda do Casaco. E agora pensam numa justa (e urgente) reedição integral da obra. Passámos com eles uma tarde, trocando ideias e recordando verdadeiras histórias do arco da velha, sobretudo as que nos levam ao Portugal pós-revolucionário...
Quando a Banda do Casaco surge, eram ambos já músicos profissionais, com experiência (e discos) em projectos anteriores...
António Pinho – A Banda do Casaco, aliás, acontece por causa dessa experiência. Um dia o Nuno Telefona-me, diz que tem um grupo, chamado Musica Novarum, e que me gostava de conhecer. A Filarmónica Fraude tinha acabado e ele dizia que gostava de me fazer um desafio e ver se nos podíamos entender. Começou tudo assim. Curiosamente não havia muitos contactos entre a Filarmónica Fraude e a Música Novarum, mas logo que começámos a conversar vimos que havia afinidades nas maneiras de ser. Era uma maneira de ser diferente, que aconteceu com grande naturalidade. Era uma outra época em que não se procurava o êxito, o disco de prata ou de ouro. Procurava-se fazer o que nos apeteceria... Foi o que fizemos, e dali saiu uma coisa inesperada, que para muita gente causou alguma perturbação, especialmente para definir o que isto era.
No Portugal pós-25 de Abril a vontade de racionalizar e catalogar as coisas não se dava bem com o que fugia aos cânones...
Nuno Rodrigues – Continuo a pensar que o Dos Benefícios Dum Vendido No Reino Dos Bonifácios é uma das obras mais de esquerda que se fizeram. Mas de uma esquerda que não quero definir. Em relação à altura não era dar cabo do patrão e falar da conta na Suiça... As letras do António....
AP – Era falar das coisas de uma forma menos explícita, mais surrealista.
Contra a lógica do canto político...
NR – Que, antes do 25 de Abril, era obrigado a usar metáforas. Eles comem tudo... E nós fazemos o primeiro álbum antes do 25 de Abril. E aquela era uma tentativa de desmontagem da sociedade, mas de uma maneira diferente. Era difícil de catalogar. Mas o meu posicionamento político é, hoje, rigorosamente o que então já era. Isto é, não existe.
No pós-25 de Abril o discurso musical dominante em Portugal era politicamente posicionado, de leitura directa, já não metafórico. Mas mesmo assim a Banda do Casaco promovia um discurso não alinhado...
NR – Gravámos sete álbuns de originais entre 1974 e 1984. São dez anos de trabalho. E penso que foi sempre assim. E penso que isso tem a ver com a postura.
AP – Eu não estive lá, mas subscrevo os álbuns que o Nuno fez sozinho. Sobre música que se fazia depois do 25 de Abril tenho de reconhecer que já não usava a metáfora e era má. Na altura escrevia umas crónicas sobre música e numa dada altura falei de um canto livre a que me mandaram assistir. Foi um sacrifício enorme, e desanquei... Houve quem se tivesse indignado comigo, que não estava a compreender... A música pode servir muita coisa. Mas servir levianamente a política, acho uma coisa miserável.
NR – Eu arriscava a “sociolojar”, passando muito à superfície: da mesma maneira que hoje em dia não há público, porque só há artistas, no pós-25 de Abril, quem tinha a necessidade de transmitir ideologia tinha de se tornar artista, mesmo que não fosse. Agora, temos grandes nomes, e não estamos a falar nesses.
A Banda do Casaco sofreu algum revés por, nesses primeiros tempos quentes, não ser alinhada?
NR – Nós apresentámos o primeiro disco na editora Sassetti, que por piada a CNM depois comprou o espólio. Fomos mostrar o disco ao responsável na editora, que era o Pedro Osório. Estivemos lá a tarde e...
AP – Não sei precisar se foi nesse dia, se no seguinte, mas recebi um telefonema do Pedro Osório que foi mais ou menos isto: “vou-te pôr uma batata quente nas mãos... Gosto muito disto que está aqui escrito, mas a música não é grande coisa. Se quiseres eu faço a música para o trabalho”...
NR – Nunca falámos nisto... Esta é, de certa forma, uma resposta à pergunta. Ou seja, a música... não prestava. Não tinha nada a ver com a que se fazia cá, tinha-se de mudar.
Houve também textos críticos com alguma violência...
AP – Até na televisão nós éramos muito atrevidos na forma de nos apresentarmos.
NR – Estávamos a ser entrevistados e perguntaram-nos se não nos incomodava fazermos passar a mensagem de sermos tão elitistas. E o António respondeu: “Ao estado competia criar escolas, a nós, fazer música, e talvez os tipos que andassem na escola pudessem aprender e gostar da música que nós fizéssemos”... É evidente que levámos uma grande cacetada do Mário Castrim.
AP – Lembro-me também dele ter escrito, sobre um programa de televisão onde entrámos: “mas estes rapazes são de esquerda, são de direita... não se definem”! Com uma grande preocupação. Isto porque dissemos no press release do primeiro disco, entre muitas coisas, algumas barbaridades, boas: “Que gostamos de achar bem quando se trata de achar bem, que gostamos de achar mal quando se trata de achar mal. E, infelizmente, hoje em dia, achamos mais mal que bem”...
NR – No press release dizíamos também que comungámos enquanto nos soube bem a bolacha, o que dava uma sensação de ser de esquerda. Mas mesmo em relação à minha família não percebiam bem qual era o posicionamento dominante... Os meus pais respeitavam muito o meu trabalho e gostavam do que fazia, mas perguntavam porque é que tínhamos de ser tão arrojados... As pessoas estavam a jantar e nós aparecíamos na televisão a catar “não há cu que não dê traque”...
E com os músicos da época, como se relacionavam?
NR – Relativamente mal, porque não nos percebiam. Lembro-me de um concerto, em 1977, na Aula Magna...
AP – Precisamente onde mostrámos o Hoje Há Conquilhas...
NR – Era um concerto com a Brigada Victor Jara, os Trovante e nós. Foi uma noite escaldante... A Né Ladeiras, que estava na Brigada Victor Jara (e veio depois para a Banda do Casaco), veio dizer-nos que parte da sala estava inflamada porque corria o boato que nós tínhamos acabado de chegar de Londres para gravar o hino do MIRN. Enviámos para o palco, primeiro, o Carlos Barreto. Pedimos-lhe que tocasse com o contrabaixo uma improvisação de uns dez minutos até toda a gente estar perfeitamente enraivecida.
AP – Não estávamos a fechar o espectáculo porque a organização achava que éramos os mais famosos. Eles prepararam o grande prato final que era o vamos massacrar estes tipos! Atirámos o Carlos Barreto. Estávamos todos nervosos porque era um apupo contínuo... A história está muito bem relatada no livro de memórias do Manuel Faria, dos Trovante. Aquilo era um urro tremendo. E fiz, à saloia, aquilo que, hoje, o cantor mais pimba faz num arraial popular: dirigi os apupos. Esquerda, direita, e de repente deixaram-se comandar...
NR – Começámos, depois, a tocar o Romance de Branca Flor, que começa connosco a bater palmas nas pernas... E alguém, na plateia, diz: “as palmas, seus fascistas, também são folclore?”... E o António salta para uma mesa e responde: “depende de quem as bate!”...
AP – Aquilo acalmou e começaram a gostar... Mas havia essa discussão estéril do se é ou não folclore... E perguntei se um penico de barro feito por um artesão do Minho é ou não folclore... Alguém responde que é. E eu respondo: “é, uma merda!”. Descambou... E, no fim, quando terminámos, queriam mais. Dissemos que não sabíamos tocar mais nada e que, então, fizessem como no Quando o Telefone Toca. Fizeram pedidos, e nós repetimos... Foi uma coisa de loucos!
O recurso à sátira no retrato das realidades poderá ter sido outro dos elementos causadores dessa estranheza?
AP – Presumo que sim, mas só tive a consciência disso mais tarde. Escrevíamos isto com enorme prazer, trocávamos ideias, divertíamo-nos imenso. Ainda hoje caio facilmente na tentação de satirizar, às vezes em excesso, reconheço. Mas é a minha maneira de ser. E o Nuno alinhou... Mas tratava-me bem.
NR – Sou menos extrovertido, mas gosto de humor. Quando participo nas letras é mais para a parte telúrica... Filosófica... Tentava compensar o “não há cu que não dê traque” e coisas assim. Via-me mais aflito a fazer música para versos muito provocatórios, que para coisas mais especulativas.
AP – E por vezes tinha de me socorrer de coisas em que a sátira passasse de uma forma levemente mais poética, e aí o Nuno fez obras geniais, como País: Portugal...
Essa canção, do álbum Hoje Há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos, é um dos primeiros olhares sóbrios, distantes mesmo, do Portugal do pós-25 de Abril...
NR – Não foi preciso o distanciamento de 30 anos para poder falar sobre o passado.
O País: Portugal é a desconstrução do país pós-25 de Abril?
AP – É isso mesmo. É três anos depois, e 30 também...
NR – Dizemos, na capa desta reedição, que os royalties estão reservados para quem provar ser o seu proprietário. Nós somos os proprietários intelectuais. Quando dizemos, na capa, “que obscura guia de marcha terá tido o Património Cultural de empresas intervencionadas pelo estado e administrada por heróicos militares após o 25 de Abril?”... Eles desistiram...
AP – Houve na indústria um branqueamento que me doeu. Como é que se fizeram edições onde se misturou a Banda do Casaco com a Filarmónica Fraude?
NR – Há um branqueamento que não tem a ver só com a Banda do Casaco ou com a música portuguesa, e que tem a ver comigo e com o António. Um branqueamento que não é natural também em relação a mim como produtor. Em relação ao António Variações, por exemplo, estive dois anos para tentar saber o que era. E se o António Variações tivesse lançado o disco que já estava feito e para o qual eu só teria de ter dito que sim, ter-se-ia apresentado com o Jorge Machado. Era o que tinha feito... Aqui está um exemplo de branqueamento. O António seria eventualmente forte para vencer aquele lançamento, mas imagina o Morrissey a cantar em dueto com o Cliff Richard... No entanto, parece que só lancei aquele disco com que ele se apresenta depois. Mas na verdade foram dois anos, para tentar perceber o que era o tamborilar dos dedos dele...
AP – Nós tivemos sempre graus diferentes de incomodidade nas organizações onde trabalhámos.
Foram produtores e tiveram cargos importantes na indústria numa altura de vida activa da Banda do Casaco. Como geriam tudo isso?
AP – Dentro das editoras não sei se teríamos grande peso, pelo menos aos olhos dos patrões.
A Banda do Casaco, apesar do núcleo duro fixo, sempre foi uma identidade muito livre. Era este outro dos vossos motores de liberdade?
NR – Isso tem, por um lado, a ver com o aparecimento da Banda e da nossa vontade em fazer coisas novas. Depois alia-se também ao facto de sermos descobridores de talento e produtores. Na altura não havia agentes... E os produtores não se limitavam a ir para estúdio, porque tinham de tentar perceber qual era a direcção... Sem nos querermos afastar da história, aqui fica outra... O Valentim de Carvalho já não ia ao Festival da Canção há muitos anos, e havia uma vontade de voltar. Isto em finais dos anos 70. Apresentámos três propostas para irmos gravar a Espanha, com três projectos distintos: a Lara, a Gabriela Schaaf e a Concha. Não conheciam nenhuma delas e, das três, dissemos que duas delas certamente iriam... Não tínhamos músicas na gaveta e fizemo-las, cada qual, especificamente, para uma delas. Fizemos três receitas distintas... Isto para dizer que estávamos habituados a procurar timbres e maneiras diferentes de estar. Já tínhamos feito uma experiência com a Cândida Branca Flor na Banda do Casaco, que fazia parecer que ela nunca tinha estado num outro sítio. Mas não só tinha estado, como partiu, depois, para outras coisas. Na Banda do Casaco, como não tínhamos uma receita nem estávamos nunca à procura do follow up do disco anterior, precisávamos de encontrar pessoas que nos permitissem outro tipo de interpretação. O experimentalismo não dá para uma formação rígida. A Né Ladeiras, por exemplo, é uma voz de planície e não dava para cantar as coisas da Cândida Branca Flor. Tentávamos aproveitar o potencial e as características de cada pessoa.
AP – O núcleo duro éramos nós os dois, o Celso de Carvalho e o Nuno costuma juntar também a este trio o técnico, o José Fortes, que nos gravou. Era um músico imprescindível, embora não tocasse instrumento nenhum. Disciplinava-nos, de certa maneira. Hoje seria co-produtor.
O Hoje Há Conquilhas, por exemplo, sugere uma concepção cénica de sonoplastia...
AP – E esse é um sonho secreto do Nuno, o de ver um espectáculo encenado a partir daqui... É pena ser este um país onde as pessoas não pegam no trabalho dos outros. Não há continuidade...
Reconhecem descendências da Banda do Casaco em gerações posteriores de grupos ou músicos?
NR – Faça-se grande justiça ao Celso, porque levou muito bom músico a tocar violoncelo, porque percebeu que o instrumento podia ser solista. Geralmente o violoncelo fazia parte da orquestra e o Celso tirou-o de lá. E vemos isso nos Madredeus, mas são vestígios escassos...
A Sétima Legião também tem vestígios, até por gostos partilhados pelo Ricardo Camacho.
Mesmo em relação a Trovante não acredito que não tenha passado nada. As pessoas podiam não nos querer respeitar por sermos diferentes, mas existíamos e, mesmo sem atribuir grande valor a isso, nas listas dos melhores discos dos últimos dez anos nós e o Zeca Afonso tínhamos dois cada, o Zé Mário um e o Sérgio Godinho também um. Seria natural que qualquer grupo que ensaiasse pensasse porque é que estes tipos são diferentes?...
Espero que isto não pareça presunção.
AP – Não fazíamos de propósito, mas encenávamos um pouco as canções, e isso talvez complicasse a audição... Embora o Coisas do Arco da Velha tenha sido um sucesso de vendas. Era um disco mais de canções.
NR – Na história dos sete álbuns da Banda peguei no mesmo tema seis vezes e as pessoas não deram por isso. É espantoso.
AP – O Sufjan Stevens faz isso hoje em dia. Nunca é a mesma canção, mas pode lá estar mais vezes o mesmo tema... É perfeitamente legítimo.
A Banda do Casaco abordava também referências da música tradicional, não numa lógica de recolha, mas de transformação... E daí outras eventuais pontes com Trovante e Sétima Legião...
NR – Era mais um despertar para essas possibilidades...
Era fazer world music antes de se inventar a expressão?
AP – O Nuno faz o Canto de Amor e Trabalho, com uma letra original, para uma melodia original. Mas as pessoas podem ouvir aquilo e supor facilmente que pode ser um tema de tradição oral de uma região nortenha de Portugal. Capta o espírito. Pegar apenas na raiz folclórica e transpô-la houve muitos grupos a fazer... Depois houve umas experiências melhores, sobretudo no Norte. Mas lembro-me, depois do 25 de Abril, de dizer, acintosamente, que esses grupos pareciam ranchos folclóricos a tocar melhor e mais afinado.
Acho que temos uma tradição musical pobre em Portugal, com alguma excepção ou outra. E pegar apenas na raiz só... Não. Esfolávamo-nos para procurar coisas invulgares.
NR – As recolhas do Lopes Graça e Giacometti, foram muito importantes. Mas se soubesse música a sério, diria que está tudo por fazer. Não tivemos um Bartók...
AP – A música nordestina brasileira, coisas como o Mestre Ambrósio, toca em algumas coisas do Norte de Portugal, mas foi tratada de um modo difeente. Os brasileiros tiveram menos complexos de ser pop, como o Chico César... Em Portugal foram sempre muito a fotocópia da recolha...
Esta reedição devolve à vida um disco que até aqui só havia em vinil... Costuma falar-se neste como o melhor disco da Banda do Casaco...
AP – É-me difícil dizer qual... Este era o disco que dizíamos que era o nosso melhor. E talvez seja. Mas tinha problemas de som.
NR – É o único disco que está mais em esboço. Não foi terminado. Houve um fervilhão de ideias... Quase tentámos entrar pelo sinfónico com dois violinos...
De onde vem este título?
NR – Foi o único título que sugeri. Era uma ardósia num restaurante espanhol.
E de onde veio esta capa?
NR – A minha mãe tinha este grelhador e começámos a meter ovos... Foi imediato...
AP – Alguém disse que não íamos por conquilhas, que era demasiado óbvio, e sugeriu ovos, porque visualmente era mais forte. As letras, depois, são minhas.
Depois desta, podemos contar com mais reedições? Talvez uma integral?
NR – Estão a ser estabelecidos os contactos. Sete álbuns numa caixa, como os intermediários em Portugal ficam com fortunas, daria um preço inacreditável. Se fizermos vários digipacks com a possibilidade de os reunir numa caixa, com um livro... Vamos tentar.
Tocar estas músicas em palco?
AP – Falo por mim, tocar ao vivo, não faz o mínimo sentido. E penso que o Nuno estará de acordo comigo. Mas nessa caixa pôr alguma coisa faz parte do meu sonho. Há dias descobrimos que devemos ter cassetes, que devem estar completamente magnetizadas... Maquetes... Um desafio que não deixarei de fazer ao Nuno é poder gravá-las de forma simples. Guardo esses pedaços de letras... Gravar, não como aquele argumento de vendas que diz “com dois originais”. Nada disso!
O DISCO
Finalmente Há Conquilhas
Banda do Casaco
Hoje Há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos
Companhia Nacional de Música
***** (5 estrelas – máximo)
Esta foi, durante anos, uma das obras-primas “perdidas” da música portuguesa, a redição em CD eventualmente impossibilitada pela inexistência de certezas sobre o paradeiro do espólio da editora Imavox (uma velha empresa do Estado). Quis a arte e a verdade histórica que a obra fosse mais urgente que essa geometria indescritível de destinos que empresas, como essa, tomaram depois da vida “normalizada”. E, acautelando a salvaguarda dos direitos a quem os merece, Nuno Rodrigues avançou com uma reedição. E que reedição! Hoje Há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos não só é um dos mais importantes discos do Portugal musical de 70, como um caso à parte na discografia da Banda do Casaco. À parte, porque, por um lado, representa a sua obra mais próxima da ideia primordial que da eventual arte final que dela poderia ter evoluído. À parte, porque sintetiza conceitos (musicais e líricos) ensaiados nos dois primeiros álbuns e promove uma assimilação de colheitas feitas junto de heranças do Portugal (musical) profundo, com resultados mais pungentes que os que escutaríamos em discos posteriores.
A sátira incisiva nas palavras de António Pinho e as visionárias opções musicais de Nuno Rodrigues conhecem aqui um momento de afirmação superior, corajoso na desmontagem de um país onde criticar a recente revolução gerava erupções de intolerância. Este é um disco nascido de uma saudável inquietação não alinhada, onde além das ideias e palavras se ensaiava uma noção de world music antes mesmo do conceito ser inventado. Texturalmente fértil, cenográfico. Como poucos, um disco ácido, ousado, firme, verdadeiro. Haja conquilhas!
Nuno Galopim
OS OUTROS DISCOS
1975. “Dos Benefícios Dum Vendido No Reino Dos Bonifácios”
Um dos mais importantes discos de ruptura (e então mais “incómodos”) no Portugal de 70, revela uma linguagem diferente da que, politicamente alinhada, dominava os cenários do pós-revolução. A sátira é lei na palavra, aliando-se a uma música em busca de outros estímulos e novos destinos. Entre a banda militava então Carlos Zíngaro, que também assina a capa do álbum.
1976. “Contos do Arco Da Velha”
Considerado em alguns media da época como o “disco do ano”, é talvez o mais acessível dos álbuns da Banda do Casaco, talvez por ser o que mais vezes recorre à estrutura clássica da canção. Mesmo assim, um álbum de novas ideias, revelando a voz de Cândida Branca Flor. O seu Canto de Amor e Trabalho é um dos clássicos incontornáveis do Portugal de 70.
1978. “Contos da Barbearia”
O primeiro disco editado na Valentim de Carvalho (e agora o único sem reedição em CD), é como uma síntese das ideias ensaiadas nos anteriores, sublinhando sobretudo o interesse pela assimilação da música tradicional, num contexto instrumental no qual se destacava a presença de instrumentistas de jazz, como Carlos Zíngaro e Victor Mamede.
1980. No Jardim Da Celeste”
Novo álbum de ruptura, lançando demandas que levaram, pontualmente, a Banda do Casaco a explorar os terrenos do rock (com notáveis resultados em Natação Obrigatória ou Liliana Nibelunga). Né Ladeiras, depois de ter passado pela Brigada Victor Jara e Trovante, é a voz em maior evidência neste disco que, na bateria, apresenta Jerry Marrotta, da banda de Peter Gabriel.
1982. “Também Eu”
Primeiro álbum depois da saída de António Pinho, este é um disco claramente mais experimental, com uma considerável quantidade de temas instrumentais, os vocais frequentemente dominados por vocalizações. Na voz, Né Ladeiras é, pela primeira vez, a única presença. Do álbum surgiu o maior êxito de rádio da Banda do Casaco nos anos 80: Salve Maravilha.
1984. “Banda Do Casaco Com Ti Chitas”
No último álbum da Banda do Casaco, o reencontro mais presente com a música tradicional, em ousados híbridos entre a intensidade eléctrica do som da banda e a voz de Ti Chitas, uma pastora de Penha Garcia, ora em originais, ora em temas de origem popular, sobre novos arranjos. A edição em CD, de 1993, inclui um inédito expressamente composto para a ocasião.





















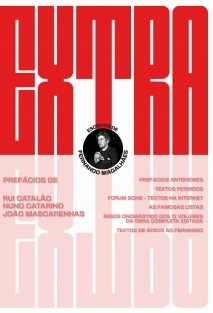


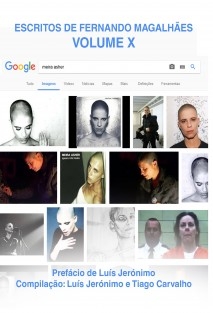


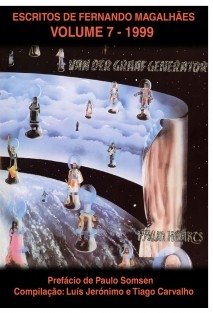







_Bubok.jpg)




























Sem comentários:
Enviar um comentário