Por: F E R N A N D O M A G A L H Ã E S
LINK - Neu! - Neu! 75 (1975)
O “kraurock” está vivo e recomenda-se. A estagnação a que chegou grande parte da música popular neste final de século levou a uma procura exaustiva de fontes que pudessem revitalizá-la. Havia um manancial à espera e por explorar. Local: Alemanha. Época: anos 70. Chamaram-lhe na altura “krautrock”, na falta de um termo melhor que pudesse designar a explosão de criatividade que entre 1986 e a eclosão do “punk”, em 1976, abalou o império pop anglo-saxónico.
Decorridos quase 20 anos, músicos e público partem de novo em busca da pepita dourada, numa corrida pelo tempo que confunde e estimula ao mesmo tempo. Julian Cope, com o seu manifesto em defesa do “krautrock”, acendeu o rastilho. Que estranhos nomes e não menos estranhos discos eram estes que o homem dos Teardrop Explodes defendia com unhas e dentes, com o entusiasmo de um fanático? Como uma rajada, entrava pelo final do século o relato de experiências insanas levadas a cabo por cientistas e magos loucos oriundos de uma nação, ainda e secalhar para sempre, marcada pelos fantasmas do pós-guerra. Faust, Amon Düül II, Can, Neu!, Cluster, entre uma multidão de outros nomes, chamam a atenção e os ouvidos para um admirável mundo novo que volta a despontar.
A pequena revolução que estes grupos operaram no seu tempo faz-se sentir hoje talvez ainda com mais intensidade do que há 20 anos. As bandas do pós-rock prestam-lhe vassalagem. Nos Estados Unidos, em Inglaterra, na alemanha, grupos como os Tortoise, Ui, Trans AM, Kreidler, To Rococo Rot, Tarwater, Rome, Gastr Del Sol (de Jim O’Rourke, produtor de “Rien”, dos Faust), Stars of the Lid, Fuxa, Him, Jessamine, Earth, Sabalon Blitz, Magnog e Fridge assumem e expandem o lado mais experimental e tecnológico do “krautrock”, ao proclamar a importância de grupos como os Cluster, Neu! E La Düsseldorf.
Antes, já a “new age”, através dos novos planantes da Califórnia (Steve Roach, Robert Rich, Michael Stearns), buscara alento e alimento nos anos 70, na chamada “Escola de Berlim”, representada por Klaus Schulze, Tangerine Dream e Ash Ra Tempel. O mesmo se podendo dizer dos Kraftwerk, que influenciaram toda a cultura “tecno” dos anos 80. Anos 80 cujos corredores clandestinos foram percorridos, na Alemanha, por gente como Palais Schaumburg (de Holger Hiller), Pyrolator, Die Krupps, Der Plan, Einstuerzende Neubauten, Asmus Tietchens, Conrad Schnitzler, Peter Frohmader, Propeller Island, D.A.F., Klaus Krüuger, H.N.A.S., Cranioclast, P16.D4, Peter Schaefer ou Strafe Für Rebellion.
Mas a fatia maior e mais apetecível do bolo estava guardada para os pioneiros que nos anos 70 fizeram a síntese da memória e da melodia pop dos anos 60 (Beatles e Beach Boys) com o romantismo wagneriano, o espaço sideral, o LSD e a tecnologia electrónica (então analógica) mais sofisticada.
Em 1997 assiste-se, finalmente, a um fenómeno que se julgaria impossível há poucos anos: a ressurreição dos grupos clássicos. Os Faust voltam a reunir-se e a gravar (“Rien” e “You Know FaUSt”). Os Amon Düül II regressam igualmente com um novo álbum, “Nada Moonshine”. Os Neu!, de Michael Rother e Klaus Dinger, idem com “Neu!4”. Mais recentemente, os La Neu Düsseldorf (designação um pouco redundante, reconheça-se...) gravaram também um novo disco. O mundo volta a ser dominado (mas alguma vez deixou de o ser?...) pela Alemanha.
O Poprock entrou na guerra entrevistando Stefan Schneider, o homem que manda nos Kreidler e To Rococo Rot, e Jaki Liebzeit, baterista de uma das bandas mais importantes do “krautrock” original, os Can, que os anos 90 agora homenageiam no duplo álbum de remisturas “Sacrilege”, por Brian Eno, The Orb, Sonic Boom e Bruce Gilbert, entre outros. Fornecemos ainda uma discografia e notas sobre os principais intervenientes, bem como alguma bibliografia geral disponível sobre o tema.
GRUPOS E DISCOGRAFIA FUNDAMENTAIS DO ROCK ALEMÃO DOS ANOS 70
Agitation Free
Influenciados pela música árabe no primeiro álbum, “Malesch”, cósmicos no segundo. Com Lutz Albrich, dos Ash Ra Tempel, Michael Honig (futuro Tangerine Dream) e Peter Michael Hamel, “2nd Edition” (1973).
Amon Düül II
Do grupo communal designado por Amon Düül I derivou este n]ucleo dos que sabiam tocar. Rock inclassific]avel, gerado dos piores pesadelos do LSD. Reza a lenda que, nos concertos, cada músico estava sob o efeito de uma droga diferente. Os álbuns reflectem esta mistura de universdos paralelos, alternando longas improvisações anarco-cósmicas com canções surreais. “Yeti” (1970), “Tanz der Lemminge” (1971), “Wolf City” (1972).
Annexus Quam
Oriundos de Düsseldorf. Dos deslumbramentos psicadélicos do primeiro álbum, passaram ao “free jazz”, não menos empanturrado de alucinações, do segundo. “Osmose” (1970), “Bezeihungen” (1972).
Ash Ra Temple / Ashra / Manuel Göttsching
A guitarra eléctrica que veio do espaço por um dos nomes mais importantes da “Kosmische muzik”. Os Ash Ra Tempel eram os meninos bonitos do guru Rolf-Ulrich Kaiser, com as suas “acid jams” apontadas ao infinito. Já só, como Ashra, Göttsching aproximou-se da galáxia de Klaus Schulze, com passagem pela pop, o cinema de Phillipe Garrel e aterragem no minimalismo. “Schwingungen” (1972), “Inventions for Electric Guitar” (1974), “New Age of Earth” (1976).
Can
Mestres do ritual e dos ritmos do corpo. Filhos de Stockhausen, do “fre jazz” e dos Velvet Underground, inventaram a música do espaço interior. No seu caso não faz sentido falar de música “cósmica”, mas sim de “música microcósmica”. O “beat”, enquanto átomo da hipnose. “Monster Movie” (1969), “Tago Mago” (1971), “Ege Bamyasi” (1972), “Future Days” (1973), “Unlimited Edition” (1976).
Cluster
Representam o lado mais experimentalista do “krautrock”. Primeiro chamaram-se Kluster, industriais “avant la lettre”. Joachim Roedelius, o romântico, e Dieter Moebius, o conceptualista, formaram uma das duplas recorrentes da música electrónica alemã das últimas três décadas. Eno e Bowie assumem a sua influência, bem como a geração actual de bandas dos pós-rock. Fizeram trio com Brian Eno. “Cluster” (1972), “Zuckerzeit” (1974), “Cluster & Eno” (1977).
Harmonia
Associação dos Cluster com Michael Rother, dos Neu!, banda da qual exploraram o lado mais electrónico e minimalista. Juntamente com os Neu! Constituem uma referência fundamental do movimento “punk”, pela redução do ritmo a uma batida primordial. “Musik von Harmonia” (1974), “DeLuxw” (1975).
Holger Czukay
Teórico dos Can, congeminou mil estilos e inovações. Com os Technical Space Composers Crew, na colagem de sons concretos e ambientais com fitas de “world music” na reciclagem do “dub”. Com a voz do papa. Com um sintonizador de rádio e um “dictaphone”. O último dos alquimistas. “Cannaxis” (1969), “Movies” (1979).
Faust
Com Frank Zappa e os Henry Cow, um dos nomes que declararam guerra à música pop do século XX. Popularizaram o termo “krautrock” num tema com este nome do álbum “Faust IV”. Na sua música, o paradoxo faz sentido e alógica exige a criação de novas linguagens. Recentemente voltaram a gravar, radicais coko sempre, agora que o tempo finalmente os apanhou. “Faust” (1971), “So Far” (1972), “The Faust Tapes” (1973), “Faust IV” (1973).
Edgar Froese
O guitarrista e líder dos Tangerine Dream experimentou a solo o lado mais acusmático da música do grupo. “Aqua” (1974).
La Düsseldorf
Emblema da cidade, na visão mecanicista do percussionista Klaus Dinger, ex-Kraftwerk e ex-Neu!. “La Düsseldorf” (1976), “Viva” (1978).
Liliental
Supergrupo que juntou Dieter Moebius, dos Cluster, Conny Plank, produtor determinante no desenvolvimento do “krautrock”, Johannes Pappert, saxofonista dos Kraan, e o industrialista Asmus Tietchens. “Liliental” (1978).
Neu!
A máquina de ritmos binários de Klaus Dinger, sempre na sombra do que melhor eclodiu em Düsseldorf, aliada ao melodismo viciante e “easy listening” de Michael Rother. “Neu!” (1972), “Neu! 2” (1973), “Neu! 75” (1975).
Popol Vuh
Florian Fricke foi dos primeiros a levarem o grande “Moog” para dentro de uma catedral, mas depois a descoberta do cristianismo levou o seu piano para o céu. Um dos místicos da música alemã. Compositor de serviço de Werner Herzog. “In Der Garten Pharaos” (1972).
Klaus Schulze
Pai da música cósmica. Tocou bateria nos Psi Free e Tangerine Dream, estudou o catálogo do VCS3 nos Ash Ra Tempel e desapareceu, finalmente, entre os circuitos do sintetizador, abraçado a um busto de Wagner. Há quem adormeça ao escutar os seus “mantras” electrónicos de 30 minutos e quem jure viajar com eles por outras dimensões. “Cyborg” (1973), “Mirage” (1977), “X” (1978).
Kraftwerk
Ralf Hütter e Florian Schneider estiveram sempre um pouco à margem do “krautrock”. Ainda experimentaram o ruído, nos Organisation e nos dois primeiros álbuns, mas com “Autobahn” aboliram a portagem que impedia a livre circulação nas auto-estradas da música de dança do mundo. Depois transformaram-se em robôs e fecharam-se no estúdio Kling Klang, de onde saem de vez em quando para fazerem pontos de ordem à música tecno. “Ohm Sweet Ohm”, “Kraftwerk” (1970), “Kraftwerk 2” (1971), “Ralf & Florian” (1973), “Autobahn” (1974), “The Man Machine” (1978).
Tangerine Dream
Papas da Escola de Berlim. Música onírica, banda sonora das divagações sobre a relatividade de Einstein. A religião dos electrões. Tiraram o ritmo aos Pink Floyd abrindo no seu coração um pulsar. A primeira fase é “free rock” para tripar ao gosto de Julian Cope. Preferimos os espaços mais amplos rasgados pela formação quintessencial dos TD: Edgar Froese, Peter Baumann e Chris Franke. “Zeit” (1972), “Atem” (1973),”Phaedra” (1974), “Rubycon” (1975),
Walter Wegmüller
Wegmüller era um artista e mago cigano que o acaso fez cruzar com Timothy Leary, profeta e ideólogo do LSD, e com a turma inteira dos Cosmic Couriers, numa aldeia suiça onde teve lugar uma das desbundas de ácido de todos os tempos. “Tarot” (que inclui um baralho de Tarot desenhado pelo próprio) reflecte todas as vertentes, virtudes e defeitos dos primeiros anos da “Kosmische Musik”. “Tarot” (1973).
Whithüser & Westrupp
“Acid Folk” que entusiasmou Rolf-Ulrich Kaiser, dando origem ao selo Pilz, subsidiário da “Ohr”, sede de todas as aventuras cósmicas. “Trips und Traume” (1971).
Nota: todos os discos disponíveis em CD.
À atenção dos curiosos: Achim Reichel, Brainticket, Bröselmaschine, Cosmic Jokers, Cozmic Corridors, Joachim H. Ehrig (Eroc), Embryo, Emtidi, Eulenspygel, ExMagma (naõ confundir com os franceses Magma), Gila, Golem, Sergius Gollowin, Grobschnitt, Guru Guru, Hoelderlin, Kraan, Mythos, Novalis, Out of Focus, Parzival, Pell Mell, Phantom Band, Release Music Orchestra, Sand, Thirsty Moon, Wallenstein, Xhol, Yatha Sidhra.
BIBLIOGRAFIA
“Krautrocksampler: One Head’s Guide to the Great Kosmische Musik – 1968 Onwards” – Julian Cope (ed. Head Heritage). Manual.
Um dos responsáveis pelo recrudescimento de interesse pelo “krautrock”. O entusiasmo e a linguagem de verdadeiro apreciador com que Cope nos descreve as suas descobertas contagiam. Alguma falta de rigor é compensada pelas histórias deliciosas que se lêem como um romance, por exemplo todo o episódio do retiro suiço com Timothy Leary ou a paranóia de poder de Rolf-Ulrich Kaiser (“the kaiser”, como a dada altura lhe chama Cope), patrão e mentor dos Cosmic Couriers. Na discografia seleccionada é evidente o gosto do “acid head” pelas obras mais “tripantes” (mas também mais desconjuntadas...) do “krautrock”, privilegiando, quase sempre, os primeiros álbuns de cada artista, de que são paradigmáticos a inclusão da estreia dos Tangerine Dream, a profusão de discos dos Ash Ra Tempel das “acid jams” ou a totalidade da dispensável série dos Cosmic Couriers.
“Cosmic Dreams At Play – A Guide to German Progressive and Electronic Music”, de Dag Erik Asbjomsen (ed. Borderline Productions). Enciclopédia.
Notas informativas extensas, embora demasiado subjectivas e reveladoras da propensão do autor para valorizar discos pouco representativos. Vê-se que o autor aprecia acima de tudo o progressivo mais lamechas, na área do “sinfónico”... Discografias completas. A quantidade de entradas é razoável embora haja lacunas. Uma obra que perde, sobretudo, por um grafismo e “lettering” infelizes, como consequência de ser mais uma compilação de um amador do que um trabalho metódico. Reprodução, a cores e a preto e branco, de capas escolhidas de forma aleatória, com pouca atenção ao grafismo geral da obra.
“The Crack In The Cosmic Egg – Encyclopedia of Krautrock, Kosmische Musik & Other Progressive, Experimental & Electronic Musics from Germany”, de Steve Freeman e Alan Freeman (ed. Audion Publications). Enciclopédia.
O melhor e mais completo livro sobre “krautrock” editado até à data, ao contrário dos outros dois, estendendo-se pelos anos 80 e 90. Organizado metodicamente, inclui um mapa da Alemanha com a sinalização das cidades onde tiveram origem alguns dos grupos mais importantes, àrvores genealógicas, um “top-100”, editoras, tópicos gerias e um glossário. As discografias são acompanhadas, para cada álbum, pela lista completa dos músicos participantes. Os textos são informativos, rigorosos e excitam a curiosidade. A selecção de capas, todas com reprodução a cores, é, por si só, um prazer à parte.
Máquinas Em Movimento - Entrevista com Stefan Schneider
Kreidler e To Rococo Rot são dois projectos liderados por Stefan Schneider, um natural de Düsseldorf que transportou para os anos 90 os sons mecânicos do “Krautrock” da década de 70 com berço nessa cidade: Kraftwerk, Neu! e La Düsseldorf. Vizinho de Klaus Dinger, denominador comum destes três grupos, Stefan Schneider faz o ponto da situação.
Apontados como representantes da ala mais electrónica e radical do “pós-rock”, os To Rococo Rot gravaram até à data dois álbuns, o último dos quais, distribuído em Portugal pela Música Alternativa, tem por título “Veiculo”. Mas Stefan Schneider, com quem o PÚBLICO conversou, concentra a maior parte do seu tempo nos Kreidler, cujo novo álbum, intitulado “Weekend” (distribuição Megamúsica), embora igualmente apaixonado pelos sintetizadores e pelos ritmos maquinais, oferece canções para cantarolar num piquenique do fim dos tempos.
FM – Por que motivo reparte a sua actividade por duas bandas que até nem são radicalmente diferentes uma da outra?
SS – São bastante diferentes. A música dos To Rococo Rot (TRR) é muito mais experimental e minimalista, enquanto os Kreidler se movimentam numa área pop, com canções estruturadas. Os TRR estão mais próximos da electrónica e da tecno.
FM – Segue métodos de composição diferentes em cada um dos grupos?
SS – Sim, até porque os Kreidler são a formação mais estável e os seus membros vivem todos na mesma cidade, em Düsseldorf. Ensaiamos e realizamos espectáculos com assiduidade. Com os TRR, isso é impossível, uma vez que os dois outros elementos vivem em Berlim. Sempre que queremos fazer alguma coisa juntos, sou obrigado a deslocar-me lá.
FM – Tanto os Kreidler como os To Rococo Rot fazem música exclusivamente intrumental...
SS – Não é bem assim, nos Kreidler integrámos algumas letras no primeiro álbum. O segundo, “Weekend”, é efectivamente instrumental, mas pensamos regressar aos textos no próximo.
FM – Vive em Düsseldorf, cidade que deu origem, nos anos 70, a grupos como os Kraftwerk, Neu! e La Düsseldorf. A cidade tem alguma mística especial?
SS – Há com certeza uma ligação. Mas não queremos fazer nenhum resumo dessa tradição. Essa ligação sente-se mais pela cidade em si, pelo seu ritmo. Há nela uma indústria da moda, uma proliferação de “Design” artístico, tudo isso nos influencia, bem como a forma de relacionamento entre as pessoas, a forma como se vestem e se apresentam. Existe um nível de vida bastante caro. Em Berlim é diferente, todas as pessoas têm um emprego, é difícil sobreviver aí de outra forma. Continuam a chegar a Berlim pessoas provenientes de outras cidades da Alemanha, porque continua a ser uma cidade atraente, ideal para quem não pretenda fazer coisas especiais.
FM – Na ficha técnica de “Weekend”, dirige um agradecimento a Klaus Dinger, que pertenceu àquelas três bandas. Assume a sua influência?
SS – Klaus é meu vizinho. Às vezes vem ter comigo, de bicicleta, para conversarmos um bocado. Há cerca de dois anos convidou-nos para ir ao estúdio que tem em sua casa. Gravámos algumas coisas juntos. E em Novembro do ano passado fez dosi espectáculos no Japão com o baterista e teclista dos Kreidler.
FM – O que acha da música dos Cluster, outra das bandas dos anos 70 que marca, cada vez mais, toda uma geração de novas bandas de música electrónica?
SS – Os discos dos Cluster são muito difíceis de adquirir na Alemanha. Pura e simplesmente não se encontram nas lojas! Quando muito, existem os discos mais recentes, editados em CD, mas estes destinam-se mais a um tipo de público apreciador de música ambiental. Conheço alguns dos seus trabalhos mais antigos, como “Zuckerzeit”, um álbum impressionante. O problema é que há hoje muita gente a fazer deste tipo de música sem nunca a ter ouvido. As pessoas lêem os artigos nas revistas, mas não têm possibilidade de ouvir os discos! Penso que deve acontecer o mesmo na Inglaterra ou nos Estados Unidos, onde se encontram discos dos Kraftwerk e pouco mais...
FM – O fenómeno é algo mais que uma moda passageira?
SS – Penso que os jovens estão a começar a explorar uma música, feita há 20 ou 25 anos, que tem muitos pontos de contacto com a música que se faz hoje em dia. Por isso faz sentido recuar até esse período. Pessoalmente, acho fantásticos como os dois primeiros dos Neu! bem como toda a música dos Kraftwerk.
FM – Os Can...?
SS - Fazem parte de outro universo. Gosto imenso de “Tago Mago”, mas têm outras coisas que acho extremamente aborrecidas.
FM – Existe hoje algo parecido com um movimento organizado de música electrónica feita na Alemanha?
SS – Bem, estão a aparecer alguns nomes novos e interessantes, como os Mike Ink, que fazem música electrónica e minimal para dançar. Também apafreceu recentemente uma nova revista de música chamada “Art Attack”, com uma loja de discos e uma editora própria, a Profane. Em Berlim, há os Oval (N.E. – fizeram remisturas dos Tortoise)...
FM – E o circuito da música de dança?
SS – Aqui em Düsseldorf existem clubes de “tecno” que passam a música dos Kreidler, mas são sítios não comerciais, nada que se pareça com uma “rave”. Em Colónia, os clubes são maiores e as pessoas podem sentar-se a ouvir música, conversar ou ver filmes. Claro que os nossos discos podem ser passados nas pistas de dança, mas ela não é, de forma alguma, música de dança convencional. O que distingue o que está a acontecer por aqui é a produção de música electrónica que não se destina a ser dançada mas a ser ouvida em casa, embora também não seja nada parecido com música ambiental.
FM – Existem pontos de contacto entre alguma das suas bandas e as bandas de Chicago como os Ui e Tortoise?
SS – Os TRR gravam na mesma editora dos Tortoise, a City Slang. Gosto de alguns temas deles, com os quais os TRR podem até ter algumas semelhanças. Mas só no nosso primeiro álbum, no qual também usávamos equipamento analógico, assim como baixo e bateria convencionais. “Veiculo” vai numa direcção diferente, no sentido da electrónica total.
FM – Uma electrónica fria e minimalista. A música dos novos homens-máquina do fim do milénio?
SS – Sim. O “robot” que tocará com os TRR no final do milénio não vai acabar numa grande explosão, com um clamor enorme, mas sim quebrar-se em pequenos pedaços. O fim será muito calmo...
Canibalismos - Jaki Liebzeit recorda os Can a propósito de álbum de remisturas
Os Can foram um dos grupos mais importantes da cena musical alemã dos anos 70. A sua música, marcada pela espontaneidade e pela inovação, tinha a força de um ritual. Muito por culpa da batida hipnótica do baterista Jaki Liebzeit, um dos poucos “homens-máquina” de carne e osso. Entre histórias de vómitos, vodu e futebol, uma certeza: “Os Can nunca foram um grupo de ‘krautrock’!”
Admirador dos Kraftwerk e dos Einstuerzende Neubauten, sem nunca ter ouvido os Faust, Jaki Liebzeit compara a música dos Can a um jogo de futebol. As regras são conhecidas mas, iniciado o jogo, nunca se sabe o que vai acontecer. É esse sortilégio da incerteza e a precisão com que dominaram o acaso que fizeram a mística do grupo. Liebzeit desfez, diante do PÚBLICO, alguma dessa magia: “A música dos Can tornou-se inofensiva.”
FM – Nos Can, ficou célebre a batida metronómica da sua bateria. Tratou-se de uma reacção contra as suas raízes no free jazz?
JL – Em parte, sim. Toquei free jazz durante um ano, mas não me sentia satisfeito, sentia necessidade de um ritmo que permanecesse constante. Foi nessa altura que tomei a decisão de tocar d euma maneir amais “monótona”.
FM – Desenvolveu alguma técnica especial?
JL – De início, tocava oa mesmo tempo que uma caixa-de-ritmos. Ao fim de 20 anos, posso dizer que consigo tocar como uma máquina.
FM – O efeito que a sua bateria provocava era equivalente ao das batidas electrónicas da actual música tecno?
JL – É a mesma coisa. Estou actualmente a tocar bateria convencional numa espécie de tecno, ao lado de dois jovens músicos, em computadores de ritmo e sintetizadores. Vai sair em breve um disco.
FM – Nos anos 60 e 70 um concerto dos Can podia estender-se por sete ou oito horas...
JL – Acontecia, de facto, quando o público e o ambiente eram propícios. era um divertimento! Em todos os concertos tocávamos sempre de uma forma espontânea, não havia qualquer alinhamento prévio de canções, como acontece hoje. Às vezes tocávamos um único tema durante meia hora ou mais. Era tudo bastante improvisado, talvez “improvisado” não seja o termo indicado, mas essa tal espontaneidade. Como se conversássemos ou discutíssemos em palco. Podemos compara com um jogo de futebol. As regras do jogo são conhecidas, mas, antes do jogo começar, nunca se sabe o que irá acontecer. era esse o nosso sistema. O fundamental era o modo como fazíamos música no próprio instante. Ainda aqui há semelhanças com a cena tecno. Apesar de o som não ser o mesmo, existe uma idêntica abordagem na forma de criação, com a dispensa da escrita. Os Can nunca escreveram uma única canção. a música desenvolvia-se toda no estúdio, a partir de uma ideia qualquer.
FM - As pesoas costumavam falar de uma comunicação telepática entre os cinco membros do grupo. Era assim tão profuno?
JL - Não era telepatia, mas, na realidade, a partir de certa altura, a comunicação entre nós era tão boa que podia dar de facto essa impressão...
FM - Corria também uma estranha história acerca de certos ritmos vodu que lhe teriam sido ensindos por um certo personagem, mas que não podiam ser tocados ao vivo sem autorização, sob pena do infractor ser executado...
JL - Essa é outra história, mas que nunca aconteceu com os Can. A personagem de que fala era um tocador cubano de congas que veio para a América nos anos 50, chamado Chano Pozo. A mim nunca me ensinou nada...
FM - Mas há quem jure que você era capaz, num concerto, de voluntariamente fazer vomitar qualquer elemento da assistência...
JL - Mas isso pode acontecer com qualquer músico, se tocar muito mal! [Risos.] Bem, fiz de facto algumas experiências, quando tocava free jazz, mas as pessoas vomitavam por causa do som péssimo, penso eu...
FM - O LSD ajudou a criar a música dos Can?
JL - Não. A música é que devia parecer de tal modo estranha a certas pessoas que as levava a pensar que andávamos a tomar LSD a toda a hora. Admito ter tentado algumas vezes, mas sempre sem qualquer relação com a música. Música e drogas não combinam. A droga não faz tocar melhor, a única coisa em que pode melhorar aexecução é o que vem de entro do músico. A droga excita e revela apenas o lado cerebral.
FM - Tantas histórias em redor do grupo apenas comprovam que este se tornou uma lenda, não é verdade?
JL - Sim, mas apenas na maneira como fazíamos música. É isso que interessa aos jovens, saberem que não é preciso escrever primeiro, como aconteceu oa longo dos últimos séculos. Depois, nós e os Kraftwerk fomos os primeiros grupos a ter os nossos próprios estúdios, no nosso caso, um pequeno castelo nos arredores de Colónia. Mais tarde, mudámo-nos para uma sala de cinema.
FM - Até que ponto a música étnica influenciou a sua forma de tocar?
JL - Tirei, evidentemente, imensas ideias da música indiana, da árabe ou da espanhola. Vivi durante algum tempo em Barcelona, onde ouvia flamenco. Impressionou-me, pelso dançarinos, não pela dança em si, pelo modo como conseguem tocar o ritmo com os pés no chão, como se fosse uma bateria.
FM - O que ram exactamente as “Ethnological Forgery Series” (“séries de falsificação etnológica”) que apareceram nos álbuns “Limited” e “Unlimited Edition”?
JL - Foi mais uma piada. Sentávamo-nos a tocar umas músicas estranhas, em instrumentos acústicos, e acontecia que, por vezes, acabavam por soar a música étnica...
FM - Sentiu que a entrada de Rosko Gee e Reebop Kwaku Bah para os Can, em 1977, significavam o fim do grupo?
JL - Sim, mas não por causa desses músicos. Acabar, era apenas uma questão de tempo. Um grupo tem um tempo aproximado de vida, em termos criativos, de cerca de sete anos. Depois e sete, oito, na melhor das hipóteses, dez anos, a criatividade e a tensão entre os músicos desaparecem. Toda a gente conhece toda a gente. É como estar casado. Nos sete primeiros anos é bom, epois as pessoas divorciam-se. Os Can deixaram de tocar juntos, mas continuam a ser amigos, talvez até agora mais do que antes.
FM - Com qual dos dois vocalistas gostou mais de tocar, com Malcolm Mooney ou Damo Suzuki?
JL - Eram ambos excelentes músicos. Mooney trouxe para o grupo uma influência americana. Suzuki era mais caótico, mas também mais espontâneo, inventava as palavras enquanto cantava. Por exemplo, num tema como “Blue bag”, ele simplesmente viu, no chão do estúdio, uns sacos de lixo azuis e isso foi suficiente para fazer deles uma letra...
FM - Depois dos Can, envolveu-se noutros projectos e com outros músicos. Peço-lhe um comentário breve sobre cada um. Michael Rother...
JL - Fez parte de uma espécie d ecomunidade que existia em Düsseldorf, em torno dos Kraftwerk. Toquei com ele, como com muita outra gente, em estúdio, desde os Eurythmics, no início da sua carreira, aos Depeche Mode...
FM - Phantom Band...
JL - Um projecto breve que durou apenas dois anos. O conceito que esteve na sua origem nunca ficou bem claro.
FM - Phew...
JL - Gravei dois discos com ela. O primeiro, initulado “Phew”, com Holger Czukay e Conny Plank, que, entretanto, já morreu. O segundo, “Our Likeness”, com membros dos Einstuerzende Neubauten, um dos grupos mais loucos da Alemanha.
FM - Jah Wobble...
JL - Um dos melhores baixistas que encontrei, sem dúvida um dos meus favoritos. Por norma, não gosto muito de tocar com baixistas, mas Jah é dos poucos com verdadeiro sentido rímico. Fizemos alguns concertos juntos, no ano passado. Há uns meses tocámos juntos em Inglaterra, com a Orquestra Filarmónica de Liverpool.
FM - O novo álbum de remisturas de temas dos Can, “Sacrilege”, o que lhe parece? Concorda com Irmin Schmidt quando ele diz que, no fundo, é apenas o mais recente desenvolvimento do “work in progress”, que foi, desde sempre, toda a música do grupo?
JL - Concordo. Se tivéssemos continuado a tocar juntos, talvez chegássemos a fazer algo parecido com a música deste disco, provavelmente até mais cedo... O espírito dos Can está completamente presente no álbum: uma espécie de liberdade.
FM - Os Can estão maispróximos, hoje, do seu tempo, do que estavam há 30 anos?
JL - Evidentemente. Nos anos 70, era mais difícil às pessoas assimilarem e aceitarem um som que era capaz de lhes soar um bocado alucinado. Quando ouvimos, hoje, a música dos Can, não soa, de modo algum, louca, mas como perfeitamente normal. Nos primeiros tempos do grupo, foi difícil arranjar um contrato para gravar. Achavam que era uma música demasiado excessiva. Hoje, pode-se considerá-la bastanre inofensiva...
FM - O que pensa da actual onda de interesse em torno do chamado “krautrock”?
JL - Grande parte deve-se oa interesse suscitado plo livro de Julian Cope [“Krautrocksampler”, citado na bibliografia deste dossier”]. “Krautrock” que é, de resto, uma expressão bastante infeliz, inventada por um inglês maluco. “Krauts” era como chamavam aos alemães durante a II Guerra Mundial. O mais estranho é que os próprios alemães acabaram por aceitar o termo. A verdade é que os Can nunca foram uma banda de krautrock, pela simples razão de que nunca foram uma banda de rock!
Para saber mais: http://fmstereo.awardspace.com/




















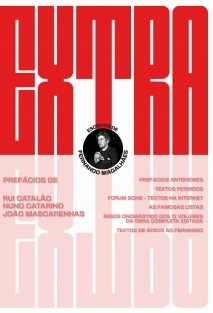


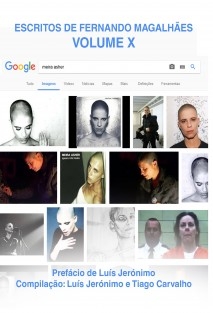


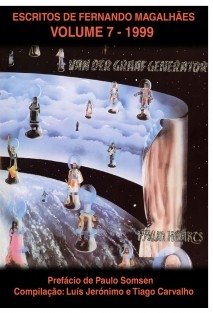







_Bubok.jpg)


























