16.6.17
Um Pouco de Literatura - Poesia: Manuel de Freitas - "Os Infernos Artificiais" (off-topic)
Um «quase nada» no inferno
Mais um livro de poemas de Manuel de Freitas. Itinerário
povoado de memórias e de uma visão não celebratória da cidade
OS INFERNOS ARTIFICIAIS
Autor: Manuel de Freitas
Editora: Frenesi
Páginas: 100
Género: Poesia
Preço: 3000$00
Classificação ****
Ana Marques Gastão
Em Os Infernos Artificiais – segundo livro de Manuel de
Freitas – também crítico e ensaísta – existe um relacionamento com o real
(também com o lugar da cidade), que pode ser de mera observação, ou
demonstrativo de uma condição física ou existencial; e a procura de uma baudelairiana
flânerie quase impossível no contorno amargo da ironia.
Se existe, nestes poemas, o lado do transeunte que
vagueia pela cidade, atento ao seu cosntante mal-estar, neles não se encontra a
ideia de uma suspensão do real no ideal. No sórdido sabor das coisas e na
consciência lúcida de um «quase nada» e do «triste devir sobre nós já traçado»,
é flagrante a formulação de um quotidiano desapiedado: «Junto ao cais morrem os
homens, / as pedintes crianças usando caixinhas / onde a alegria não cabe. Morrem
/ - sem nunca terem visto a amurada chã / dos seus destinos, o nítido
desassossego / das aves que este ano nos trouxeram / a mais rigorosa e cortante
melancolia.»
No pendor deambulatório deste livro, revelador de modos
de estar num mundo de lixos, graffitis, urinóis, eléctricos, bilhetes-postais,
tabernas, bêbados, prostitutas, doentes de inferno e corpos nocturnos, Lisboa
revela-se ainda enquanto esboço de um cenário na «ausência de qualquer consolo
e na descrença do amor: «Talvez o amor / não exista, triste palavra sem lume lá
dentro.»
E se há algum resquício de aproximação a certa poesia
anglo-saxónica, por contraposição a cenários neo-românticos, em Os Infernos
Artificiais, Manuel de Freitas (n. 1972) remete-nos, ainda que parcelarmente,
para as Lisboas, de Armando Silva Carvalho, na sua não-celebratória visão da(s)
cidade(s) e na medida em que este livro constitui, também, uma forma de
itinerário pessoal povoado de memórias e de solidões que não perdoam. Embora
sem a deambulação em torno do Portugal histórico no lugar da Europa, nem uma
tão evidente sede de «turismo metafísico».
Não se pode, no entanto, dizer, como no caso do autor de
Canis Dei – ressalvadas as devidas distâncias -, que haja um antilirismo no
livro de Manuel de Freitas. Os abruptos vazios nos «interstícios da morte», o
«horror de haver mundo» «entre ruínas e novas ruínas», os austeros amores, o
rosto «sem estrofes de Benilde ao balcão», o acordar «mais perto da dor», o
«infindável folclore da agonia», «esta merda, / esta impossível vontade de
morrer» remetem-nos para um dolorido universo desabitado que não é senão a face
poética do tédio.
Manuel de Freitas vislumbra a morte por entre as palavras
– que denunciam aprofundada leitura de autores como Cesário, Álvaro de Campos,
Armando Silva Carvalho, Joaquim Manuel Magalhães e Al Berto. E usa-as, às
palavras, de uma forma bem mais descritiva do que narrativa, revisitando o
quotidiano, com sageza, bem como o corpo não-resolvido, mas por vezes, à luz de
um excessivo prosaismo.
Talvez Manuel de Freitas pudesse captar o ignóbil na
cidade e nas gentes com um contorno metafórico menos superficial e vulgar, como
neste caso: «Observo-a discretamente: gorda / e disforme sobre um sujo mar de
jornais / com folhas verdes dispersas e alguma areia / - para que mije muito e
cague muito mais.»
Até porque o poeta demonstra noutras passagens do livro,
ao agarrar material semelhante, essa capacidade: «É fácil defender a
felicidade. Fácil / como lamber uma latrina / ou fazer filhos entre escombros,
roendo / as unhas à morte. Mias fácil decerto / do que escrever um verso, / um
único verso que seja / - enquanto o bolor nos cresce nas mãos.»
Se os versos neste livro são uma espécie de «refúgio» - o
de se «ser exactamente ninguém» - para um cenário humano e urbano circundante,
a verdade é que anunciam também um ennui infiltrado nas pequenas coisas, no
lado repetitivo da vida captada nem que seja por esse «esgoto de luz onde a voz
se exilou». Mesmo no abjecto e destacando-se do tom «cálido» de muitos da sua
geração, Manuel de Freitas penetra no território dissonante do inferno, sem
pretender, nem na musicalidade, roubar á escrita qualquer espécie de redenção.
Etiquetas:
Ana Marques Gastão,
Crítica de livros,
Diário de Notícias,
Frenesi,
Literatura,
livros,
Manuel de Freitas,
off-topic,
Poesia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)













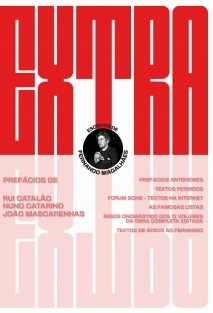


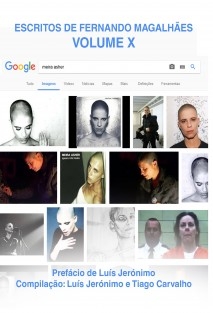


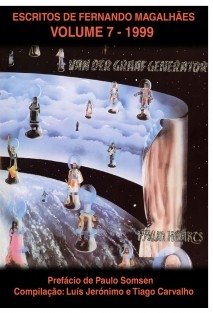







_Bubok.jpg)




























Sem comentários:
Enviar um comentário