27.2.17
DN - Série: Discos Pe(r)didos (4)
DN - Diário de Notícias
19 de Outubro de 2002
Discos pe(r)didos
CARLOS MARIA TRINDADE Single, «Princesa», Vimúsica, 1982
Lado A: «Princesa»; Lado B: «Em Campo Aberto»
Quando o actual teclista dos Madredeus, Carlos Maria
Trindade se juntou, em 1979, aos Corpo Diplomático, a sua carreira na música
contava já oito anos de vida. Tudo começou em 1971, quando formou os Soft Thurd
com Paulo Pedro Gonçalves. Algum tempo mais tarde muda-se para Inglaterra onde
vive dois anos, regressando mais tarde para estudar. Em 1976 focaliza as suas
atenções nas áreas da música contemporânea. Esta etapa de dedicação à música
contemporânea, que culmina com a apresentação de peças suas nos Encontros de
Música Contemporânea de 1978 termina, de certa forma, com a ligação aos Corpo
Diplomático em 1979, onde assume o lugar de teclista.
Ao fim dos Corpo Diplomático segue-se a etapa Heróis do
Mar banda que, de resto, herda grande parte dos músicos desse projecto fulcral
da new wave lusitana de finais de 70.
Evolução directa dos Corpo Diplomático, os Heróis do Mar
reflectem, contudo, uma mais evidente atenção para com as novas formas que
então a pop britânica ensaiava a experimentava, denunciando fundamentalmente um
tempo de deslumbramento pelos recursos que as novas tecnologias traziam à
canção. Os sintetizadores ganhavam protagonismo e, com eles, o mesmo sucedia a
prestação de Carlos Maria Trindade no som do grupo. Todavia, apesar do
empenhamento na sua faceta pop/rock, Carlos Maria Trindade não fecha a ligação
a outras músicas. Em 1980 é convidado a actuar no Festival de Bristol, onde se
apresenta com um projecto.
A partir de 1981 os Heróis do Mar absorvem grande parte
das atenções dos seus músicos. Mesmo assim, alguns discos a solo são editados,
nomeadamente o single e máxi Rapazes de Lisboa de Paulo Pedro Gonçalves (em
1984) e o máxi single Ocidente Infernal de Pedro Ayres de Magalhães (1985). O
primeiro dos discos a solo de elementos dos Heróis do Mar é, contudo, o single
Pricnesa, lançado em 1982 por Carlos Maria Trindade.
Trata-se de uma importante experiência pioneira na área
da pop electrónica, árvore de poucos frutos no Portugal de então, e com
melhores exemplos precisamente neste single, assim como nos 45 rpm de estreia
dos Ópera Nova, Da Vinci e António Variações. Princesa, a faixa que encontramos
no lado A é uma forte canção pop com a condimentação característica do som
electro pop da época, mas animada de uma identidade melódica mais exigente que
a norma, não se afastando muito do que seria, um ano depois, a essência da alma
do álbum Mãe, dos Heróis do Mar. Em Campo Aberto, a canção que encontramos no
lado B é um caso igualmente sério, revelando algumas afinidades com alguns
discos de Gary Numan da etapa 1979/81.
O single aterra nos circuitos em ano de crise no panorama
pop/rock nacional, precisamente naquele momento em que os excessos de 1980/81
se transformam em pesadelos. Em tempo de maré adversa poucos se salvam, entre
eles os Heróis do Mar com Amor. Princesa, que alguns meses antes poderia ter
gerado um êxito de grande escala, acaba despercebido.
Nuno Galopim
26.2.17
DN - Série: Discos Pe(r)didos (3)

DN - Diário de Notícias
05 de Outubro de 2002
O Portugal Suave de 1969 assistiu ao nascimento de três
importantes bandas nas áreas da música pop/rock: a Filarmónica Fraude, o Psico
e os Objectivo. Estes últimos representam um dos raros casos de partilha de
espaço com músicos não portugueses e traduz ainda a importância que o programa
televisivo Zip Zip teve na revelação de novo talento nesses últimos dias de 60.
O nosso país era, já na altura, ancoradouro para alguns
estrangeiros que aqui procuravam sopas, descanso... e trabalho. Kevin Holdale,
norte-americano, instalara-se em 1968 em Lisboa. Com um passado musical de
alguma notoriedade, cedo se juntou a outros músicos (entre eles Mike Sergeant) para
formar os Mechanical Dream.
Paralelamente o baterista dos Ekos, Mário Guia, junta os
Show Men, constituídos por si próprio (bateria), Tó Gândara (guitarra), Luís
Filipe (teclas e guitarra) e Zé Nabo (baixista que tinha em tempos tocado com
Vítor Gomes). Para este segundo grupo as coisas não correm bem até ao dia em
que são convidados a tocar no Zip Zip. Apresentam-se sem nome, agradam e
recebem do público espectador um nome: Objectivo. Atenta, a Sonoplay (mais
tarde Movieplay) convida-os a gravar um EP, surgindo assim, a sua estreia em
disco logo em 1969.
Uma série de problemas surgidos imediatamente após a
gravação do EP conduziu os Mechanical Men e os Objectivo em rota de colisão. E,
após as saídas de Tó Gândara e Luís Filipe, entram no Objectivo Kevin Koldale e
Mike Sergeant. Mário Guia passa a relações públicas e para a bateria entra Zé
da Cadela.
Em pleno episódio de convulsão interna, o grupo não está
presente no lançamento do EP. De resto, as preocupações do Objectivo apontavam
já ao segundo disco, um single que representou a primeira gravação
estereofónica de um single português. The Dance Of Death e This Is How We Say
(Goodbye) (composições de Kevin Holdale) preenchem as duas faces de um single
que evidencia o desejo dos novos desafios da técnica e só falha nas vozes. As
composições são interessantes desafios à forma da canção, sugerindo desejos de
um experimentalismo pré-progressivo. The Dance Of Death ensaia, inclusivamente,
uma abordagem à valsa, e não esconde encantos pelos novos teclados.
Visualmente os Objectivo causam também sensação. São
banda regular na boite Ronda (no Monte Estoril) e, face a um público de fato
engomado e gravata, contrastam pelos cabelos longos, túnicas e motivos florais.
Chamavam-lhe o «look à Carnaby St»...
Apesar das inequívocas qualidades deste segundo disco, a
vida do Objectivo não foi tranquila após a sua edição. A usa música, tal como a
aparência dos músicos, era olhada com a suspeita de algo estranho e não
«normal»... Todavia, o grupo representou, nos seus dias, uma das mais atentas
pontes de contacto directo com os acontecimentos da capital pop/rock _Londres.
The Dance Of The Death, bem como o outro single editado ainda em 1970 (Glory /
Keep Your Love Alive, novamente duas composições de Kevin Holdale), são peças fulcrais
do melhor rock português de inícios de 70.
Novas mudanças de formação têm lugar entre 1971 e 72.
Pelo grupo passam nomes como os de Terry Thomas e Guilherme Inês. Holdale, a
dada altura, segue caminho paralelo no Bridge, um grupo de jazz. Da sua convivência
nessas fronteiras nasceria ainda uma colaboração com o Duo Ouro Negro e
Fernando Girão (dos Very Nice), da qual nasceria o álbum Background.
Num vai e vem de músicos, o grupo acaba oficialmente em
1972. Holdale abandona o país em 1973. Terry Thomas formou os Albatroz. Jim
Creegan regressou a Inglaterra e tocou nos Family, nos Cockney Rebel (de Steve
Harley) e, mais tarde, com Rod Stewart. Guilherme Inês e Zé Nabo formam com
José Cid e Moz Carrapa o efémero grupo Cid, Scarpa, Carrapa e Nabo. Os dois,
mais tarde, encontrar-se-ão nos bem sucedidos Salada de Frutas. Por seu lado,
Mike Sergeant passa pelo Quarteto 1111, os Green Windows e mais tarde Gemini.
Nuno Galopim.
24.2.17
DN - Série: Discos Pe(r)didos (2)

DN - Diário de Notícias
Discos pe(r)didos
Juntamente com os Heróis do Mar, os GNR foram um dos
grupos mais prolíficos da cena pop/rock portuguesa de 80. Prolíficos não só em
nome próprio, mas também como troncos de árvores genealógicas que cresceram dos
elementos ligados às duas bandas, quer em carreiras paralelas ou em caminhos a
solo depois da separação da «nave-mãe».
Comecemos por recuar a 1979, ano no qual o grupo nasce
quando Vítor Rua (ex King Fischer’s Band) começa a ensaiar com Alexandre Soares
(ex-Pesquisa), Tóli César Machado e Mano Zé. Em 1980 assinam pela Valentim de
Carvalho, editora para quem se estreiam, já em 1981, com o single Portugal na
CEE. Alexandre Soares é, então, guitarrista e vocalista. Mano Zé deixa,
entretanto, a banda, que fica reduzida a um trio, o mesmo que grava o segundo
single, Sê Um GNR, lançado ainda em 1981.
Vítor Rua foi, dos elementos do grupo, o primeiro a
encetar uma carreira paralela, editando CTU, nos Telectu, ainda em 1982. Deixa
os GNR pouco depois, abrindo então um caso de disputa jurídica pela posse do
nome da banda, que se estenderá durante anos, até ao cachimbo da paz, que
acontece apenas em meados de 90, quando é editada a compilação Tudo O Que Você
Queria Saber: O Melhor dos GNR. Até lá continua a editar regularmente, com os
Telectu. Grava ainda o álbum Pipocas (1986), Clássicos GNR (1989) e Mimi Tão
Pequena e Tão Suja (como Pós-GNR, em 1991).
Alexandre Soares, que sai do grupo entre 1982 e 83,
participa nos quatro primeiros álbuns de originais dos GNR. Deixa, contudo, o
microfone a Rui Reininho (que surge como vocalista em Independança, álbum de
estreia em 1982). Depois de Psicopátria decide, contudo, afastar-se
definitivamente. É então que enceta uma brevíssima carreira a solo, que se
materializa em apenas um álbum: Um Projecto Global.
Um simples olhar pelas duas fotos que se apresentam na capa
interior do álbum indiciam o cenário no qual nasceu: a própria casa de
Alexandre Soares. Numa espécie de antevisão do conceito de home recording, as
canções, nas quais se torna evidente o porquê da vontade em sair dos GNR, foram
pensadas, tocadas e gravadas numa sala, pelo próprio Alexandre Soares
(pontualmente com a ajuda de alguns amigos, entre eles Quico, nas teclas e
programações). Teclados, guitarras, gira-discos, uma mesa de mistura,
gravadores de bobinas... A maquinaria mostra-se sobre mesas e livros,
sublinhando o tom quase anarca e desenrascado do ambiente em que nasce o disco.
Um Projecto Global, na verdade, é um disco no qual valem
mais as ideias que as formas finais. O som mais parece o de uma maquete que o
de uma gravação «oficial». Contudo, esta falta de polimento parece intencional.
Não só pela falta de meios que terão
sido colocados à disposição do músico, mas certamente por uma vontade de
mostrar e viabilizar caminhos seus. Entre os mais curiosos elementos deste
disco a solo de Alexandre Soares destaca-se a presença de Pedro Ayres
Magalhães, que assina a letra de Luzes no Hotel, a faixa de abertura do disco.
Entre a lista de colaboradores referidos na ficha técnica do álbum, embora sem
designação específica da sua contribuição, surge Jorge Romão (dos GNR).
Pela evidente diferença de formas face ao que eram os GNR
de finais de 80, o passado de Alexandre Soares pouco lhe valeu junto aos media.
Um Projecto Global mal se deve ter escutado na rádio. E, por várias razões, o
disco acabou ignorado...
Esse insucesso deverá estar na origem do ponto final que
Alexandre Soares então colocou à sua carreira em nome individual. E a ideia de
eventuais sucessotres deste disco (de que fala em entrevista a Luís Maio no
livro Afectivamente GNR) acabou sem concretização.
Alexandre Soares voltou a estar no centro das atenções
quando, já nos anos 90, surge integrado na segunda formação dos Três Tristes
Tigres, assinando com Ana Deus e Regina Guimarães os álbuns, de absoluta
referência, Guia Espiritual (1996) e Comum (1998).
Nuno Galopim
ALEXANDRE SOARES LP «Um Projecto Global», Polygram, 1988,
LADO A: Luzes No Hotel, Hibernar, (Que) Ricos Dias, Fora de Casa; LADO B:
Respirar Chambo, Uma Coisa, Meus Amigos, Vozes, Recordo-me? PRODUÇÃO: Alexandre
Soares.
23.2.17
DN - Série: Discos Pe(r)didos (1)

DN - Diário de Notícias
28 de Setembro de 2002
Discos pe(r)didos
Reflexo natural da «revolução» de hábitos musicais que se
vivia na alvorada de 60, fruto das mudanças colocadas em cena pelo rock’n’roll
e pelo súbito crescimento da indústria discográfica, uma nova música de apelo
«jovem» começa a ouvir-se e a tocar-se deste lado da fronteira. O Portugal de
então não era rectângulo surdo e desatento ao que acontecia sobretudo nos EUA,
Inglaterra e, logo depois, França e Itália, importando imediatamente a
vitalidade e novidade dos dois primeiros e a tendência para a fotocópia dos
dois últimos.
Ainda nos anos 50, como primeira manifestação local do
fenómeno rock’n’roll, os Babies (que nunca chegaram a gravar) apresentam-se
como o primeiro grupo português a assumir essa mesma carga de novidade. Entre
os elementos do grupo contava-se um muito jovem José Cid que, dez anos mais
tarde, seria o elemento-chave do Quarteto 1111.
Apesar do protagonismo que a canção ligeira vivia nas
ementas radiofónicas da altura, o rock’n’roll começa a chamar a si alguns
momentos de atenção. Um rock’n’roll ainda bem comportado, limpo e bem
arranjado. Feito de valores tradicionais, uma suave pitada de rebeldia
(encenada), muita ingenuidade e farta dose de imitação. Entre os primeiros
espaços a destacar os sons da nova geração, a Rádio Renascença propõe, em 1960,
o concurso Caloiros da Canção, o antecessor (com muito favor e benevolência)
dos concursos do Rock Rendez-Vous e outros de rock de 80 e 90...
A primeira edição dos Caloiros da Canção realiza-se nas
diversas emissões do programa, emitido nas manhãs de fim-de-semana. Vencem a
categoria de grupos os Conchas, duo constituído por José Manuel Aguiar de
Concha e Fernando Gaspar (conhecidos também como Everly Brothers portugueses).
Na categoria de artista a solo triunfa Daniel Bacelar, então com apenas 17
anos, apelidado por alguns como o Ricky Nelson português.
A estreia de ambos faz-se num EP conjunto, apresentado
sob o título genérico Caloiros da Canção 1 que, editado em Setembro de 1960,
representa uma das primeiras edições nacionais na área do rock. Num dos lados
os Conchas apresentam versões de «Oh Carol» de Neil Sedaka e Should We Tell Him
dos Everly Brothers (traduzida para português como Quero o Teu Amor). Na outra
face do EP Daniel Bacelar gravava dois temas seus: Fui Louco Por Ti e Nunca. Em
ambos os casos, os «caloiros» eram acompanhados por Jorge Machado e o seu
conjunto.
Num texto publicado na contra-capa deste EP, lê-se: «Com
este disco dá-se, assim, carta de alforria a três jovens artistas que, de agora
em diante, ficam sujeitos ao juízo severo dos discófilos. Não nos admiraria,
porém, que, mais uma vez, coincidissem as opiniões. É que, tanto o público como
nós, nos guiamos pela mesma bitola: o mérito real dos artistas. E esse está bem
patente neste disco».
Ambos fariam, de facto, carreira depois deste cartão de
visita. Os Conchas editaram ainda alguns EPs nos primeiros dias de 60, como
Ídolos da Canção (1960), Greenfields (1961), Em Férias (1961), Tentação (1962)
e Somos Jovens (1962).
Por seu lado, Daniel Bacelar manteve também vida
discográfica activa apenas durante os primeiros anos de 60. Gravou diversos EPs
pela Valentim de Carvalho, Alvorada e pela editora espanhola Marfer,
apresentando-se acompanhado pelos Gentlemen depois de 1964. Em 1966 abandonou a
vida profissional na música.
O EP Caloiros da Canção 1 reúne, assim, as estreias de
dois nomes da primeira geração do rock português.
Contemporâneos de Fernando Concha, dos Plutónicos, do
Zeca do Rock e do histórico O Namorico da Rita, disco de Pedro Osório e o Seu
Conjunto, que chegou às rádios em 1959. O rock, mansinho e bem arranjado, dava
os primeiros passos entre nós.
Nuno Galopim
OS CONCHAS / DANIEL BACELAR Caloiros da Canção 1 EP
Columbia / Valentim de Carvalho, 1960
Lado A: Os Conchas, com, Oh Carol e Quero o Teu Amor;
Lado B: Daniel Bacelar, com Fui Louco Por Ti e Nunca.
22.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (7)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
16 de Setembro de 2005
16 de Setembro de 2005
[67] SCOTT WALKER
SCOTT 3
Ao terceiro álbum a solo, Scott Walker afirmou em
definitivo uma linguagem musicalmente grandiosa e sinfonista e liricamente
sombria que criou descendência. Era a força contra-corrente em tempo de
euforias entre o psicadelismo e um reencontro com a ‘Folk’.
TÍTULO
Scott 3
ALINHAMENTO
It´s Raining Today / Copenhagen / Rpsemary / Big Louise / We Came Through /
Butterfly / Two Ragged Soldiers / 30 Century Man / Winter Night / Two Weeks Since
You’ve Gone / Sons Of / Funeral Tango / If You Go Away
ANO 1969
EDITORA
Fontana
Começou a carreira em inícios de 60 como estrela
teenager. Nos Walker Brothers somou fama e fortuna, mas cedo a ânsia de
afirmação de uma identidade acabou por levá-lo por um trilho próprio,
estreando-se a solo em 1967. Numa altura em que o protagonismo pop/rock era
dominado por sonhos ácidos feitos de luz e químicos e, logo depois,
caracterizado por um desejo de reencontro pastoral, Walker foi uma das raras
forças contra-corrente capazes de se afirmar publicamente com reconhecido
sucesso. Enquanto uns levitavam ao som do rock psicadélico e outros descia, à
terra sob banda sonora folk, Scott Walker descobria o seu caminho através de
uma identificação profunda com a obra de um cantautor belga: Jacques Brel. A
sua abordagem à escrita de canções e seus arranjos revelava logo na sua estreia
uma atitude ostensivamente sinfonista, grande e eloquente. A lírica era
igualmente distinta dos hábitos da época, reflectindo sobre figuras do lado
errado da noite, o suicídio, pragas, ideias implosivas.
O promeiro álbum, Scott (1967) congregou ainda a adesão
dos fãs dos Walker Brothers, mas em detrimento das baladas luminosas de
outrora, servia uma música mais pessoal feita de climas e palavras mais densas.
No disco, o cantor gravava três versões de originais de Jacques Brel. Scott 2
(1968) foi ainda mais bem aceite, sobretudo graças a nova “dose” de versões de
Brel, particularmente a bem sucedida leitura de Jacky.
A consagração definitiva da sua personalidade artística e
de uma linguagem musical que criou depois forte descendência (Pulp, David
Bowie, Bryan Ferry, Momus ou Marc Almond) chegou em 1969 com o marcante Scott
3, álbum no qual, à excepção da terceira (e derradeira) “dose” tripla de versões
de Brel, todas as canções são de sua autoria. Os arranjos exibem uma
grandiosidade já sólida e consequente e as palavras são, mais do que nunca, um
espaço de ensaio e reflexão sobre o lado sombrio da vida, o oposto da luz. É um
disco tenso, liricamente exigente, musicalmente poderoso, e perfeccionista ao
mais pequeno detalhe.
Big Louise chocou a moral da época, pouco habituada a ver
um cantor fazer de uma prostituta a protagonista de uma canção. If You Go Away
é uma das mais brilhantes versões de Brel alguma vez registadas. It’s Raining
Today respira um desafiante sentido de liberdade formal mais próxima do teatro
musical que da sua herança pop. Rosemary é grandiosa afirmação de eloquência.
30 Century Man é inesperada ligação à folk (a que regressaria nos anos 70).
O disco representou a derradeira experiência de sucesso
de Scott Walker, de então em diante desviado por um desejo próprio para
caminhos mais obscuros.
Nuno Galopim
21.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (6)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
09 de Dezembro de 2005
09 de Dezembro de 2005
[67] GENESIS
THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY
Em 1974, o quinteto essencial dos Genesis edita o seu último
disco. Uma ópera rock em 23 actos que entra para a história como obra-prima do
progtressivo e canto do cisne de uma das suas mais brilhantes bandas.
TÍTULO
The Lamb Lies Down On Broadway
ALINHAMENTO
Disco 1: The Lamb Lies Down On Broadway / Fly On A Windshield / Broadway Melody
Of 1974 / Cucko Cocoon / In The Cage / The Grand Parade Of Lifeless Packaging /
Back In N.Y.C. / Hairless Heart / Counting Out Time / Carpet Crawlers / The
Chamber Of 32 Doors / Disco 2: Lilywhite Lilith / The Waiting Room / Anyway /
Here Comes The Supernatural Anaesthetist / The Lamia / Silent Sorrow In Empty
Boats / The Colony Of Slippermen (The Arrival, A Visit To The Doctor, Raven) /
Ravine / The Light Dies Down On Broadway / Riding The Scree / In The Rapids /
It
PRODUÇÃO
Genesis
EDITORA
Atco
A história começa a 20 de Dezembro de 1970. Num anúncio
publicado na revista Melody Maker, lia-se: “Guitarrista / compositor imaginativo
procura projecto com músicos receptivos, determinado a ir além das formas
estagnadas da música actual. Steve 730 2445.” Peter Gabriel gostou do que leu e
convidou o anunciante para um ensaio. E assim ficava completo um dos quintetos
mais influentes da história do rock. Uma formação que apenas se manteve durante
56 meses, editou quatro álbuns de originais e um ao vivo, mas que ainda hoje
permanece objecto de um culto cerrado. Trinta anos depois, há 61 bandas de
tributo e imitação, com reconhecimento oficial dos Genesis originais, que
procuram reproduzir o som desses dias.
Há uma história colectiva que precede a entrada de Steve
Hackett em 1970 e uma outra, bem mais longa, sucede a saída de Peter Gabriel,
em Agosto de 1975. Mas foi à volta desses 1701 dias de glória que se construiu
o mito. Foram desse tempo quatro registos incontornáveis para a história do
rock: Nursery Crime (1971), Foxtrot (1972), Selling England By The Pound e
Genesis Live (1973, e o magnífico The Lamb Lies Down On Broadway (1974).
Primeiro álbum duplo no currículo da banda, The Lamb... é
a mais mítica das aventuras dos Genesis. Desde logo, por constituir o seu
trabalho de maior fôlego e complexidade: estamos perante uma ópera rock que em
23 actos – que somam noventa minutos – canta a história de Rael, um jovem
porto-riquenho que vagueia pelas ruas de Nova Iorque. Depois, também, porque a
digressão que o levou a palco criou um espectáculo com um grau de elaboração
cénica e teatral sem precedentes. Por fim, porque é o último acto criativo participado
por Peter Gabriel.
E a partida do escritor, cantor, actor e dramaturgo que
era Gabriel significou, para as mais cerradas fileiras da sua legião de
militantes, o fim da própria banda. Para esses, este álbum é simultaneamente
uma obra-prima do rock progressivo e um requiem pela banda que foi uma das suas
mais competentes e bem sucedidas representantes. Outros, pelo contrário,
acreditam que o génio ainda sobrevive, ainda que empalidecido, nos subsequentes
Trick Of The Tail (1976), Wind And Wuthering (1977), Duke (1980) e mesmo em
Abacab (1981), trabalhos que precederam o decisivo colapso pop. Certo é que
estamos perante um dos mais fabulosos exemplares do esforço que o rock fez para
atingir um patamar superior de elaboração conceptual, um notável exercício de
criatividade compositora e talento instrumental que, trinta anos volvidos,
permanece actual e surpreendente.
Nuno Galopim
Etiquetas:
Anos 70,
Anos 70 UK,
DN,
DN:música,
Genesis,
Nuno Galopim,
Prog Rock,
Progressivo,
Rock Progressivo UK
20.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (5)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
[67] AIR
Em finais de 90 dois franceses de Versailles mostraram
como se podia inventar o futuro com base em assimilações de referências
colhidas em discos dos anos 70, do rock progressivo às electrónicas
TÍTULO
Moon Safari
ALINHAMENTO
La Femme Accident / Sexy Boy / All I Need / Kelly Watch The Stars / Talisman /
Remember / You Make It Easy / Ce Matin La / New Star In The Sky / Le Voyage De
Penelope
PRODUÇÃO
Air
ANO 1998
Durante longos anos música francesa foi para muitos fenómeno
de chanson, de cantores de charme. E, em regime pop, quando muito de Serge
Gainsbourg, talvez Françoise Hardy e poucos mais. Apesar dos acontecimentos pop
de 80 para consumo interno, e do gérmen de uma pujante comunidade hip hop,
exclusivamente local, em inícios de 90, a França, vista de fora, parecia, há
dez anos, uma galeria de memórias onde nada de novo acontecia. Até que uma
série de nomes brotaram aqui e ali, cativando atenções e abrindo terreno numa
das mais célebres operações de política cultural pop alguma vez vistas em solo
europeu. Primeiro foi o projecto St Germain, logo depois Etenne de Crecy... E
em Janeiro de 1998 um álbum magistral colocava em cena a banda que levava a
nova França musical a um ponto de não retorno. Chamavam-se Air, e o álbum, Moon
Safari. Nunca a França tinha conhecido tão eficaz e global embaixadores pop na
sua vida. E toda uma nova geração de músicos, até ali condenados a viver em
território gaulês, abria novas vias de comunicação com o mundo.
Nicolas Godin e Jean Benoit Dunckel cresceram em
Versailles onde, ainda nos dias de liceu, se conheceram através de Alex Gopher,
amigo comum com quem partilharam um lugar nos Orange. Juntos formaram em 1995
os Air; que logo montaram um pequeno estúdio no qual começaram por gravar singles
que editaram através de etiquetas como a Source ou Mo’Wax. Singles rapidamente
elogiados entre os mais atentos, mas com vida discreta e então reduzida a
circuitos de menor exposição (e mais tarde reunidos na compilação Premiers
Symptomes).
O grupo mostrava na sua música um certo charme que
evocava memórias de 60 (sobretudo nos álbuns sinfonistas de Gainsbourg), mas
demarcava-se das demais figuras da mesma geração ao optar pelo melodismo, pelo
paisagismo (quase Floydiano) e por um sentido de requinte, contra o apelo
rítmico de um Etienne de Crecy ou Daft Punk.
Assinados pela Virgin, viram o seu álbum de estreia
rapidamente exposto em todo o mundo. O apelo pop do single de estreia, Sexy
Boy, valeu-lhes transversal atenção global, cruzando públicos, até mesmo os
habitualmente pouco dados às electrónicas. Seguiu-se Kelly Watch The Stars,
sonho para vocoder e melodismo adocicado. E, mais tarde, o sensível e
envolvente All I Need. Todos eles portas de entrada num álbum eloquente que,
mesmo embebido em referências escutadas nos anos 70, inventou o futuro.
Nuno Galopim
Nuno Galopim
Etiquetas:
Air,
anos 90,
Anos 90 França,
DN,
DN:música,
French Touch,
Jean Benoit Dunckel,
Moon Safari,
Nicolas Godin,
Nuno Galopim
19.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (4)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
[51] MLER IFE DADA
COISAS QUE FASCINAM
Três anos depois da estreia, a primeira banda a vencer o
concurso de música moderna do Rock Rendez-Vous editou um dos álbuns
fundamentais da música portuguesa. Mas em “Coisas Que Fascinam” há muito mais
que o êxito “Zuvi Zeva Novi”.
TÍTULO Coisas Que Fascinam
ALINHAMENTO Zuvi Zeva Novi / Passerelle / A Elsa Disse /
À Sombra Desta Pirâmide / Valete (De Copas) / Siô Djuzé / Desastre De Automóvel
Em Varão De Escadas / Festa Da Cerveja / Sinto Em Mim / Pandra-Bomba / Oito
Doces / Alfama / Ça Me Fascine
PRODUÇÃO Nuno Rebelo
EDITORA Polygram
Em 1987, quando editaram o álbum de estreia, os Mler Ife
Dada eram já uma das bandas mais populares de então. Nos três anos que haviam
passado entre a sua formação e a edição de Coisas Que Fascinam, a banda de Nuno
Rebelo, Anabela Duarte, José Garcia, José Pedro Lorena e António Garcia tinha
já conquistado felizes vitórias.
A história começa em 1984, com a fundação da banda, em
Cascais (com Rebelo, António França, Pedro D’Orey e Kim). Logo nesse ano,
vencem o primeiro Concurso de Música Moderna do Rock Rendez-Vous e começam a
dar nas vistas. Mas o ano seguinte viria a marcar profundamente a vida dos Mler
Ife Dada. No mesmo ano em que editam o seu primeiro maxi-single (Zimpó), pela
Dansa do Som, a banda muda radicalmente de formação – do quarteto original
ficam Nuno Rebelo. Para a voz, entra Anabela Duarte. Apesar da grande mudança
interna, os Mler Ife Dada recebem os prémios de revelação da revista Música
& Som e do jornal Sete. 1986 trouxe vários concertos importantes e um
single de sucesso, L’Amour Va Bien Merci (incluído também nesse ano na
colectânea Divergências, da Ama Romanta).
Quando, em 1987, é editado Coisas Que Fascinam – afinal,
o álbum de estreia -, os Mler Ife Dada são já uma referência, não só para uma
nova vaga de bandas portuguesas, como para uma nova geração de ouvintes e fãs.
O single Zuvi Zeva Novi é o inevitável cartão de visita
do álbum. Colagem de referências (a letra terá nascido de uma insónia, a
melodia de um genérico televisivo), o tema confirma o fascínio de Nuno Rebelo e
de Anabela Duarte pelas “outras músicas” (a étnica, a clássica, a
experimental...), que marcam todo o álbum.
Temas como o arábico À Sombra Desta Pirâmide, o Siô Djuzé
de ares cabo-verdianos ou o fabuloso fado-pop Alfama trazem ao disco uma carga
étnica distinta mas perfeitamente assimilada pela música da banda. O mesmo
acontece em momentos mais experimentais (Desastre de Automóvel em Varão de
Escadas), onde as arriscadas aventuras sónicas e líricas (entre o surreal, o
popular e o perfeitamente ininteligível, escritas e cantadas em várias línguas)
complementam a sonoridade pop única dos Mler Ife Dada, feita também do humor de
Oito Doces e Festa da Cerveja, da melancolia de Sinto Em Mim e A Elsa Disse, da
poética de Valete (De Copas) e Pandra-Bomba.
Álbum pequeno, de canções inexplicavelmente cativantes.
Coisas Que Fascinam fascina também pela forma como se revelou objecto único e
irrepetível na carreira dos Mler Ife Dada e na música portuguesa.
Ricardo Sérgio
Etiquetas:
anos 80,
Anos 80 Portugal,
Coisas Que Fascinam,
DN,
DN:música,
Mler Ife Dada,
New Wave,
New Wave Portugal,
Post-Punk,
Ricardo Sérgio
17.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (3)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
26 de Agosto de 2005
26 de Agosto de 2005
[51] QUARTETO 111
QUARTETO 111
No pobre panorama pop português de 60, afastado da efervescência
vivida entre Inglaterra e os Estados Unidos pela ditadura de Salazar e Caetano,
os Quarteto 1111 de José Cid foram um oásis de modernidade. O seu álbum de
estreia, homónimo, mantém-se como um manifesto à criatividade em regime de
experimentação febril.
TÍTULO Quarteto 1111
ALINHAMENTO Prólogo / João Nada / Domingo em Bidonville /
Uma Estrada Para a Minha Aldeia / A Fuga dos Grilos / As Trovas do Vento que
Passa / Pigmentação / Maria Negra / Lenda de Nambuangongo / Escravatura /
Epílogo
ANO 1970 (reedição em CD pela EMI Music Portugal)
PRODUTOR Quarteto 1111
Na década de 60, enquanto a maioria do Ocidente vivia uma
revolução social ancorada numa cultura juvenil que assumia declaradamente a
cisão com as gerações anteriores, ao Portugal governado pela ditadura
salazarista chegavam apenas ecos abafados dessa ebulição.
A maioria das bandas, com pouco espaço para mais que
animação de bailes de finalistas e afins, entregavam-se a versões de êxitos ou
a originais que não escondiam um evidente desejo de emulação do que se fazia em
Inglaterra ou nos Estados Unidos.
Como excepções, tínhamos os Sheiks, trabalhando freneticamente
sobre a explosão despoletada pelos Beatles, ou uns Jets cujo único EP editado,
fosse outro o país de edição, se inscreveria como título de culto da emergente
vaga psicadélica. O grande marco pop do Portugal de 60, contudo, seria da
responsabilidade de uma banda que, de forma inédita, conjugava a modernidade
além fronteiras com língua e motivos portugueses. Eram os Quarteto 1111 e
revelaram-se com uma A Lenda D’el Rei D. Sebastião sobre a qual Cândido Mota
aos microfones do Rádio Clube Português, opinava em 1967: “é um tema eterno, de
criação nacional e validade perene e universal”. Depois dele, continuariam a
caber ao Quarteto 1111 liderado por José Cid as mais excitantes manifestações
pop portuguesas, quer fosse nos acessos folk de Dona Vitória e Dragão ou nas
divagações ácidas de Os Monstros Sagrados e Génese. Em 1970, a criatividade que
até então se dispersara por singles e EPs concretiza-se finalmente em longa-duração,
o segundo da história da pop nacional – um ano antes, a Filarmónica Fraude
editava a sua brilhante estreia, Epopeia.
Quarteto 1111, álbum conceptual dedicado à emigração e à
Guerra Colonial, politicamente interventivo – também aí, em contexto rock, o
Quarteto foi pioneiro - e febrilmente
experimentalista, não teve vida longa. Pouco depois da edição, a censura
retirava-o das lojas, passando à clandestinidade de cópia pirata.
Contudo, aqueles que o conseguiram ouvir em tempo real e
todos os outros que, ao longo dos anos, com ele se foram deparando encontram
ali um magnífico manifesto à criatividade sem amarras. A folk de João Nada, o
funk de Pigmentação, o denso psicadelismo de Maria Negra ou Escravatura, as
experiências sónicas de Epílogo – quase impensáveis tendo em conta os meios
disponíveis aos músicos portugueses de então -, as colagens sonoras de Fuga dos
Grilos ou a sofrida melancolia de Domingo em Bidonville, todas elas, representam
uma sintonia entre anseio pela modernidade e desejo de vincar uma identidade
própria que o pop/rock português só conseguiria concretizar satisfatoriamente
quase uma década depois.
Mário Lopes
Etiquetas:
Anos 60,
Anos 60 Portugal,
DN,
DN:música,
José Cid,
Mário Lopes,
Progressivo Portugal,
Psicadelismo Portugal,
Quarteto 1111
16.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (2)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
09 de Setembro de 2005
09 de Setembro de 2005
[53] THE
JESUS AND MARY CHAIN
PSYCHOCANDY
O primeiro álbum dos Jesus And Mary Chain é uma ode pop
ruidosa e atitude marginal. Um modelo antigo que a banda soube reinventar até
parecer só seu.
TÍTULO
Psychocandy
ALINHAMENTO
Just Like Honey / The Living End / Taste The Floor / The Hardest Walk / Cut
Dead / In a Hole / Taste of Cindy / Some Candy Talking / Never Understand /
Inside Me / Sowing Seeds / My Little Underground / You Trip Me Up / Something’s
Wrong / It’s So Hard
ANO 1985
EDITORA
Wea Records
O grande feito dos Jesus and Mary Chain talvez tenha sido
o de conseguirem juntar três referências históricas de um modo que ultrapassa a
mera citação: Phil Spector, Beach Boys e Velvet Underground. Por isso mesmo,
Psychocandy, o álbum de estreia do grupo, não pode ser considerado outra coisa
que não uma experiência sónica nos limites do pop, que combina ensinamentos e
descobertas de algum modo já consideradas clássicas nos anos 80, mas ainda
assim com uma genuína atitude de descoberta e arrojo estético. Para lá das
roupas pretas, do cabelo espetado e da atitude displicente, os Jesus, (na
altura os irmãos Reid, Douglas Hart no baixo e Bobby Gillespie, hoje nos Primal
Scream, na bateria), foram um projecto de vanguarda que ousou fazer pop com
ruído, distorção e eco.
Com este disco, estabeleceram-se também como um novo
modelo da cena independente, voraz na sua assimilação de comportamentos, sons e
cortes de cabelo. A marca dos Jesus And Mary Chain foi tão forte, que a herança
de Psychocandy foi reclamada por grupos como My Bloody Valentine ou mesmo Sonic
Youth e manteve-se durante muito tempo como um estereótipo inabalável. Os Jesus
nunca esconderam a sua admiração por Phil Spector e a sua wall of sound
(técnica de gravação que resultava numa muralha de som, densa e quase táctil),
por isso, canções como Just Like Honey ou Some Candy Talking lembram a candura
ruidosa das Ronettes e das Shangri Las, enquanto The Living End soa como um
cruzamento entre a energia crua dos Stooges e o feedback implacável dos Velvet
Underground e The Hardest Walk só precisava de umas harmonias vocais mais doces
para ter a marca de Brian Wilson. Entre o niilismo ruidoso, a pop delicodoce, o
imaginário de jovens rebeldes feito de motas e cabedal e as canções de amor
desamparadas, Psychocandy é como um retrato dos eternos mitos da adolescência
urgente. Em 1985, quando foi editado, já os Jesus tinham conseguido alguma
atenção com os primeiros singles (Upside Down, Never Understand), mas este
disco foi como um clássico instantâneo que os colocou definitivamente no mapa
das bandas importantes. Nem mesmo o facto da sua originalidade ser um decalque
da de outros, foi obstáculo para o seu endeuzamento. Psychocandy acabou por ser
também responsável pelo reavivar da história e por uma reavaliação do passado
que permitiu aos grupos que inspiram os Jesus um novo e merecido folego de
notoriedade. Muita gente comprou White Light White Heat dos Velvet Underground
ou Pet Sounds dos Beach Boys, depois de ter lido algures que era daí que Psychocandy
vinha.
Parte da sua magia e importância reside aí. O resto é
pura inspiração pop.
Isilda Sanches
Etiquetas:
anos 80,
Anos 80 UK,
DN,
DN:música,
Isilda Sanches,
Jesus And Mary Chain (The),
New Wave,
New Wave UK,
Post-Punk,
Psychocandy
15.2.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (1)

DN:música
Os melhores álbuns de sempre
02 de Setembro de 2005
02 de Setembro de 2005
[52] WALTER CARLOS
Na banda sonora de A Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick
desvendou-se uma das primeiras obras-primas da música electrónica ‘popular’.
Música visionária, pioneira, herdeira das descobertas de Moog, em diálogos
entre a tradição clássica e a invenção de novas linguagens
TÍTULO A
Clockwork Orange (Original Soundtrack
ALINHAMENTO
Title Music From A Clockwork Orange (W. Carlos / R. Elkind) / The Thieving
Magpie (Rossini / Theme From A Clockwork Orange (W. Carlos / R. Elkind) / Ninth
Symphony – second movement (Beethoven) / March From A Clockwork Orange
(Beethoven, arr. W. Carlos) / William Tell Overture (Rossini) / Pomp And Circumstance
March No 1 (Elgar) / Pomp And Circumstance March No 4 (Elgar) / Timesteps (W.
Carlos) / Overture To The Sun (Terry Tucker) / I Want To Marry A Lighthouse
Keeper / Suicide Scherzo (Beethoven, arr. W. Carlos) / Ninth Symphony – fourth
movement (Beethoven, arr. W. Carlos) / Singin’ In The Rain
ANO 1972
EDITORA
Warner Records
Em 1971 Stanley Kubrick apresentou A Laranja Mecânica, um
dos mais marcantes dos seus filmes, adaptação de um romance de Antony Burgess
no qual se revela a história de Alex, um jovem cujos interesses são apenas
sexo, ultra-violência e Beethoven. O filme, um dos mais citados entre
fundamentais por sucessivas gerações de músicos, juntou a uma realização de
mestre e a um argumento notável uma interpretação arrebatadora de Michael
MacDowell, um aprumo visual iconográfico e uma banda sonora que fez história,
revelando-se uma das primeiras obras-primas da música electrónica “popular”.
Colaborador de Robert Moog no desenvolvimento do seu
sintetizador, o norte-americano Walter Carlos (hoje Wendy, depois de uma
operação de mudança de sexo em 1972) levou as potencialidades das novas
tecnologias ao serviço da música a bom porto com dois discos nos quais ousou
cruzar referências da música clássica com as emergentes máquinas electrónicas
de fazer som. Em Switch On Bach (1968) e The Well Tempered Clavier (1969),
reinterpretou leituras de obras seculares à luz do que se sonhava ser o som do
futuro.
Kubrick desafiou Walter Carlos a criar as músicas e
paisagens sonoras de A Laranja Mecânica, procurando em algumas diálogos
visionários entre passado e futuro, entre a música clássica e os novos
instrumentos, em tudo seguindo pistas fulcrais na definição dos jogos éticos do
próprio filme. Walter Carlos partiu precisamente da lógica de adaptação livre
que praticara nos anos recentes e reinventou, para Kubrick, a abertura de
Guilherme Tell de Rossini e, claro, elementos diversos da Nona de Beethoven,
peças que quase adquirem uma lógica narrativa. Numa das variações em torno de
Beethoven, à qual chamou March From A Clockwork Orange (definida sobre excertos
do quarto andamento da nona sinfonia), Walter Carlos estreou um instrumento que
depois se tornaria acessório em muita produção musical posterior: o vocoder.
A estas peças interpretativas, Walter Carlos juntou composições
suas, uma delas o gatilho primeiro para o interesse de Kubrick, o expressivo e
texturalmente deslumbrante Timesteps, o hoje célebre tema de abertura do filme
e alguns elementos incidentais. O resto da banda sonora é constituído por
gravações “clássicas” de obras de Rossini, Elgar, Tucker e Beethoven e as
canções Singing In The Rain de Gene Kelly e I Want To Marry A Lighthouse Keeper
de Erik Eigen.
Três meses depois da banda sonora, Walter Carlos editou
um disco complementar com a versão integral de Timesteps e porções de música
adicional que acabaram fora da montagem final do filme.
Nuno Galopim
Etiquetas:
A Clockwork Orange,
A Laranja Mecânica,
Bandas Sonoras,
Cinema,
DN,
DN:música,
Filmes,
Nuno Galopim,
OST,
soundtrack,
Stanley Kubrick,
Synth,
Walter Carlos
12.2.17
Rock Psicadélico - Dossier

Rock Psicadélico
Dossier de 5 páginas, no
DN:música de 09 de Setembro de 2005
Autor: Mário Lopes
DOSSIER
ROCK PSICADÉLICO
Entre 1966 e 1969, o universo musical transformou-se. Na Califórnia, os Grateful Dead reabriram as portas da percepção. Em Londres, reescreviam-se as regras da pop numa espiral experimentalista inaudita. O psicadelismo anunciou-se e nunca nada mais foi o mesmo.
Em 1954, quando Aldous Huxley publicou As Portas da Percepção, inspirado num poema de William Blake, estava longe de imaginar que o “porta” descoberto em gotas de mescalina despoletaria uma revolução em forma artística ainda não oficialmente fundada – falamos do rock’n’roll cujo nascimento se assinala à volta de 1956, ano do primeiro álbum de Elvis Presley. No livro, o escritor partia da sua primeira experiência alucinogénea e traçava um retrato histórico da experiência psicadélica ao longo da história da Humanidade. Na Idade Média, o povo vivia-a olhando a luz reflectida pelos vitrais das Catedrais, explosão de cor incandescente para olhos habituados a escuridão e a cores desmaiadas. Cinco séculos depois, essa luz continuava a impressionar, mas num mundo de televisão, cinema e néons, num mundo tornado eléctrico, os vitrais de Catedrais medievais eram mais experiência estética calmante, absorvente, que extática e transportadora. Aldous Huxley, antes do rock’n’roll, antes de psicadélico ser palavra cunhada no léxico comum – a primeira vez que foi publicada num jornal britânico, já na década de 60, foi acompanhada de nota de rodapé explicativa -, deu de caras, assombrado, com novos vitrais. Por umas horas, despediu-se do mundo como o conhecemos e descreveu a essência da vida que julgava ver na textura de uma folha de árvore, num pô-do-sol de glória até então escondida., numa sensação de plenitude sobre a qual lera em textos de religiões orientais. Essa alteração do estado de consciência, vista como anúncio de chagada a um patamar superior, tornar-se-ia uma década depois um dos principais motores de mudança de uma cultura que, então, tentou fazer do escapismo realidade constante. Assim foi com o advento do psicadelismo que, em meados da década de 60, transformaria para sempre o cenário da música popular urbana e, durante um período de tempo alargado por quase meia década, a própria paisagem social e cultural na sua globalidade.
Por agora, contudo, voltemos ao 1954 de Aldous Huxley. Enquanto o escritor britânico, refugiado na Califórnia, entrava no último período da sua carreira, um canadiano por nascença, americano de espírito, Jack Kerouac, preparava-se para editar, em 56, aquele que seria, juntamente com o poema Howl, de Allen Ginsberg, o documento definitivo da geração beat. Pela Estrada Fora, misto de viagem iniciática e relato de uma nova forma de vida pulsando nos interstícios da normalidade – em viagem, sempre em viagem -, distorcia as regras narrativas clássicas ao abrir-se a influências que lhe eram exteriores. Kerouac queria inscrever nas frases o ritmo e a respiração do jazz de Charlie Parker e Dizzy Gillespie e fazia da escrita um fluxo de consciência onde revisão era palavra interdita e a pontuação estrutura moldável. A sua vida em vertigem – excessiva, diletante, boémia, insaciável, um poético titubear em busca de satisfação sempre incumprida na sua plenitude – vertia-se no papel com a mesma voracidade e consciente ausência de planeamento que as aventuras Estados Unidos fora na companhia de Dean Moriarty. A geração beat, centro espiritual em São Francisco, inventou-se como refúgio de desalinhados de uma América que tentavam reinventar pela poesia, literatura e música, por uma vivência feita conjugação paradoxal de zen budista com prazeres mundanos sorvidos intensamente.
Os químicos de Huxley e a personalidade libertária dos beatnicks encontrar-se-iam, anos mais tarde, reunidos numa mesma atitude perante a criatividade cujo objectivo era quebrar barreiras pela invenção de uma nova paleta de cores, garridas e faiscantes.
PSICADELISMO AMERICANO. Quando os Beatles aterraram em Nova Iorque, em 1964, encontraram-se rodeados de um ambiente de excitação adolescente e de extrema curiosidade mediática. Contudo, a British Invasion que despoletaram e que definiria o curso futuro da música pop não foi recebida com igual entusiasmo em todos os quadrantes.
No Beatles First US Visit realizado pelos irmãos Moysles, ouvimos as vozes da discórdia. Enquanto, no próprio aeroporto, a maioria declarava a passagem de Elvis à categoria de “velhote”, enquanto David Crosby e uma série de futuros actores principais da cena musical americana esperavam a actuação no Ed Sullivan Show para viverem uma epifania definidora do que seriam daí para a frente, a câmara dos Moysles captava a opinião de alguns hipsters saídos, imaginamos, do esclarecido Greenwich Village de folk e jazz. Que sim, diziam, agradava-lhes o fenómeno pelo corte que representava com o cinzento conservadorismo da geração anterior. Que não, acrescentavam, não era aquela a música mais excitante e inovadora que o mundo recebia na altura: coisa básica e demasiado adolescente, sentenciavam.
Nessa mesma noite, imaginamos, terão regressado ao seu campo de acção e, com sorte, depararam com um concerto em que Bob Dylan, apresentando as novidades de Another Side of Bob Dylan, tocou Chimes of Freedom e antecipou a transformação de inspiradíssimo cantor de intervenção em poeta folk imprescindível – metade beatnick, metade surrealista, todo Dylan.
Os Beatles libertaram o som, Dylan, através da palavra, libertou a música pop para outros universos além do habitual boy meets girl e, rondando a Universidade de Berkeley, Timothy Leary, ex-professor universitário – expulso de Harvard pelos estudos com drogas aluconogénas que ali desenvolveu -, preparava o “turn on, tune in, drop out” que se tornaria lema do rock psicadélico em gestação.
Entretanto, os dois “folkies” pouco excitados com a música dos Beatles não demorariam a deixar-se entusiasmar por ela, à medida que She Loves You e I Wanna Hold Your Hand davam lugar a Ticket To Ride e I Feel Fine. Tal como eles, toda uma geração de jovens folkies não tardaram a insuflar a sua formação neo-beatnick da electricidade do rock’n’roll, acrescentando-lhe pelo caminho um desejo de criar música verdadeiramente nova, onde a liberdade do jazz, a espiritualidade oriental e o escapismo colorido do LSD se uniam sob o mote: “a regra é não haver regras”.
O grande centro criativo, pólo onde o psicadelismo como o viémos a conhecer se alargaria a todo o mundo, foi a Califórnia de São Francisco e Los Angeles. É do estado americano que Ken Kesey (autor de Voando Sobre Um Ninho de Cucos) parte com o colectivo Merry Pranksters para “iniciar” a juventude americana na revelação dos Acid Tests (antepassados das actuais raves, festas onde a música das bandas em palco e a profusão de jogos de luzes psicadélicos potenciavam o efeito do LSD, cuja proibição só chegaria no final de 1966, distribuído gratuitamente pelos organizadores). Como banda residente dos eventos encontrávamos uns Warlocks que se revelariam fundamentais na definição e propagação do psicadelismo América fora. Actuando em palcos onde a distância entre o grupo e o público era inexistente, também eles participantes activos no “teste ácido”, os seus concertos eram verdadeiros “happenings” prolongados pelas horas que durasse o efeito do LSD nos corpos na assistência. Clássicos folk e r&b distorciam-se pelo longo improviso e pelas mutações provocadas pelo ambiente e estado químico dos elementos da banda e transformavam-se em prolongados jams com o cosmos por objectivo último.
Nesta altura, estávamos em 1965. No ano seguinte, já os Warlocks eram conhecidos pelo nome com que ficariam para a história, Grateful Dead, e o seu centro de operações, uma mansão vitoriana na zona de Aight-Ashbury, em São Francisco, tornava-se foco central da revolução em construção. O bairro, a 10 minutos de distância da Universidade de Berkeley e muito procurado pela população jovem pelo baixo preço das rendas, transformar-se-ia em viveiro de bandas e numa espécie de Meca da contracultura de 60, que suscitava curiosidade mundo fora. Seria visitada pelos Stones e por George Harrison e teria direito pouco depois, no final da década, a visitas turísticas organizadas.
É neste contexto que surgem as bandas mais marcantes do psicadelismo americano. Os folkies deixaram-se tocar pelo rock’n’roll, ingeriram ácidos de boa colheita e, “mente expandida”, partiram numa viagem em busca dos sons que melhor representassem a experiência. Assim foi com os Jefferson Airplane, com os Country Joe & The Fish, com os Big Brother & The Holding Company que serviram de rampa de lançamento a Janis Joplin, com os HP Lovecraft e uma série de outras bandas nascidas na cidade ou que para lá se deslocaram a partir do momento em que se espalha a sua fama como capital psicadélica mundial. A música que ali floresce passa a olhar com desdém para o limite temporal estabelecido para uma canção, privilegia o improviso e a procura de novos sons – quer na utilização de instrumentos até então arredios da tradição pop, quer naqueles que, depois do impacto de Sgt. Peppers, se descobriam no estúdio – e liberta em verso o imaginário surreal das experiências alucinogéneas. Farfisas e Hammonds reverberam como nunca antes, as guitarras descobrem-se ácidas e repletas de fuzz, o bucolismo folk ganha sentido cósmico e o rock’n’roll o sentido exploratório do jazz, transformando-se em mero ponto de partida para a descoberta de novos universos musicais.
Movidos por um forte sentido comunal, todos pareciam comprometidos à causa. Artistas plásticos desenvolviam os cartazes que se tornariam indissociáveis da música da época, fotógrafos traduziam-na em grandes angulares e em mil manipulações de cor, realizadores levavam a contracultura ao grande ecrã, em filmes como Psych Out, The Trip (argumento de Jack Nicholson) ou Head (a transformação da boys-band Monkees em hipsters alucinados) e promotores de concertos anunciavam bilhetes a 5 dólares (notas queimadas à entrada, s.f.f.).
Num ápice, a onda psicadélica varria todo o território americano e o underground atingia o mainstream. Em 1967 o Monterey Pop Festival, o primeiro grande festival rock, organizado pelos The Mamas & The Papas, consagra a nova geração – por lá passaram os Jefferson Airplane, os Byrds, os Buffalo Springfield, Janis Joplin, Jimi Hendrix ou The Who. No ano seguinte, os Airplane chegam à capa da Life e a revista, pegando nos autores de White Rabbit, nos Cream, Country Joe & The Fish e Big Brother & The Holding Company, apresenta aos mais desatentos o “novo rock”. Nesse mesmo ano, Grace Slick e Marty Balin transformariam o Ed Sullivan Show e televisões de milhões de lares americanos em palco para projecção psicadélica pouco consentânea com o horário nobre.
Do Texas, os 13th Floor Elevators apresentam a versão mais negra e psicótica do psicadelismo, em LA os Byrds passam do jingle-jangle de Mr. Tambourine Man para as planagens e as vozes encantatórias de Eight Miles High, os Doors criam o épico definitivo do período, The End e os Love fazem com Da Capo a mais elegante estilização da estética da época.
Se, na sua génese e na definição das suas (rarefeitas) coordenadas, o psicadelismo está umbilicalmente ligado ao consumo de drogas alucinogéneas, a partir do momento em que se multiplicam as referências e em que se definem traços característicos do género, o psicadelismo é abraçado por todos e manifesta-se mesmo na música de quem não tinha por hábito pintalgar o chá de aditivos – os Temptations não eram propiramente dados ao LSD, mas Psychedelic Shack tem as propiredades ácidas indispensáveis, o mesmo acontecendo com os delírios sónicos desenvolvidos pelos Sagitarius sobre as lições de Pet Sounds.
Durante um breve período, que podemos balizar entre 1966 e 1969, cores e sons psicadélicos brotaram de todo o lado, inclusivé dos locais mais suspeitos. Até os Bee Geees o exploraram em início de carreira, mesmo os Status Quo aplicaram o “turno on, tune in, drop out” a pop distante do boogie rock pelo qual se tornaram conhecidos na década de 70 – é só ouvir Pictures of Matchstick Man. E com a referência aos autores de Whatever You Want, saltamos até Inglaterra ao encontro do outro grande centro difusor de psicadelismo como definido em 60.
PSICADELISMO BRITÂNICO. Os primeiros sinais vinham de trás. Os Kinks, em 1965, editavam uma See My Friends que levava a ideia de canção pop, escorreita, até ao onirismo da música tradicional indiana. Psicadelismo era palavra sussurrada por poucos, mas não tardaria a fazer-se ouvir. Deste lado do Atlântico, o grande propulsor surge da decisão dos Beatles em abandonarem as digressões. Imersos nas potencialidades do estúdio, libertam a sua música e quando, em 1966, editam Revolver, as mudanças são já evidentes. Os drones orientais criados com cítaras e tablas de Love You Too alimentam a divagação, o riff para um acorde só, a voz repleta de eco, a batida insistente e os ruídos em loop de Tomorrow Never Knows fazem o resto. Fechados no estúdio, os Beatles tornam-se pesquisadores sónicos irrecuperáveis e, reflectindo o sabor dos tempos deparam-se fascinados com o psicadelismo. Um ano depois, todas essas explorações são extremadas em Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.
Os motivos circenses, o vaudeville reflectido nos ângulos de um caleidoscópio, as canções que se desdobram em várias suites organizadas segundo a lógica pouco rígida do sonho. A Day in the Life, Fixing a Hole, Being For The Benefit of Mr. Kytee, obviamente, Lucy In The Sky With Diamonds, todas elas compõem o retrato de uma banda que partira À descoberta de novas formas. Segundo reza a lenda, no decorrer da gravação do álbum, os Beatles escapavam-se do estúdio para, longe do olhar de George Martin, sorver umas pitadas de ácido. Tal como na Califórnia dos Grateful Dead e dos Acid Tests de Ken Kesey, viagens regadas a LSD serviram de ponto de partida para outras músicas. No Reino Unido, contudo, não eram a folk e o blues as linguagens que maioritariamente se distorciam para criar uma nova (apesar dos Cream operarem sobre o segundo, apesar dos The Incredible String Band erigirem a partir da primeira a obra definitiva no que à folk psicadélica diz respeito – está tudo em Wee Tam & The Big Huge).
Território pop por excelência, foi no seu âmago que se operaram as maiores transformações. Os sinais vinham de trás, nos raveups dos Yardbirds, na violência distorcida dos riffs dos Creation ou nos feed-backs que os The Who exploravam em Anyway, Anyhow, Anywhere, mas é no contexto dos três minutos de uma canção pop que o psicadelismo britânico primeiro se manifesta.
Na avassaladora sequência de acontecimentos que foi a segunda metade da década de 60, o psicadelismo surge quando alguns ainda acabavam de comprar fatos de melhor recorte mod. Os Small Faces, por exemplo, nem se deram ao trabalho de se metamorfosearem, limitaram-se a fundir a atitude dandy dos mods com o abandono à delícias da divagação psicadélica enquanto inventavam passeios por Itchycoo Park.
Com um underground fervilhando de actividade – com direito a jornal e a clube “oficiais”, o International Times e o UFO de Totenham Court Road -, a swinging London tornou-se um centro criativo ímpar. Estudantes de Arte abandonavam as escolas para formar bandas, as que existiam previamente como combos de r&b adoptavam a nova ordem e, numa mistura explosiva de excentricidade britânica, ecos distantes do psicadelismo californiano e levitação tripada (Maharishi facultativo), o cenário pop alterava-se definitivamente.
Donovan chegava de Glasgow como elfo armado de guitarra para cantar sobre Hurdy Gurdy Men e para nos dizer que, em South Kensignton, “Mary Quant and Jean Paul Belmondo got stoned to say the least”. Os Cream, três “veteranos” do british blues revival – Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton -, editavam Disraeli Gears e sobrepunham um arco-irís incandescente sobre os riffs clássicos do blues e um americano resgatado para Londres por Chas Chandler, ex-baixista dos Animals, surge em palco como feiticeiro eléctrico de uma outra galáxia – o seu nome, claro, é Jimi Hendrix e depois dele o rock’n’roll nunca mais foi o mesmo.
Enquanto isso, os Tomorrow, estetas pop da escola Ray Davies, tornam-se heróis do underground britânico ao editarem um álbum de estreia homónimo que se ouve como versão psicadélica dos Kinks e, no UFO, o público dança ao som de uma banda que estilhaça todas as fronteiras conhecidas quando a ressonância dos instrumentos faz com que o Interstellar Overdrive anunciado se cumpra. São os Pink Floyd de Syd Barrett e, com os dois singles iniciais – Arnold Layne e See Emily Play, pérolas pop gloriosamente danificadas -, com os concertos tornados matéria de mito e com o álbum de estreia, The Piper At The Gates Of Dawn, fazem desaparecer todos os traços de matéria reconhecível para dar lugar a uma expressão única, intensíssima, da experiência psicadélica.
Até os Stones cedem ao momento para, 10,000 Light Years From Home, criar o magnífico Their Satanic Majesties Request, os proto-punks Troggs cantam sobre borboletas gigantes e os Moody Blues oferecem-se como cobaias de teste de um novo sistema sonoro para cruzar opulência orquestral e medievalismo britânico com resquícios de pop. Víamos Michael Caine fazer um cameo em filme experimental com Syd Barrett em destaque, um gigantesco armazém vitoriano tornava-se palco para a celebração da comunidade underground – 0 14 Hour Technicolor Dream -, os The Who declaravam I Can See For My Miles e todos acreditávamos, McCartney confessava em entrevistas o consumo de LSD, víamos Magical Mistery Tour e não tínhamos dúvidas que assim era. Neste profícuo e fecundo ritual iniciático, todas as excentricidades eram não só permitidas como incentivadas – Arthur Brown levava à letra a esquizofrenia para órgão, baixo e bateria de Fire e transformava-se em fósforo humano, Marc Bolan dava vida à Terra Média e, como Tyranossaurus Rex, criava alguma da folk mais fora deste mundo que ouvidos lúcidos já ouviram.
Todos os excessos conduziriam, inevitavelmente, a uma prolongada ressaca. A experiência, contudo, tornar-se-ia fascinante ponto de partida para toda uma série de exploradores e sonhadores que, desde então, prosseguiram nos trilhos aí desvendados. O rock progressivo e o kraut-rock, pouco depois, seriam exemplos perfeitos disso. Essas contudo, são história que guardaremos para outras páginas.
ESTAVAM TODOS COMPROMETIDOS
Em 1970, Timothy Leary, professor de Harvardtransformado em guru do psicadelismo, gravava You Can Be Anyone this Time Around, álbum de spoken word em que o autor da frase “turn on, tune in, drop out” era ladeado por Stephen Stills, John Sebastian, Jimi Hendrix e Buddy Miles. Anos antes, ele e Allen Ginsberg eram os oradores em destaque no primeiro Human Be-In de São Francisco, evento celebratório da contra-cultura em desenvolvimento na cidade na década de 60. O autor de Howl, aliás, assinava textos de apresentação de álbuns dos nova-iorquinos Fugs, aproximava-se de Bob Dylan e, décadas depois, confessava a Paul McCartney o seu sonho nunca cumprido de pertencer a uma banda rock’n’roll.
Se o advento da cultura pop gerou entusiasmo e empatia junto de muitos dela aparentemente distantes, o psicadelismo surge como um momento em que todas as manifestações culturais são contaminadas pela sua ética e estética – quer por convicção, quer como aproveitamento.
Como se lia num dos posters de promoção a concertos tornados imagem de marca do período, da autoria de Rick Griffin, um dos seus autores mais celebrados: “Renaissance or Die”. De facto, da literatura ao cinema, da arquitectura ao design, da moda à pintura, passando pela fotografia, toda uma série de expressões extra-musicais tornam-se extensões de uma mesma atitude.
Olhamos para o design de interiores que Verner Panton criou no período e as cores garridas, as formas resgatadas à natureza, distantes de qualquer precisão geométrica, utilizadas pelo designer dinamarquês parecem saídas, salvaguardadas as devidas distâncias, do mesmo universo que originou a estética imaginada por Roger Vadim para Barbarella – que não seria possível sem o psicadelismo. A liberdade que lhe está em génese terá tido a sua influência no cimentar do gonzo journalism de Tom Wolfe ou Hunter S. Thompson – The Electric Kool-Aid Acid Test ou Fear & Loathing in Las Vegas são, de facto, versões psicadélicas de jornalismo e literatura beatnick. Reunindo tudo, quando deparávamos com espirais op-art a espreitar de um vestido, tornava-se claro: todos estavam comprometidos.
SEMPRE PRESENTE
A partir do momento em que se abriu a caixa de Pandora já não havia retrocesso. Imersos no momento, ou indiferentes às suas tendências, os conspiradores continuaram a magicar fugas à realidade.
Primeiro, os descendentes directos do psicadelismo de 60, prog-rockers como Yes ou King Crimson, pretenderam criar um universo próprio onde se pudessem instalar. À medida que cada vez mais se perdiam no barroquismo arquitectónico erigido, psicadelismo pareceu tornar-se palavra interdita. Claro que era só fogo de vista. Em Inglaterra, em pleno pós-punk, os Soft Boys aplicavam tratamento Barrettiano à ideia de canção, os XTC preparavam-se para homenagear os criadores do paradigma psicadélico no projecto Dukes of Stratosphear e os Teardrop Explodes de Julian Cope faziam da electrónica palco para delírios alucinógeneos. Algures pelos Estados Unidos, os sempre delirantes Flaming Lips davam os primeiros passos, ainda em busca de um futuro que projectaria a alma do psicadelismo em glorioso Technicolor. Já em plena década de 90, os Estados Unidos seriam palco para uma reposição da explosão criativa de 60, quando o colectivo Elephant 6, que reunia Olivia Tremor Control, Neutral Milk Hotel ou Apples In Stereo recuperou métodos pop do passado para nova viagem. Nessa altura, já Manchester tinha encontrado correspondência para o hedonismo escapista do psicadelismo no acid-house e os Spacemen 3 desaparecido em levitação espiralada num riff dos Velvet Underground. Actualmente, free-folkies pintalgam paisagens bucólicas de ácidos da melhor colheita, alienados do trance procuram transcendência em cítaras e beats impossíveis e artífices armados de laptop, como os Boards of Canada ou Caribou, dizem que, por mais mutações que sofra, a experiência psicadélica não mais desaparecerá da música popular urbana.
ENTRETANTO EM PORTUGAL
Se as manifestações pop no Portugal de 60 eram na sua maioria pálidas imagens da efervescência vivida no exterior, a explosão do psicadelismo teve por cá ecos ainda menos audíveis. O Quarteto 1111 foi o que a absorveu e apresentou de forma mais consistente. A par dele, é imprescindível referir os Jets que, com o EP Let Me Live My Life – o tema título é encontro magnífico dos Byrds com os Zombies -, criaram um oásis de cor e modernidade no Portugal pop de então.
A DISCOGRAFIA
Os anos da explosão do psicadelismo foram de uma fertilidade criativa ímpar na história da música pop. 1967, por exemplo, é um ano paradigmático, sendo certo que poucos haverá a congregar tantos álbuns fundamentais. Ao lado escolhemos nove, tentando o equilíbrio possível entre o inequivocamente essencial e o mais representativo das diversas formas assumidas pelas experiências do psicadelismo.
A verdade é que, no limite, por cada um deles, outro poderia tomar-lhe o lugar sem que isso enfraquecesse a representatividade daquilo que foram aqueles anos de pesquisa frenética.
Poderíamos lembrar-nos dos descendentes da British Invasion que, depois de entranhadas as lições de Rolling Stones, Animals ou The Who, partiram em busca de ácido de colheita própria e acabaram exclamando I Had Too Much To Dream Last Night (Electric Prunes) ou Pushin’ Too Hard (The Seeds).
Inseridos no viveiro que era, naquela altura, Los Angeles e São Francisco, seria inevitável referir uns Byrds fazendo um jingle-jangle do passado ponto de partida para novos voos.
Depois de criarem uma das canções mais marcantes da época, Eight Miles High, chegariam à sua obra-prima, Notorious Bird Brothers. Também da cidade dos Anjos, os desalinhados Doors – Jim Morrison não era propriamente uma alma dada a encontros comunais – davam sequência à bem sucedida estreia com um Strange Days cuja música era correspondência directa dos estranhos saltimbancos da capa.
Não muito longe, a São Francisco concentrada na zona de Haight-Ashbury tinha como representantes principais os Grateful Dead e os Jefferson Airplane que, com Surrealistic Pillow, o segundo álbum, o primeiro com Grace Slick como vocalista, e principalmente com o genial After Bathing At Baxters, se tornariam para sempre indissociáveis do psicadelismo – por perto, como inseparáveis companheiros de viagem, encontrávamos os Quicksilver Messenger Service e os Big Brother & The Holding Company de Janis Joplin (Cheap Thrills é indispensável na cartografia musical da cidade no período).
Por esta altura, os ecos da nova cultura dispersavam-se em todas as direcções e o psicadelismo tornava-se fenómeno global.
Se os Iron Butterfly aproveitavam para deixar a sua marca com In-A-Gadda-Da-Vida, se Alexander Skip Spence – um ex-Jefferson Airplane e ex-Moby Grape – se isolava em Nashville para compor “o” manifesto psicadélico a uma alma em colapso, Oar, se os Kaleidoscope, com Side Trips, acrescentavam música turca e ragtime à banda sonora e se os Vanilla Fudge, com o álbum de estreia homónimo, faziam a ponte entre a trip de hoje e o hard-rock de amanhã, o Brasil, por exemplo, mostrava com os fantásticos Mutantes a versão tropical da atitude criativa disseminada mundo fora.
Neste intricado processo de intercâmbios, poderíamos mesmo voltar atrás no tempo e lembrar-nos que, em plena British Invasion, os The Who de Sell Out e os Yardbirds de Roger the Engineer exploravam terrenos sónicos que, pouco depois, serviriam de mote para novas construções. Depois disso, contudo, todos pareciam em sintonia. Os Small Faces passavam a “psymodelics” com Odgen’s Nut Gone Flake, os Cream faziam um acid-test sobre o blues e gravavam Disraeli Gears e até os Kinks, pouco dados aos excessos coloridos da época, distorciam o bucolismo idealizado inglês em Village Green Preservation Society. De obra-prima em obra-prima, cada um dos anos em que o psicadelismo foi rei pareciam guardar em si material para uma década inteira.
13TH FLOOR ELEVATORS
1966. The Psychedelic Sounds Of...
Era na Califórnia que, com Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service ou Country Joe & The Fish, o psicadelismo começava a espalhar os seus raios de luz mundo fora, contudo, no Texas, Rocky Erickson liderava uns 13th Floor Elevators que se estrearam discograficamente antes de qualquer um dos pesos pesados de São Francisco e Los Angeles. Quase tétrico – o jug eléctrico dá-lhe uma estranheza inimitável -, o álbum explora como nenhum outro o mistério e a psicose do psicadelismo.
THE BEATLES
1967. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band
Sgt. Peppers foi editado e, a partir dele, nada foi o mesmo. Hoje pode não ser tão indis cutível como foi durante longos anos, ams a sua relevância como despoletador de mudanças radicais no cenário pop é inquestionável. A utilização do estúdio como instrumento, o surrealismo sónico e lírico e o recolher de influências tão díspares quanto o vaudeville e a música indiana, fizeram dele o disco mais importante do seu tempo, abrindo caminho a um período em que todas as experiências se tornaram possíveis.
COUNTRY JOE & THE FISH
1967. Electric Music For The Mind And Body
Poucas bandas haverá que representem tão bem o que foi o psicadelismo de 60. Liderados por um ex-folkie, Country Joe McDonald, os Country Joe & The Fish de Electric Music For The Mind and Body são um caleidoscópio de sons reverberantes, de melodias encantatórias, de trips feitas canção – ora acelerada vertigem, ora lentas, narcóticas – e de etórica do lado certo do flower-power. Folkies místicos transformados em exploradores eléctricos, os Country Joe & The Fish são um filme de época fascinante.
THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE
1967. Are You Experienced?
Considerado por muitos o álbum de estreia mais influente de sempre, Are You Experienced? Dá início à carreira de Jimi Hendrix como feiticeiro eléctrico inultrapassável. Gravado nos curtos espaços de tempo permitidos pelo intenso calendário de concertos, abre a guitarra eléctrica a todo um novo universo. Intenso, feérico, alucinante, onírico, são blues, rock’n’roll, r&b, divagações jazzy ou maquinações de estúdio transformadas pelas mãos de um talento de génio, único e inclassificável.
LOVE
1967. Da Capo
Com Forever Changes, os Love assinaram um dos melhores álbuns da história da música popular urbana. Antes dele, contudo, editaram um Da Capo que é estilização perfeita do colorido psicadélico. Do lado A, uma sequência imbatível em que melodias delico-doces feitas de jazz, folk, música latina e pop desalinhada convivem com a explosão punk de 7 & 7 is. Do lado B, uma jam de r&b agressivo, Revelations, estabelecendo ponto com o passado da banda. Em conjunto, a primeira obra-prima dos Love.
PINK FLOYD
1967. The Piper At The Gates Of Dawn
Antes da estreia em longa duração, os Pink Floyd tinham editado Arnold Layne e See Emily Play, dois singles de pop excentricamente britânica, deliciosamente psicadélica. The Piper At The Gates Of Dawn, o disco que se lhes seguiu, é uma experiência completamente diferente. Liderados pelo génio de Syd Barrett, os Floyd saltam para a linha da frente do psicadelismo britânico com um disco em que paisagens medievais e futuristas, lullabies e viagens espaciais compõem um hino ao sonho e à liberdade criativa.
THE ROLLING STONES
1967. Their Satanic Majesties Request
Durante muitos anos foi o álbum maldito dos Rolling Stones, desvalorizado como resposta a Sgt. Peppers. A passagem dos anos, contudo, colocou-o no lugar que merece. OVNI na discografia da banda, é também a magistral concretização das experiências pop que a banda vinha realizando nos anos anteriores. Marcado pelas pesquisas e viagens da época, abraça ficção científica, festins comunais e uma miríade de instrumentos para fazer dos Stones príncipes negros do psicadelismo.
THE SOFT MACHINE
1968. Volume 1
Enquanto se congeminava a revolução psicadélica em Londres, Los Angeles e São Francisco, em Canterbury nascia uma terceira via. Nos Soft Machine de Robert Wyatt, Kevin Ayers e Mike Ratledge – Syd Barrett como fã número 1 -, não havia vestígios de folk, blues, Tolkien ou vaudeville. Na sua música, a libertinagem do jazz cruzava-se com um irreprimível anseio experimentalista bem no coração pop e rock’n’roll. Resultado? Música de uma inventividade e uma capacidade transportadora como poucas desde então.
THE GRATEFUL DEAD
1969. Live/Dead
Os Grateful Dead tornaram-se exemplo máximo do rock psicadélico americano quando a banda residente dos Acid Tests que Ken Kesey e os seus Merry Pranksters levavam a toda a América. Dessas actuaçõesnada mais resta que o mito. Live/Dead, álbum duplo editado em 1969, é o mais próximo que dele nos podemos aproximar. Nele, os Grateful Dead como máquina cósmica revolvendo as entranhas do rock’n’roll. Jerry Garcia apontando às estrelas e levando-nos consigo ao longo dos 25 minutos de Dark Star.
Subscrever:
Comentários (Atom)




































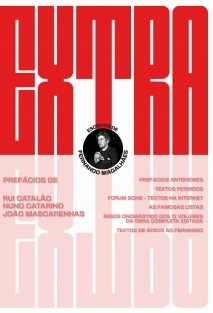


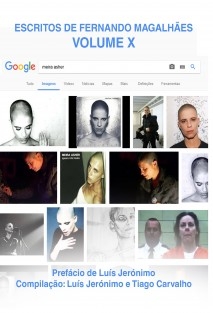


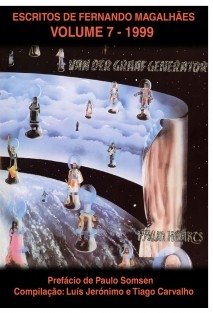







_Bubok.jpg)



























