17 de Junho de 2005
30.4.17
DN:música - Série: Os Melhores Álbuns De Sempre (8)
DN:música
Os melhores álbuns de sempre
17 de Junho de 2005
No meio da euforia editorial que caracterizou o Portugal Pop/Rock de inícios de 80 um álbum destacou-se dos demais e fez história. Apresentou os Heróis Do Mar e com eles conhecemos um verdadeiro sentido de portugalidade em regime pop que ainda hoje tem herdeiros na cena musical nacional
17 de Junho de 2005
[44] HERÓIS DO MAR
HERÓIS DO MAR
TÍTULO Heróis do Mar
ALINHAMENTO Brava Dança dos Heróis / Amantes Furiosos /
Magia Papoila / Salmo / Bailar / Olhar No Oriente / Mar Alto / Saudade
ANO 1981 (edição Philips / Universal)
PRODUTOR António Pinho
T: Nuno Galopim
O Portugal musical de 1980/81 era um caldeirão em
ebulição, entusiasmado com a descoberta da composição (e viabilidade no
mercado) de uma música pop/rock feita em português. Depois dos sucessos
iniciais de Rui Veloso, UHF, GNR, Táxi e Salada de Frutas, novas bandas, novos
singles, surgiam a um ritmo alucinante, respondendo a uma procura igualmente
ávida. Contudo, entre discos que denunciavam essencialmente um sentido de
urgência prático, um acabou por se destacar pela inteligência formal, pela
musicalidade atenta, actual e oportuna, pela ousadia estética, inscrevendo
definitivamente um real sentido de portugalidade numa linguagem pop/rock.
Chamou-se Heróis do Mar e revelou, em 1981, uma das mais marcantes bandas da
história da música popular portuguesa.
Já havia antecedentes esteticamente estimulantes entre os
elementos do grupo, alguns deles recém chegados da discreta (mas temporalmente
consequente) aventura punk nos Faíscas e sua descendência natural nos Corpo
Diplomático, banda cujo único e histórico álbum (Música Moderna, de 1979 e
ainda por reeditar em CD) apresentava um título que sugeria a chegada de uma
ideia de modernidade à pop portuguesa.
Firmes numa intenção política (leia-se ideário filosófico
prático e não manifestação partidária) de dotar o país e uma nova geração de
uma música “sua”, o disco nasce de longo período de reflexão durante o qual a
atenção dos músicos pelos acontecimentos mais recentes da pop internacional se
cruzou com leituras sobre a História de Portugal, preparação conceitual para um
manifesto que desejou mudar a música portuguesa. E como mudou!
Num tempo ainda ecoando excessos revolucionários e
receios perante inevitáveis e marcantes símbolos nacionais, numa altura em que
se falava do futuro e parecia esquecer o passado, a música e atitude dos Heróis
do Mar catalisou uma verdadeira revolução de mentalidades. Cruzou raízes da
música portuguesa (e inclusivamente de África, como se escuta em Saudade) com a
linguagem pop do momento, despertando um sentido de orgulho pela identidade cultural
que fez carreira depois em diversos projectos musicais nacionais, da Sétima
Legião aos Madredeus (vida posterior de Pedro Ayres Magalhães e Carlos Maria
Trindade, respectivamente baixista e teclista dos Heróis do Mar).
Musicalmente arrebatador perante o restante cenário pop
imberbe da época, ideologicamente consequente, colocou no mapa pop uma nova
forma de ouvir Portugal). O terror perante certos símbolos (a cruz de Cristo,
as fardas), valeu-lhes as suspeitas de alguns. Derrubadas, um ano depois, pelo
êxito transversal de Amor.
29.4.17
Fernando Magalhães - A Morte Do Crítico Musical - Homenagem no jornal Público
Público
Cultura
Terça-Feira, 17 de Maio de 2005
Morreu o crítico musical Fernando Magalhães
Fernando Magalhães, jornalista e crítico de música do
PÚBLICO, morreu anteontem em sua casa, no concelho de Loures, aos 50 anos, na
sequência de uma paragem cardíaca.
Nascido a 5 de Fevereiro de 1955, em Lisboa, licenciado
em Filosofia pela Universidade de Lisboa, Fernando Magalhães fazia crítica
musical no PÚBLICO desde a fundação do jornal (Março de 1990). Era ainda um
animador entusiasta de um site de discussão na Internet sobre música, o Fórum
Sons, e foi júri de vários concursos de atribuição de prémios de música, como o
Prémio José Afonso, da Câmara Municipal da Amadora, do qual fazia parte desde
1994.
Antes de integrar os quadros do jornal, colaborou com os
semanários Blitz e O Independente e foi professor de Filosofia em várias
escolas secundárias entre final dos anos 80 e início de 90, actividade da qual
falava regularmente com saudade. No final dos anos 80 teve um programa onde
divulgava música experimentalista na Rádio Universidade Tejo (RUT), ao mesmo
tempo que trabalhava na Contraverso, loja de discos que existia no Bairro Alto.
Como crítico musical Fernando Magalhães ajudou a dar
visibilidade à música rock dos anos 70, à música popular portuguesa, à
electrónica portuguesa, à world music, ao fado, à folk e ultimamente ao jazz.
Peter Hammill, o seu ídolo, Gaiteiros de Lisboa, Né Ladeiras, Nuno Rebelo, Nick
Drake, Nico, Carlos Paredes, Robert Fripp, Amália, Robert Wyatt, Diamanda
Galas, June Tabor, Brian Eno e Fátima Miranda eram alguns dos seus músicos de
eleição.
Fernando Magalhães tinha dois filhos, Sofia de 16 anos, e
João, de 12.
As datas do velório e funeral serão conhecidas hoje.
Vivo nas palavras
O Fernando pertencia, desde o início, à família que fez o
PÚBLICO nascer por entre resmungos e abraços. Ainda pertence, aliás. Trouxe até
nós o seu génio (nos dois sentidos), a sua arte de escrever, o seu conhecimento
vasto sobre as músicas que amava, a sua boa disposição temperada de ironia.
Quando ele começou a rarear na escrita – uma escrita que podia ser genial ou
desmesurada, mas nunca medíocre – esboçou-se diante de nós um vazio.
Porque ele revelava-se sobretudo nas palavras, perdia-se
nelas, perdia-se por elas: no jornal, nos suplementos, no universo transdimensional
da Internet. A 7 de Março de 1990, no número de estreia do VideoDiscos (pai e
avô dos posteriores PopRock, Sons e Y), o Fernando escrevia sobre Neil Young
mas também sobre a cantora indiana Najma ou sobre o panorama “confrangedor” das
videocassetes musicais (muito antes do agora banalizado DVD). Escrevia sobre o
que lhe interessava e sabia interessar-nos pelo que escrevia. Não são muitos os
que o conseguem e, por isso, nos temas onde era mestre, não terá verdadeiro
substituto. Na singularidade da sua escrita, viverá, sempre, a sua imagem
humana. E ele não desaparecerá enquanto ela durar.
NUNO PACHECO
Convicção filosófica
Se o Fernando escrevia sobre música era por convicção
filosófica. Era daí que ele vinha, era isso que o agarrava à música como expressão
superlativa da vida. Ele alcançou esse ponto (sem retorno?) em que se descobre
a transcendência, o para lá, a plenitude. Aprende-se, ou vislumbra-se nas
grandes narrativas, mas que está para além delas, uma experiência mística que
de modo algum cabe nos limites da... academia, ou sequer do quotidiano. Há
então que procurá-lo noutro lado, em dimensões mais próximas do sonho e da
fantasia e o Fernando reencontrou-a, ou melhor, reinventou-a onde menos se
poderia esperar: não na grande arte clássica, mas nas músicas populares e delas
decorrentes. Primeiro no rock conceptual e progressivo, depois na folk e
noutras músicas de raiz popular, finalmente no free jazz, num percurso de uma
coerência e originalidade raras no jornalismo musical português. Que é como
quem diz, fez carreira de filósofo escrevendo sobre artistas e idiomas
musicais, onde soube entrever a espiritualidade para além ou graças à conotação
popular, fazendo-nos do mesmo golpe ouvi-las de outro modo, dando-nos a
descobrir o barro místico em que se esculpiu alguma da mais inspirada música de
sempre. E também dizia muito mal, com a mesma clarividência e com um humor
devastador de toda a música demasiado medíocre, ou estritamente comercial. Para
ele não havia compromissos, nem sequer meios-termos, e esse radicalismo
frequentemente escandalizou e motivou veementes protestos. No final, podia
concordar-se ou não com as suas opiniões, mas uma coisa era segura: pouca gente
escrevia em Portugal sobre música de forma tão apaixonada, iluminada e visionária.
LUÍS MAIO
Fragmentos de textos no PÚBLICO
“As palavras, saídas da experiência ou arrancadas ao
inconsciente colectivo, que Hammill rompeu a golpes de uma introspecção
violenta, são arrebatadoras na exposição, por vezes trágica, do homem
apresentado na sua dimensão de divindade aprisionada. Pelo tempo, pela carne,
pelo pensamento, pelos outros, por si próprio.”
Sobre Peter Hammill, 19/06/92
“Os Pink Floyd da actualidade são do esterco mais fino e
sofisticado que há [...] Não chega a ser música. [...] O ácido esgotou a
validade. Lucy aposentou-se e faz tricô em pantufas frente à televisão.”
Sobre os Pink Floyd, 24/07/94
“Estados de alma que tanto exigem, para se fazerem ouvir,
do canto panfletário da Internacional Socialista, como se encolhem num
balbuciar triste e, por vezes, incoerente, de uma criança ferida. Ou de um
louco encarcerado na certeza das suas próprias convicções. De um poço como Rock
Bottom não se sai igual ao que se entrou.”
Sobre Robert Wyatt, 19/09/97
“A que dançou iluminada pelas fogueiras do flamenco e
separou a voz em dois no throat singing das altas montanhas da Mongólia. A que
meditou com os ragas indianos e fez soar os sinos num jardim da China. A que
sugou o sangue com um vampiro dos Balcãs e fez a corte ao amor, como o trovador
medieval. A que tem a voz das equilibristas e dos palhaços, dos animais e das
plantas.”
Sobre Fátima Miranda, 22/07/98
“Os subúrbios da capital inglesa na última década deste
século, com o cinzento do cimento polido pela chuva e a vida aprisionada nos
reflexos das poças de água das ruas.”
Sobre Richard Thompson, 10/09/99
“Amália possuía essa capacidade rara de se concentrar no
ponto exacto onde tudo conflui, se dilacera e floresce. O lugar da cruz.”
Sobre Amália, 07/10/99
“Meira Asher, como Diamanda Galas, é uma figura do
Inferno. Nela a Bíblia [...] transmuta-se num livro negro de pragas. Como
Diamanda Galas, a israelita profetiza a morte e o caos, revolvendo-se na
abordagem de temáticas como a sida, a masturbação feminina e o incesto. Mas
enquanto Galas encarcera a ópera, os blues e o gospel no quarto de lua do
Romantismo, Meira usa maquinaria electrónica pesada, desfaz-se na podridão e
clama que o Apocalipse é agora.”
Sobre Meira Asher, 29/09/00
“Metáfora da infiltração subterrânea, da vitória das
trevas sobre a luz, da noite sobre o dia, são obras-primas de pop electrónica,
loucura, método e paradoxo. E metem medo.”
Sobre os Residents, 28/09/01
“Ao escutarmos e, melhor ainda, ouvirmos O Mundo Segundo
Carlos Paredes sentimo-nos mais sãos e menos sós. Mas essa é a essência da
Saudade. Saudade do que somos.”
Sobre Carlos Paredes, 07/03/03
“A velha lua morreu ontem com a nova nos braços. June
Tabor traz a eternidade no seu canto. Curioso: a sua voz soa em An Echo of
Hooves menos grave. Como se tivesse subido um degrau das escadarias que
conduzem ao céu.”
Sobre June Tabor, 02/01/04
(DE ENTRE CENTENAS DE TEXTOS QUE FERNANDO MAGALHÃES
ASSINOU NO PÚBLICO AO LONGO DE 15 ANOS, ESTES FRAGMENTOS REFEREM-SE APENAS A
ALGUNS DOS MÚSICOS QUE OUVIU APAIXONADAMENTE E, NO CASO DOS PINK FLOYD, TAMBÉM
SOUBE DEMOLIR, QUANDO ENCONTROU RAZÕES PARA ISSO.)
leitores
excertos de mensagens colocadas, ontem, num fórum de
discussão da Internet em www.forumsons.com,
que Fernando Magalhães animava regularmente.
Graças ao Fernando tive a sorte de descobrir muita muita,
muita música nova – a sua lista dos melhores discos dos anos 80 acompanhou-me
durante anos a fio.
PEDRO SANTOS
[DISTRIBUIDORA FLUR]
Tinha pelo Fernando Magalhães enorme admiração. Adorava a
sua capacidade de ser corrosivo, fracturante e eficaz. Quando essas mesmas
características recaíam sobre um evento meu não conseguia disfarçar uma certa
irritação tal era o brilhantismo do seu texto.
VASCO SACRAMENTO
[SONS EM TRÂNSITO]
Sei que o primeiro texto que me marcou foi a reportagem
dele ao concerto-tributo a Feddie Mercury em Wembley. Uma prosa com um humor e
uma lata que me deixaram deliciado. Nunca mais perdi o rasto ao jornalista. JG
Era poético, delicado, cínico, corrosivo, delirante,
festivo, correndo o risco de ser incompreendido.
NUNO JORGE
Pelas imensas horas de prazer que tive a ler os seus
textos, críticas e sugestões (que tanta música me deu a conhecer, sobretudo nos
tempos loucos da faculdade) nunca o esquecerei.
FILIPE
28.4.17
Van Der Graaf Generator - Artigo de Fundo + Crítica a "The Box"
DIÁRIO DE NOTÍCIAS | 20 DE JANEIRO DE 2001
POP/ROCK
VAN DER
GRAAF GENERATOR
VISÕES E FICÇÕES
A importante memória dos Van der Graaf Generator é
revisitada numa caixa que percorre a obra mais importante do rock progressivo
cuja redescoberta faz hoje todo o sentido.
Por oportuno exercício de memória, que poderá ter
conhecido importante catalizador de atenções na maneira como o percurso recente
dos Radiohead devolveu à ordem do dia alguns nomes do chamado rock progressivo,
eis que chega finalmente aos escaparates aquela que parece ser a primeira
manifestação de saudável restauração da inesquecível obra dos Van der Graaf
Generator, sem dúvida a mais importante e marcante das bandas do seu tempo
nesta mesma área.
O simples enunciar da expressão «prog rock» assustou,
durante muitos anos, muitas almas que o associaram, sobretudo, à má memória dos
subprodutos que gerou. Nomeadamente os tristes depoimentos de uns Yes, Emerson
Lake And Palmer e de uns Genesis pós-Peter Gabriel... Afastada das atenções
«grossitas», a obra dos Van der Graaf Generator marcou, todavia, o seu tempo.
As letras plenas de um misticismo que Peter Hammill sempre cultivou e um
inteligente suporte instrumental que nunca mostrou sinais de açúcar
desnecessário, rasgaram o seu presente vislumbrando novos patamares de
consciência estética, sugerindo uma noção de música acima de fronteiras e
convenções que, regra nos nossos dias, era motivo para ditatorial jogo de
política de fronteiras na alvorada de 70. O todo da proposta dos Van der Graaf
Generator, contra o que nos mostravam então uns Pink Floyd ou Genesis, apontava
à essência dos sons, em detrimento dos complementos directos (sobretudo os
visuais). A sua música era mais profunda, negra e, sobretudo, desafiante, que a
de outros contemporâneos. E hoje, quase 30 anos depois, soa estranhamente
familiar e contemporânea. As visões de futuro além das formas, afinal, eram
pertinentes.
EM BUSCA DE UMA IDENTIDADE
As origens dos Van der Graaf Generator remontam a uma
viagem de Chris Judge Smith a São Francisco no marcante Verão de 1967. De
regresso a Manchester, onde em pouco tempo se viu a trabalhar com o cantor e
compositor Peter Hammill e o teclista (então usava-se o termo «organista») Nick
Peame. Como nome escolheram um dos que Chris trazia da lista escrita na viagem
à Califórnia, Van der Graaf Generator (para abreviar, VdGG: uma máquina que
cria electricidade estática)...
Vencida uma etapa de troca de line-up (situação
recorrente ao longo de toda a história dos VdGG), que determinou inclusivamente
a saída de Chris Judge Smith e Nick Peame, editado um primeiro single por uma
etiqueta que não aquela à qual se encontravam ligados por contrato (o que determinou
a sua imediata retirada do mercado), o soberbo álbum de estreia «The Aerosol
Grey Machine» (que começou a ser gravado como se de um disco a solo de Hammill
se tratasse) mostrava interessantes sinais de uma banda que procurava um
caminho seu, emergindo directamente das recentes e marcantes experiências no
domínio do psicadelismo.
A resposta minimal do público não demoveu os VdGG, que
entre 1969 e 1971 gravam três álbuns determinantes na definição da ideia de uma
música que parte de estruturas rock para, por processos de desconstrução,
procurar contaminações por via da abolição de fronteiras com o jazz e a música
clássica. Contra a corrente, a música demarcava-se imediatamente pelo desvio do
centro melódico para o jogo entre as teclas dos órgãos de Hugh Banton e o
saxofone de David Jackson. Não havia guitarrista protagonista, e a própria
presença de um baixista não foi constante em todos os períodos da vida do
grupo. Sem a pompa excessiva e flácida de outros contemporâneos, a música dos
VdGG evidencia uma consistência invulgar, em muito sugerida pela excelência do
edifício instrumental e pela presença vocal de Hammill, cuja teatralidade e
escrita determinam uma das forças maiores da visão que na alvorada de 70 era
proposta pelos VdGG. O épico «A Plague Of Lighthouse Keepers» (do álbum «Pawn
Hearts, de 1971), será talvez o expoente maior da versatilidade cromática e da
complexidade interior característica da música dos VdGG e que, ao vivo, fez do
grupo uma das grandes referências de palco na alvorada de 70, em absoluta
oposição à cenografia mais garrida da contemporânea primeira geração do
emergente glam rock.
A SEGUNDA GERAÇÃO
Separados em 1972 depois de um calendário de intensa
actividade na estrada, os VdGG reuniram-se em 1975 depois de três anos de percursos
a solo. Os três álbuns editados entre 1975 e 76 reflectem uma maturação da
ideia original, refinando arestas, implodindo as energias em favor de
manifestos de procura de novas formas dentro das formas. Genial, o clássico
«Still Life» (de 1976), recolhe os momentos mais significativos desta segunda
etapa da vida do grupo. A canção volta a merecer nova abordagem estrutural, e
sentem-se claras manifestações de ordem «clássica» nos arranjos com que os
novos temas se apresentam. Se a etapa 69-71 definiu as linguísticas mais negras
e desafiantes do rock progressivo, o período 1975-77 reflecte a busca de um
sentido de «belo» determinado pelas regras reveladas nos dias da
pós-adolescência criativa do grupo. É também deste frutuoso período que datam
as referências «prog rock» que alguns grupos revisitaram na recta final de 90.
Escute-se o tema-título do álbum «Still Life» e todo o percurso dos Radiohead
depois de «The Bends» terá nova leitura.
A segunda etapa da vida dos VdGG não foi, como a
primeira, alheia a convulsões internas, determinando mudanças de alinhamento. A
mais marcante destas mudanças deu-se depois de terminada a digressão de 1976,
com a saída (sem substituição possível) do organista Hugh Banton, que levou o
colectivo sobrevivente a mudar de nome para Van der Graaf. Com a derradeira
formação foi gravado mais um álbum de originais «The Quiet Zone The Pleasure
Dome», ao que se seguiu a digressão mundial que os trouxe a Portugal para três
concertos em Lisboa, Coimbra e Porto em Setembro de 1977. Desta digressão
nasce, depois, o álbum ao vivo «Vital» que assinala, em 1978, o final da
carreira do grupo.
CAIXA DE SURPRESAS
A edição desta caixa, que poderá prenunciar a reedição
integral da obra dos VdGG (certamente bem vinda numa altura em que muitos novos
admiradores serão certamente cativados pelas memórias aqui recolhidas). Mas
antes de sonhar com a devolução aos escaparates dos álbuns do grupo, «The Box»
permite-nos um olhar representativo do seu legado. Elaborada em estreita
colaboração com os antigos elementos dos VdGG (Peter Hammill foi frequentemente
consultado no decurso da produção), a caixa propõe mais que uma simples recolha
antológica. É certo que parte de uma ordenação cronológica dos eventos, mas
evita a simples compilação de faixas dos álbuns e singles dos VdGG. Pelo
contrário, usa frequentemente sessões gravadas para a BBC e inúmeros registos
de concertos ao vivo (muitos provenientes de velhos «bootlegs», em alguns casos
denotando o envelhecimento dos originais, nem todos de restauro fácil) para
completar a história que os álbuns (todos reeditados em CD) já contaram. Os
velhos admiradores encontrarão nestas raridades e na própria remasterização do
som das faixas retiradas da discografia oficial motivos suficientes para
justificar o reencontro com a banda que mais interessantes visões
«progressivas» nos mostrou em inícios de 70. Falha, apenas, a informação do
«inlay» de designa apelativo mas de conteúdo diminuto, sobrevalorizando a
listagem integral das datas ao vivo em detrimento de uma biografia mais cuidada
e de uma discografia devidamente ilustrada.
Na essência, a obra dos VdGG está aqui devidamente
recordada. «The Box» é um monumento a uma memória marcante e um documento de
absoluta referência. Venham, agora, as reedições remasterizadas álbum a
álbum...
N.G.
VAN DER
GRAAF GENERATOR
«The
Box»
Virgin / EMI-VC
+++++
DISCOGRAFIA
ÁLBUNS
1968. «Aerosol
Grey Machine»
1969.
«The Least We Can Do Is Wave To Each Other»
1970. «H
To He Who Am The Only One»
1971.
«Pawn Hearts»
1972.
«68-71»
1975.
«Godbluff»
1976.
«Still Life»
1976.
«World Record»
1977.
«The Quiet Zone The Pleasure Dome»
1978.
«Vital»
1994.
«Maida Vale (BBC Sessions)»
2000.
«Introduction»
2000.
«The Box»
SINGLES
1969.
«People You Were Going To»
1970.
«Refugees»
1972.
«Theme One»
1976.
«Wondering»26.4.17
António Sérgio - Entrevista
ENTREVISTA
ANTÓNIO SÉRGIO
Vinte anos depois, o regresso Às memórias da rádio e da
música de outros tempos numa viagem de regresso ao «Som da Frente» conduzida
por António Sérgio, num CD agora editado.
EURICO NOBRE
A última emissão do «Som da Frente» foi para o ar na
Rádio Comercial em Agosto de 1993, numa sexta dia 13. Mais de uma década depois
da estreia. Mas nem um momento ou outro significam ou início ou fim de
absolutamente nada. «O ‘Som da Frente’ não é o António Sérgio. É uma coisa já
bem enraizada na década de 80 que já não existe e o António Sérgio ainda cá
está para as curvas. É um produto do António Sérgio, como o foi o “Rolls Rock”,
o “Grande Delta ou o “Rotação”, numa altura em que eu não tinha a noção, pelo
menos nesses primeiros programas, de poder fornecer correctamente esse tipo de
produto à rádio mas onde tinha uma vontade enorme de o fazer correctamente»,
contextualiza o autor do programa.
Com uma carreira cuja origem se perdeu no tempo, confessa
que até há uns anos «sentia muita dificuldade em localizar esse tipo de
coisas». Agora lembra África, «quando comecei a ver alguém fazer rádio à minha
frente. Devo ter visto e aprendido coisas que nunca deixaram o bichinho morrer»
e cita a Renascença, já em 67/68, «a altura em que uma pessoa pode dizer que
começou realmente, com trabalhos de continuidade vulgares». Mas foi apenas mais
tarde que o desenrolar de acontecimentos que fizeram de António Sérgio um dos
mais importantes e respeitados nomes da rádio portuguesa das últimas décadas
tiveram a sua génese. Até porque cada uma das suas experiências como que se foi
encadeando nas outras, apenas mudando o nome e, por vezes, o cenário, mantendo
uma atitude e coerência ímpares.
EM ROTAÇÃO
«O meu primeiro programa de autor é a “Rotação” que
muitas vezes foi reduzido ao punk rock, o que não é verdade, embora tenha sido
a emissão e o meio que deu mais exposição ao fenómeno em Portugal. Agora, há um
tapping evidente do punk rock, porque eu estou muito atento e mesmo muito
interessado como indivíduo, porque tudo o que me está a chegar soa-me bem, as
atitudes, as opiniões, as conversas e os sons quando começam a chegar...»,
lembra sobre o programa inovador. Mais ainda dado o perfil da Renascença. «Na
altura não tinha um canal de FM vocacionado, tinha uma Onda Média que emitia em
FM.» A oportunidade demorou mas chegou e as memórias dos primeiros instantes
ainda estão presentes, quando «em branca», sem qualquer fundo, se apresentou
aos ouvintes: «Boa noite, a partir de hoje passa a existir, entre a uma e as
três, um espaço dedicado a outras músicas no qual pretendemos que toquem nomes
perdidos ou praticamente perdidos...». Nesse rol de nomes «no distante 1976»,
continua, «eu nomeava Frank Zappa, Captain Beefheart, os Byrds, Graham Parsons,
e uma série de outra gente. Estávamos ainda muito longe de haver a advento
Patti Smith».
Sobre a «Rotação» diz ter sido «um programa aventureiro
como todos os outros» desde então. O que se seguiu, já na Comercial, foi o
«Rolls Rock», em 1980. «Um nome inventado pelo João David Nunes, porque era
ideia do Rolls Royce do Rock». Depois quando houve a hipótese de saltar para o
horário diurno, deu-se o início do “Som da Frente”.» Anos mais tarde, no início
da década de 90 experimentou algo diferente, um espaço mais aberto aos sons,
com o «O Grande Delta», na XFM. Nos últimos cinco anos, de regresso à
Comercial, é de novo companhia regular entre a uma e as três da manhã, com «A
Hora do Lobo».
DA NOITE PARA O DIA
Apesar de haver um fio condutor uma vez que «há imensa
coisa no anterior que acaba por ficar sempre na mesma», António Sérgio assume
«não gostar de estar a mudar de estações ou de «slot» sem mudar o nome pelo
menos do rótulo. Não quer dizer baralhar e voltar a dar». Mas, no fim de
contas, «há um tratamento meu com a música e há um entendimento da música
comigo.» E a música, diz, «é toda a que acontece», sem desespero na procura.
«Este desespero é quase uma piscadela de olho de gozo à imprensa do “next big
thing”. O que é que nós agora vamos por como arauto ou como cabeça de cartaz ou
de locomotiva da máquina?». Não há necessidade disso, defende. «Hoje há uma
pacificação da produção musical, os estilos esbateram-se muito, deixaram de
haver grandes estrelas e passou a haver uma série de outras mini-estrelas e os
sons estão a ganhar com isso. O “Som da Frente” é outra coisa, é um tempo de
estrelas mesmo.»
Em 1982, intervém Ana Cristina ferrão, íntima e eterna
cúmplice de António Sérgio, «a Comercial já há uma relação muito directa entre
o Sérgio e o John Peel, porque é ele que em Inglaterra divulga o punk, na BBC.
E o John Peel, que estava sempre a trabalhar à noite muda para um slot diurno.
O Jaime Fernandes tem então a ideia peregrina de seguir o exemplo e colocar na
nova grelha da Comercial o “Som da Frente” às quatro da tarde». Além disso,
recorda Sérgio, «o Barros tinha decidido deixar de fazer a tarde para fazer um
programa da manhã e tomar grandes pequenos almoços (risos)». Tal coincide, como
relata, com «uma mudança de marcha da indústria musical portuguesa, em termos
de andamento de comboio, mas há também uma mudança de situação, que é outra vez
conjuntural, que é a nossa relação com os chamados mercados de importação.» Um
sentimento espelhado no disco agora editado, «Som da Frente: 1982-1986».
A IRMANDADE DA LUZ
«É uma época de quase passa a palavra, de uma vontade
urgente de mostrar as cosias novas. Havia pessoas que me iam levar discos que recebiam
de Londres para eu tocar no “Som da Frente” porque eu tinha a possibilidade de
os mostrar a muito mais gente. Há aqui uma Irmandade, e não é nenhuma Irmandade
de Cruz Negra, há luz no meio disto. Luz da divulgação e do espalhar do bom
gosto e do gozo, no fim de contas».
Foi uma época «de uma militância que era necessária, em
que a música é encarada como um bem muito especial. Passar essa música, ouvi-la
e depois comunicarmos uns com os outros», lembra António Sérgio. «É por isso
que eu gosto muito desse disco, apesar de algumas falhas de repertório que eu
sei que cá estão. Mas mesmo assim o CD é duplo e está cheio até ao fim. Tivemos
mesmo de fazer um “fade out” nos Shriekback, porque o tema era muito grande e
dava para roubar aquele bocadinho, caso contrário não ficava o dos Xutos
inteiro, o que era para mim mais importante, porque é uma marca e eles nunca
mais aquilo daquela maneira.»
Trata-se de uma compilação que «sai das paredes, sai dos
armários dos discos» e embora não tenha sido difícil elaborar a lista inicial,
«uma vez que tem mais de 100 temas», o quase insólito aconteceu depois quando
«gabinete competente da editora fez os contactos para licenciamentos, etc.» e
esbarrou nas respostas «que informavam que os produtos tinham sido descontinuados»
aconselhando a fazer a cópia a partir do vinil. «É esse o estado das próprias
majors em relação ao seu produto, que neste caso tem 20 anos e que para eles
não vale absolutamente nada. É uma atitude de tiro no pé típica de pessoas que
não sabe tratar do seu próprio negócio e que nos disseram, nalguns casos, que o
material tinha sido eliminado, logo não existiam “masters”. Há aqui quebras de
profissionalismo, de tudo, óbvias.»
O importante é que «venda ou não, é o tal artefacto que
fica feito e que para mim é uma excelente memória do trabalho que fiz há alguns
anos e de que me lembro fortemente.» Ao longo de 36 canções há aqui algumas
repetições que António Sérgio justifica sem hesitar. «Projectos como o Julian
Cope, Teardrop Explodes, Psychedelic Furs ou a Siouxsie era fundamental para
mim que tivessem duas faixas. Como achei importante tocar nessa altura e
insisti contra muitas marés num ambiente radiofónico e de divulgação musical
diferente, teimaria hoje da mesma maneira. Quem ouvir o “Israel” e o “Mirage”
apreende determinado tipo de coisas que podem ser importantes. Talvez arranje
novos ouvintes para “A Hora Do Lobo”, dá-se sempre jeito e acaba por ser no
mesmo horário... Portanto 20 anos depois, we’Re back». Quanto aos que ficaram
de fora cita dois exemplos, até porque no cenário desta conversa a luz é baixa
e afasta a visão da listagem com todos os eleitos. «A mim faz-me falta o Robert
Wyatt, uma pessoa com uma posição mental e social claras, alguém muito
inteligente que sempre prezei muito e que para mim é o paradigma de um certo
tipo de rochedo que não se move mas que à parte disso é uma doçura...». E os
Jesus & Mary Chain «num cenário completamente diferente, de rebentamento. A
produção é completamente inovada ali e é quando se inaugura o período sónico
que veio dar depois excelentes frutos. Depois é uma memória de baladas dos anos
50 que eles vão buscar não sei bem onde... É quase um caso para bruxas.»
SEM ESPAÇO NEM TEMPO
Mas apesar de enquadrado num espaço de tempo, este é um
disco que não se poderia reduzir a tal dimensão. «Aliás isto começou antes e
nunca mais acaba.» Uma perspectiva que tem muito a ver com aquilo que Sérgio
refere como sendo «uma curiosa ligação minha, automática e intuitiva em relação
à própria música, por ter crescido também quase com a idade do rock. Tenho a
sorte de ter acesso a música do rock and roll norte-americano em África, via
estar metido no meio de rádio, coisa que se me tem escapado me teria retirado
imensa cultura musical, ou pelo menos informação musical, aquela mais
automática.» Além disso, «sem querer, quem ouve rock and roll desse tempo ouve
blues ou pelo menos alguma coisa de blues, o meu pai ainda tinha a mania de
ouvir música clássica portanto...»
E quem o foi ouvindo ao longo de todos estes anos sabe do
que fala. «A vida e os anos em rádio ensinam-nos muito, principalmente para
quem paciência para fazer aquela tarimba que eu fiz, e não esperar estrelatos
demasiados porque a rádio não é um meio que o proporcione. Gosto mais a ideia
do sacerdócio e da dedicação. Também há mais carinho nisso e mais paixão.»
Para a Ana Cristina Ferrão «este foi o verdadeiro “Globo
de Ouro” de António Sérgio. «Não é aquela cena emperuada e encasacada mas sim a
hipótese de fazer um objecto rock, algo que vai permanecer, o que o motivou
imenso. É um reconhecimento diferente.» No entanto, acrescenta Sérgio, «o
verdadeiro artista aqui é a música, as bandas que cá estão dentro e os disparos
de energia que têm.» Isto sem esconder o prazer que lhe deu ter um pretexto
para remexer nestas suas memórias e no vinil todo, «coisa que já não faço
porque não utilizo, uma vez que a cabina da Comercial não dá para o fazer.»
Para andar «a carpir mágoas do passado» também não valia a pena. Desta forma
foi diferente, até pela satisfação adicional em «lidar com criadores que são
eles próprios a razão de ser da criatividade da música. Não são correios de
transmissão de nada, não conseguem ser.»
Ciente de que a pior parte já passou, «que foi este
material mais enterrado no tempo», já se perspectiva uma segunda edição,
referente ao período 1987-1993, ainda sem data definida e sem a certeza de
conhecer vida, tal como este, no ano em que se assinalam os 20 anos do «Som da
Frente». «Nesse disco vou tentar evitar as repetições, não vai haver banda
nenhuma com direito a mais que um tema, talvez tema e meio. Além disso terá a
particularidade de saltar a década em si, e a década musical não é de maneira
nenhuma a mesma dos calendários. Mas há coisas curiosas uma vez que entre 1988
e o princípio de 90 forja-se uma boa parte daquilo que se passou a seguir.
Portanto vou tentar documentar isso o melhor possível.»
Para já fica o testemunho anterior num disco que
«continua a ter uma certa rebeldia que está ligada ao nome do programa e a uma
atitude intrínseca da pessoa que fazia o programa e das pessoas que o ouviam
que em certos casos se manterá.» Um documento que «tentou cobrir um período
muito rico da criação musical pop e rock, já com algumas inserções na world
music, embora não se chamasse assim nessa altura...» E com um público bem
definido. «A maior parte das pessoas que eu queria que fossem buscar este disco
eram pessoas aventureiras, que quisessem outra vez entrar na aventura da
descoberta dos sons e dos novos nomes. Como aqui há nomes tão velhos que podem
parecer novos nomes... Há quem possa nunca ter ouvido falar, sei lá... da
Durutti Column?»
Sem certezas sobre as motivações de uma geração que
privou com o «Som da Frente» e que «pode estar ou não demitida dessa atitude
perante a música», o desafio desta proposta é também o de fazer despertar a
curiosidade a outras pessoas «que tinham oito ou nove anos na altura». Como?
«Só se for por valer a pena de alguma maneira», responde de pronto António
Sérgio. «Ou o repertório tem aqui manchas de talento que valem a pena, e aí
temos de chamar a atenção porque eles não sabem, ou então não valerá a pena.
Fica apenas a memória de um programa que existiu, foi muito funcional na altura
e depois deixou de o ser.»
AS HORAS DO LOBO
Mais que uma escola, o «Som da Frente» era quase um
momento de procissão de fé num tempo em que as janelas a outros mundos eram
poucas, e difíceis de abrir. Hábito diário, a audição do «Som da Frente» era um
complemento fundamental a um processo de descoberta de novos sons, novas
sensações... O panorama musical de inícios e meados de 80 não mostrava os
sinais da imbecilidade reinante do «mainstream» do presente mas, já então, o
«Som da Frente» assumia a ousadia de, em alto e bom som, ir mais além. Ser fiel
ouvinte do programa era condição necessária para a adesão a uma tribo que não
se satisfazia com a máxima globalizante «todos diferentes todos iguais». O
núcleo de ouvintes «hardcore» fazia questão de levar, depois, as sugestões
ainda mais longe, encantando figuras e trapos condizentes com músicas e
músicos, com o negro quase sempre presente, o «Blitz» debaixo do braço e as
inevitáveis passagens pela Catedral da Rua da Beneficência ao Rego (o Rock
Rendez Vous).
O «Som da Frente» estimulava a busca de um gosto pessoal,
alargava horizontes. Apresentava-nos
nomes como os Bauhaus, Joy Division, Cocteau Twins, Teardrop Explodes, This
Mortal Coil, Danse Society, The Sound, Echo & The Bunnymen, The Cure, Clan
Of Xymox, New Order, Durutti Column, REM, Siouxsie & The Banshees, Julian
Cope...
O disco duplo que agora é editado consegue evocar, apesar
da infeliz não cedência, pelos actuais detentores dos direitos, da
importantíssima fatia de referências 4AD, o que era o tutano das emissões do
«Som da Frente». A abrir o histórico instrumental dos Xutos & Pontapés, que
serviu de indicativo. E, depois, memórias soltas como «Winning» dos The Sound,
«Sunspots» de Julian Cope, «Taking The Veil» de David Sylvian, «Regiment» de
Brian Eno e David Byrne, «Five Miles Of You» de Tom Verlaine, «Sunglasses After
Dark» dos Cramps, «Atmosphere» dos Joy Division ou o sublime «This Big Hush»
dos Shriekback, a dada altura um tema de rodagem diária obrigatória no
programa. Como complementos, excelentes textos de acompanhamento sobre a memória
do programa e a voz por trás do microfone, por Ana Cristina Ferrão. Memórias
dos melhores momentos de um disco que evoca um programa chave da história da
rádio portuguesa. Personalizando, aquele que me ensinou a ouvir música.
Obrigado, Sérgio!
N.G.
VÁRIOS
«Som da Frente 1982-1986»
EMI-VC
++++25.4.17
BANDAS SONORAS (As Dez Melhores Bandas Sonoras De Sempre) - Listas -
BANDAS SONORAS
(As Dez Melhores Bandas Sonoras De Sempre)
Escolher dez bandas sonoras representativas do género não
foi fácil. A opção centrou-se no assumir dos discos como peça autónoma e não
apenas da música enquanto parte do filme em questão (o que afasta «2002» e
outros tantos), ficando ainda o importantíssimo espaço do musical reduzido a um
representante de referência. Prometemos, regressar, um dia, a estes domínios...
1951. GEORGE GERSWINN
«An American In Paris»
EMI
«Serenata à Chuva» (1952) pode servir de emblema popular
do musical clássico «made in Hollywood. Mas é em «An American In Paris», filme
dirigido um ano antes por Vicente Minnelli, que o conceito (musical) do próprio
género encontra uma das suas concretizações mais puras. O retorno aos temas de
George Gershwin (1898-1937) faz-se através de uma lógica em que as canções se
vão inscrevendo num fascinante aparato sinfónico, ao mesmo tempo que suscitam a
expressão dos corpos que dançam.
1958. BERNARD HERRMANN
«Vertigo»
Varese
Se Alfred Hitchcock inventou a linguagem do «suspense»,
então Bernard Herrmann conferiu-lhe uma sonoridade própria. Teia de melodias
dramáticas, orquestrações exuberantes e cordas sempre angustiadas, a música de
«Vertigo» é a apoteose de uma relação de trabalho de oito filmes, entre 1955
(«O Terceiro Tiro») e 1964 («Marnie»). O todo existe como peça sinfónica
autónoma e fascinante, mesmo se foi concebido para servir os desígnios
fantásticos do filme e do seu retrato da mulher «que viveu duas vezes».
1966. HERBIE HANCOCK
«Blow-Up»
EMI
Ao convidar Hancock, Antonioni marcava um capítulo decisivo
da música moderna. Em 1966, Hancock tinha uma pequena, mas brilhante,
discografia que desembocava em «Maiden Voyage” (1965). Nela se exprimia uma
relação mais «free» com a história do jazz, disponível, por exemplo, para as
experimentações electrónicas. Na sua riqueza rítmica, fundindo sonoridades
rock, jogos funky e deambulações jazzísticas, «Blow-Up» é o momento zero de um
fascinante processo de reconversão da música nos filmes.
1971. WALTER CARLOS
«A Laranja Mecânica»
Warner Bros
Depois do determinante «2001: Odisseia No Espaço»,
Kubrick voltou a encarar a música como elemento fulcral do filme seguinte.
Baseado num livro de Anthony Burgess, o filme contou com brilhante banda sonora
na qual se cruza Beethoven e Rossini com uma ousada aventura de pioneirismo
electrónico conduzida por Walter Carlos. Num espaço de travo futurista (que
sublinha a identidade estética do filme), um plano novo nasce do encontro entre
a tradição clássica e o desenho de um futuro electrónico.
1977. VÁRIOS
«Saturday Night Fever»
Polydor
Editada em Dezembro de 1977, «Saturday Night Fever» é a
banda sonora mais vendida de sempre, o que é por si pomposo muito embora esse
não tenha sido o seu feito maior. O «pequeno filme» revelou-se um fenómeno
cultural ímpar definindo uma geração, testemunhando todo o movimento, a forma
de ser, de estar, de vestir, de dançar do disco sound. A par de clássicos dos
Bee Gees surgem outros hinos e nomes como Yvonne Elliman e K. C. & The
Sunshine Band num documento histórico.
1977.
JOHN WILLIAMS
«Star Wars»
RCA
Victor
John Williams era já um veterano (inclusivamente premiado
com dois Óscares) quando aceitou o desafio de George Lucas para cenografar com
música um épico intergaláctico que acabou por marcar a história do cinema.
Herdeiro da tradição sinfonista (uma das mais ricas e recheadas escolas de
música ao serviço do cinema), John Williams condensou na banda sonora de «A
Guerra Das Estrelas» uma amálgama de referências funcionais, dela nascendo uma
sólida e inesquecível sinfonia universal.
1982. VANGELIS
«Blade Runner»
Wea
De certa forma, encontramos na música que Vangelis compôs
para «Blade Runner» uma actualização (revista e aumentada) das potencialidades
das electrónicas ao serviço da mais clássica escrita de música para cinema,
escola com primeiro mestre em Walter Carlos. Ridley Scott adapta aqui um conto
de Philip K. Dick e, para conceber os ambientes de uma Los Angeles opressiva e
sobrepovoada no século XXI, recorre a uma dialética entre o épico e o negro que
a música de Vangelis aqui tão bem sugere.
1990.
ANGELO BADALAMENTI
«Twin
Peaks»
Warner
Bros
Numa chamada de atenção aos universos da música composta
para televisão, a presença de «Twin Peaks» serve nesta lista para exemplificar
como pode ser importante o entendimento estético entre um realizador (Lynch) e
um compositor (Badalamenti) na criação da alma de uma obra total. A música de
«Twin Peaks», que contamina depois a própria adaptação ao cinema em «Fire Walk
With Me» (em 1992), decorre de um trabalho que realizador e músico vinham a
desenvolver, na companhia da cantora Julee Cruise.
1995. GORAN BREGOVIC
«Underground»
PolyGram
A obra-prima de um dos mais invulgares autores europeus
de música para cinema é um exercício de composição que parte de referências de
tradições populares da música balcânica para um espaço de contemporaneidade,
naquele que é também o mais recomendável dos trabalhos de escrita musical na
filmografia de Emir Kusturica. Depois de interessantes ensaios em «Arizona
Dream», «O Tempo dos Ciganos» (ambos de Kusturica) e «A Rainha Margot» (de
Chéreau), Bregovic atinge aqui a plenitude da sua escrita.
1996. VÁRIOS
«Natural Born Killers»
Interscope
Momento alto de uma tradição que conheceu o primeiro
momento histórico na banda sonora de «Os Amigos de Alex», a de «Assassinos
Natos» é uma das mais poderosas compilações de canções ao serviço da sétima
arte. A música que serve este filme de Oliver Stone reúne figuras tão díspares
quanto as de Leonard Cohen, Patti Smith, Patsy Cline, Nine Inch Nails ou Barry
Adamson. Na concepção e coordenação da banda sonora encontramos Trent Reznor,
que depois trabalhou com David Lynch em «Estrada Perdida».
24.4.17
Pop Dell'Arte - "So Goodnight" (EP) - Crítica de Discos / Diário de Notícias
Diário de Notícias
Crítica de Discos
ARRIBA AVANTI!
Sete anos depois do magnífico «Sex Symbol», os Pop
Dell’Arte quebram finalmente o silêncio com um notável EP de seis temas.
Editado por uma multinacional (a PolyGram), era um disco
de impressionante visão, rasgando conceitos em diversos sentidos, da
electrónica ao mais clássico rock, traduzindo então um momento de maioridade
criativa naquele que é um dos mais cativantes dos projectos da história moderna
da música portuguesa.
Uma série de concertos nos últimos anos foi devolvendo o
grupo à actividade, abafando o temor de um fim muitas vezes falado. Pelo
contrário, pontualmente, nesses espectáculos, brotavam novos temas. Por vezes
ainda em busca de formas definitivas. A ideia de um regresso aos discos começou
a desenhar-se então, com um conceito de agenda não rígida ao qual há muito nos
habituámos por estes lados. «No problemo»! Pelo caminho, eram reeditados em CD
os álbuns «Free Pop» (1987) e «Ready Made» (1993) e a compilação «Arriba Avanti
Pop Dell’Arte» (1990), assegurando à discografia do grupo uma vida na era
digital. No Natal de 2001, uma mão cheia de amigos afortunados recebia, em
jeito de prenda no sapatinho, com sabor a cartão de visita para uma futura
edição em disco, um CD-R com uma versão para um clássico da quadra («Little
Drummmer Boy»), devidamente assimilada pela teatralidade Pop Dell’Arte: «Little
Drama Boy».
Agora, após longa espera, o reencontro com todos é
finalmente possível num fabuloso EP de seis temas onde prefiro saborear a
novidade, e deixar o «sabe a pouco» em segunda fila, certo de, mais mês, menos
mês, se poder vir a concretizar a gravação de todo um novo álbum de originais.
É certo que, após sete anos de silêncio discográfico,
pode parecer escassa a oferta mas, escutado o conteúdo do EP (com 20 minutos de
música) a certeza é a de termos aqui uma das mais interessantes e inteligentes
edições do Portugal pós-2000, num disco que só o pânico que conduz as
«playlists» das rádios e define a ditadura do gosto nas televisões, poderá
impedir de chegar aos ouvidos de quem pensa que, entre nós, nos limitamos a
assimilar estéticas ensaiadas e rodadas lá fora, adaptando-as depois à lusitana
paixão. Como os Mão Morta e, em tempos, os Mler Ife Dada, os Pop Dell’Arte são
um dos mais notáveis casos de genuidade criativa, com o valor acrescentado de
conhecerem João Peste não só uma das mais únicas vozes do burgo, como o único
verdadeiro artista / performer da praça, num todo que define uma proposta
estética com implicações que vão além da pele da música, até à carne do
conteúdo.
«So Goodnight» em nada decepciona quem tinha conhecido já
em «Free Pop» e «Sex Symbol» dois discos de absoluta referência no panorama
musical português. Denuncia uma aproximação do grupo a estéticas de construção
e composição musical características de uma idade em que a obra vive da recolha
e gestão de fragmentos. As electrónicas são usadas como ferramenta, mas não
esgotam em si as metas da composição. «Mrs Tyler», «So Goodnight» e «Little
Drama Boy» são as três geniais canções incluídas no alinhamento, qualquer delas
palco de inteligentes jogos de teatro para voz, melodia e cenografia sonora. Transpiram
a «tal» genuinidade que desde meados de 80 reconhecemos na música de João Peste
e das várias formações dos Pop Dell’Arte, e definem uma ideia da expressão em
2002 de uma identidade estética até hoje nunca comprometida.
Além das três magníficas canções, o EP apresenta um
soberbo momento de poesia falada, com as palavras de Ezra Pound embebidas num
envolvente caldo bem temperado, suportado por uma cama de guitarras
distorcidas, sob a qual se desenha ainda um bailado tranquilo de notas ao
piano.
Dois pequenos interlúdios completam no alinhamento. No
primeiro, «The Sweetest Pain» quase se sugere uma ideia de canção disfuncional,
com a voz de João Peste a moldar um frágil espaço de equilíbrio / desequilíbrio
vocal (num registo «clássico» Pop Dell’Arte em episódios tranquilos), numa
virtual corda bamba sobre linhas minimalistas para electrónica, guitarra e
ruído. «The Witch Queen Of The USA», por outro lado, é um breve fragmento de
aparente caos que, afinal, revela camadas de acontecimentos e ruídos que se
entrelaçam, construindo juntos uma textura que sugere uma espécie de concentração,
num ponto, das imagens sonoras de uma grande metrópole num só instante. Este
tema é da autoria de Zé Pedro Moura, que aqui assinala o seu regresso aos Pop
Dell’Arte, após mais de dez anos de ausência (nos Mão Morta).
Este magnífico regresso dos Pop Dell’Arte junta mais um
disco incontornável à discografia fundamental do ano e do Portugal de início de
milénio e, mesmo «sabendo a pouco», não deixa de fazer já muito, nem que pelo
simples reactivar discográfico de um grupo que só não é «maior» dada a soma histórica
de ausências... Mas, no fundo, o que é a quantidade quando a qualidade brilha
mais alto?
P.S. Pena apenas que, num grupo de tão reconhecidas
cumplicidades visuais, se apresente um «artwork» tão aquém da oferta musical...
POP
DELL’ARTE
«So
Goodnight EP»
Candy Factory / Música Alternativa
+++++22.4.17
Concerto Kraftwerk em Lisboa (IWT) - Abril de 2004 - mais Entrevista a Ralf Hutter
Blitz
6 Abril 2004
OLHÓS ROBÔ(S)
Kraftwerk, Coliseu dos Recreios (Lisboa), 2 de Abril
Texto: Catarina Sacramento
Foto: Rita Carmo
Apenas quatro focos iluminam as silhuetas em palco –
quatro corpos idênticos, vestidos de negro, rígidos, cada um em frente do seu
laptop. São eles Ralf Hütter, Florian Schneider, Emil Schult e Fritz Hilpert,
formação actual dos Kraftwerk, mas a ideia é exactamente não saber que é quem;
anular a identidade individual numa simulação robótica colectiva, concretizar o
imaginário simbiótico entre o Homem e a máquina desenvolvido pela banda desde
inícios de 70. O público, igualmente impávido (à parte das manifestações
pontuais de emoção, autêntica, mas inibida pela não reacção intencional dos
alvos de aplauso), não tira os olhos do palco.
Foi preciso esperar 30 anos por um concerto dos Kraftwerk
em Portugal e as expectativas são mais que muitas. Felizmente, eles
(cor)respondem com duas horas daquilo que lhes conferiu um estatuto pioneiro na
história da música popular: os ritmos electro-qualquer-coisa, as vozes
robóticas, o jogo de luzes e projecções de imagem e os clássicos absolutos da
história da banda, que também são momentos-chave do séc. XX – tudo o que, em
diferentes instantes presentes, constitui a ideia de futuro.
O tempo não fez dos Kraftwerk robôs da terceira idade e a
prova é que esta histórica aparição em Lisboa não o foi apenas por ter
revisitado temas incontornáveis, mas pela actualização rítmica a que os
sujeitaram – reenquadrados em molduras house, tecno, breakbeat, hip hop (?) e crepitações
várias, deixando mesmo a fronteira com o trance a escassos metros de distância
-, sem, contudo, macular o espírito original. O segredo parece residir na
exploração das mais diversas emoções por via electrónica sem nunca abandonar a
experimentação. À medida que os temas se sucedem o apelo à dança acentua-se, em
contraste absoluto com a postura hirta dos protagonistas: ambas são peças desta
máquina criadora de sugestões e metáforas, alimentada pela aceleração até à
meta de «Tour de France» (com a musculatura em evidência e a escalada da
montanha a par com a escalada rítmica); pela invasão de comprimidos de todas as
cores e feitios («Vitamin»); pela auto-estrada a aproximar locais até aí
afastados (sons de buzinas, travagens a fundo e motas a passar a alta
velocidade são integrados na melodia de «Autobahn»), pela memória do Moog a
saltitar entre as teclas deliciosas de «The Model» e o cabelo armado das
senhoras dos anos 40, pelas «Neon Lights» a piscar em fundo; ou ainda pela
agressividade da voz que soletra Ra-di-o-Ac-ti-vi-ty como quem faz um
inventário dos danos depois da catástrofe. E não tarda a partir da estação o
«Trans-Europe Express», com toda a maquinaria de ruídos em movimento e a
simbologia correspondente que as imagens tratam de fornecer.
Quinze minutos depois, fim da linha. Mas o público pede
mais e uma voltinha e uma voz robótica (desta vez é amiga) abre o livro de
matemática no capítulo «Numbers», «Computer World» e «Pocket Calculator» (num
estilo de blips electro-tec-house). Mais dois regressos ao palco, com novos
trajes verde fluorescente e «Elektro Kardiogramm» incluído, a terminar com a
saída dos quatro, um a um, até ficar só o eco de «Musique Non-Stop» a preencher
a atmosfera com solidão auto-referencial.
Ironia suprema seria mesmo «The Robots», no segundo
encore: o Coliseu aplaude quatro robôs que surgem no lugar dos protagonistas e
se movem, em gestos trôpegos, ao som da música pré-gravada. Um endeusamento
proporcional à vontade de auto-anulação dos próprios autores...
RALF HUTTER, AQUELA MÁQUINA
P - Em vez da maquinaria antiga, os Kraftwerk levam agora
para o palco computadores portáteis. Essa mudança é de alguma forma redutora do
conceito geral dos espectáculos do grupo?
RH – Convertemos todo o material analógico para formato
digital, mas o conceito é o mesmo. Até está mais perto da visão que tínhamos de
um estúdio electrónico móvel, quando criámos o estúdio Kling Klang. Os nossos
computadores estão todos ligados, sincronizados.
P – O facto de permanecerem quase imóveis em palco é uma
forma de enfatizar a música e não aqueles que a fazem?
RH – Sim. Mas é sobretudo porque os computadores são
muito sensíveis e exigem toda a nossa atenção e concentração. É um trabalho
milimétrico.
P – O que sente quando os Kraftwerk são apontados como um
marco decisivo na história da música popular? A presente digressão tem dado
mostras da receptividade das novas gerações à música dos Kraftwerk?
RH – Absolutamente. É uma energia que recebemos e nos
empurra para a frente, encorajando-nos a continuar. E as pessoas reconhecem
mesmo as músicas e as pequenas alterações, captam as vibrações.
P – No último disco, Tour de France Soundtracks, a
relação homem-máquina (abordada de difeentes formas nos álbuns anteriores)
materializa-se na ideia de ciclismo. De que modo?
RH – Representa a simbiose perfeita entre o homem e a
máquina, daí que seja um som mais circular. O Trans-Europe Express tinha
aqueles sons metálicos, pesados, das engrenagens [dos comboios]. A bicicleta é
um instrumento musical.
P – Mantém-se atento À música que se faz actualmente?
RH – Continuo a ouvir música, quando vou aos clubes. Mas
a música vem de todo o lado: das máquinas, dos comboios, dos carros, da
natureza. O bater do coração, a respiração... a minha maior influência é a vida
diária.
P – Nos dias de hoje qualquer pessoa faz música sem sair
do quarto, com um laptop. Essa banalização compromete a qualidade da música
electrónica?
RH – Não, acho que a música está mais criativa. Antes era
preciso trabalhar em laboratórios enormes, como aconteceu connosco nos anos 70.
Por isso é que desenvolvemos o nosso próprio estúdio, despendemos imensa
energia para criar a nossa primeira caixa de ritmos, depois os primeiros
sintetizadores... O meu primeiro sintetizador custou o mesmo que o meu
Volkswagen. Hoje os Instrumentos são cada vez mais acessíveis e isso é óptimo.
Já não há limitações à criatividade, para compor, para concretizar o que temos
em mente.
P – E o próximo disco de originais, já estão a trabalhar
nele?
RH – Concluímos agora a digitalização do nosso catálogo.
Juntámos os oitos álbuns numa caixa, em língua inglesa e alemã. Transformámos
as cassetes antigas em formato digital, remasterizámo-las e o catálogo completo
vai finalmente ser editado pela primeira vez, em todo o mundo. Daqui em diante
estamos prontos para começar a trabalhar em novos temas. Este é apenas o início
de uma nova fase digital.21.4.17
DN - Série: Discos Pe(r)didos (19)
DN - Diário de Notícias
3 Agosto 2002
Apesar da curta expressão e limitada duração em que se
manifestou entre nós, a «new wave» chegou mesmo assim a conhecer alguns dignos
representantes. Um deles, foi caso inesperado, nascendo de um grupo com
importante projecção no panorama «progressivo» na recta final de 70: os Tantra.
Uma das maiores forças da música rock feita em Portugal
na segunda metade de 70, os Tantra surgem em 1976 da reunião de Manuel Cardoso
(que tinha já passado pelos Beatnicks), Armando Gama, Américo Luís e Tozé
Almeida, editando logo nesse ano o single «Alquimia da Luz». Um ano depois, o
álbum «Mistérios e Maravilhas» (já disponível em CD) revelava a maioridade de
um som rock de cenografia sinfónica e alma «progressiva», constituindo
imediatamente um fenómeno, que se cimenta num tempo de desertificação na
cultura pop/rock lusitana.
São, ainda nesse ano, o primeiro grupo rock português a
encher o Coliseu dos Recreios, feito que repetem, em 1978, no concerto de
apresentação do segundo álbum, «Holocausto» (recentemente reeditado em CD),
evolução natural do disco de 1977.
Quando o grupo regressou ao Coliseu, em 1978, já Armando
Gama havia saído (para formar os Sarabanda, com Kris Kopke), sendo então
substituído, nas teclas, por Pedro Luís. Segue-se então um tempo de longo
silêncio, durante o qual se começam a manifestar sinais de mutação interna, que
levam ao afastamento de Américo Luís.
Estávamos na viragem de década, e nomes como os de Rui
Veloso, UHF, Salada de Frutas, GNR, Jáfumega e Táxi começavam a mostrar um novo
som rock cantado em português ao qual aderiam, como nunca antes, as rádios e
público. Numa decisão contra-corrente, tal como então se verifica em grupos
como os Roxigénio e Arte e Ofício (estes já com tradição no recurso ao inglês),
os Tantra abandonam a língua portuguesa. E, reduzidos a três elementos,
contando com a colaboração de «Dedos Tubarão» (Pedro Ayres Magalhães), dos
Corpo Diplomático, editam em 1981 o terceiro álbum, «Humanoid Flesh».
O disco causou acesa polémica, sobretudo por acender a
chama da discórdia na classe «crítica» de 70, mais dada a elogiar os
sinfonismos de «Mistérios e Maravilhas» e «Holocausto» que as novas canções de
dinâmica rítmica mais evidente e recorte «new wave» com o qual o grupo se
apresentava. Todavia, a rejeição não chegou apenas da «crítica», já que o
público acabou também por ignorar este terceiro disco dos Tantra, que pecava
por «erro» estratégico de «timing» ao adoptar o inglês numa altura em que as
multidões descobriam e abraçavam um novo rock (mesmo mais «quadrado») cantado
em português. A opção pelo inglês foi então justificada por Manuel Cardoso (já
a responder como Frodo) numa entrevista ao «Se7e», onde explica que uma luzinha
lhe dissera que Deus não passaria os discos dos Tantra no Paraíso, se estes
cantassem em Português.
«Humanoid Flesh» tem os seus méritos. Musicalmente é um
interessante manifesto estético de um movimento tangencial Às linhas de força
pop/rock lusitanas na alvorada de 80. E não só exibe um lote de canções
interessantes (algumas a revelar uma proximidade estranha com o som dos Classix
Nouveaux), como ousa transformar os «Verdes Anos» de Carlos Paredes, naquela
que é uma das mais interessantes manifestações de homenagem do rock português
ao grande mestre.
O fracasso do álbum acabaria por determinar o fim do
grupo. Frodo seguiu carreira a solo. Tozé Almeida juntou-se aos Heróis do Mar.
E Pedro Luís formou os Da Vinci.
N.G.
TANTRA
«Humanoid Flesh»
LP Valentim de Carvalho, 1981
Lado A:
«Girl In My Head», «Crazy Rock’N’Roll», «What Have Your Eyes Done To Me?»,
«Magic», «Verdes Anos»;
Lado B: «Dangerous Works», «Humanoid Flesh», «Just
Another Lie», «African Sands»
Produção: Tantra e SR
20.4.17
Livros sobre música que vale a pena ler (e que eu tenho, lol) - Cromo #65: Luís Jerónimo e Tiago Carvalho (compilação) - "Escritos de Fernando Magalhães - Volume VIII: 2000"
autor: Luís Jerónimo e Tiago Carvalho (compilação) - Prefácio: Nuno Magalhães (irmão)
título: Escritos de Fernando Magalhães - Volume VIII: 2000
editora: Lulu Publishing
nº de páginas: 630
isbn: none
data: 2017
PREFÁCIO (páginas 1 e 2 de 10 no total)
(por NUNO MAGALHÃES - irmão do FM)
Possamos
nós morrer
Como
na Primavera
As
flores da cerejeira
Puras
e brilhantes.
Escrever sobre um
escritor não é tarefa fácil.
Criticar um
crítico, tão-pouco.
Escrever sobre o
meu irmão é não só bem mais fácil, como uma honra, um prazer e simultaneamente
uma sentida homenagem, plena de recordações emocionais, como quem faz uma
viagem a um passado mais ou menos longínquo, aos meandros da nossa juventude.
Sob o risco de derramar
na prosa um misto de sentimentos, muito pessoais, vividos a uma velocidade vertiginosa
(“caricata”, como diria o Fernando) pauto estas minhas breves palavras por
aquele conceito que parece não ter tradução em mais nenhuma língua do mundo:
“SAUDADE” !
Para o público em
geral, falar de Fernando Magalhães é falar de um dos maiores críticos musicais
Portugueses de todos os tempos; para mim falar dele é falar de um dos meus
melhores amigos, de cumplicidade fraterna, de comunhão de ideais, de
entreajuda, de viagens, de surrealismo, de loucura e paródia (e também do nosso
Sporting…!).
Como homem, para
além do crítico, o Fernando era um mundo dentro de um outro mundo que talvez,
na época, não estivesse bem preparado para o receber. A sua permanente
inquietude e curiosidade, que o levavam a querer explorar novas vertentes que
pudessem abanar o status-quo cultural existente, o seu inconformismo e
tendência para o experimentalismo, a paixão que colocava em tudo o que fazia (a
par, é certo, de uma certa ingenuidade e candura intrínsecas), o amor pelas
artes, com especial incidência sobre a música, o seu sentido de humor cáustico
e subtil, faziam dele uma caixinha de surpresas, um “mastodonte intelectual”
como uma vez lhe chamei (e ele não se ofendeu!).
Quando se começou
a interessar pela música, com cerca de 13 – 14 anos já estava uns anos
adiantado em relação ao panorama musical da altura. Rapidamente se transformou
num pioneiro quando se lançou na pesquisa de novos estilos musicais bem como de
bandas até então desconhecidas em Portugal (curiosidade: o seu 1º LP foi o
álbum de estreia da banda britânica de rock Led Zeppelin. Foi gravado em
outubro de 1968 no Olympic Studios, em Londres, e lançado pela Atlantic Records
em 12 de janeiro de 1969.
Enquanto pessoa,
o Fernando nunca via maldade em nada. Era, como soi dizer-se, um “PURO”. Ou
gostava ou não gostava (La Palice não diria melhor). Ao longo das décadas em
que fez crítica musical sempre escreveu aquilo que sentia, com enorme
genuinidade, assertividade, domínio da expressão literária e “know how” sobre a
temática. Fazia-o com amor. Escrevia com o coração aquilo que lhe ia na alma (desculpem-me
o chavão) e nunca tentou agradar a Gregos e a Troianos !
Do rock, pop,
electrónica, fado ou folk, ao jazz, punk, soul ou heavy metal, para ele só existiam dois tipos
de música: A BOA e a MÁ !
Mas chega de
falar do Fernando, como crítico de música (já muito se escreveu sobre esta
matéria) e vamos lá revelar algumas das suas facetas, desconhecidas do grande
público.
Éramos 3 irmãos
(agora somos só dois) todos do sexo masculino. Dos 3 nenhum se livrou da pesada
herança genética deixada pelo nosso progenitor, vulgo pai, que “enfermava” de
um apurado sentido de humor, tocando,
por vezes, as raias da excentricidade. - Obrigado pai !
O nosso pai, com
a preciosa colaboração da nossa mãe, metódico como era, concebia um filho de 4
em 4 anos pelo que o Fernando nasceu em 1955, eu em 1959 e o meu irmão Eduardo
em 1963 (em Fevereiro, Março e Abril). De realçar que na altura não existiam
máquinas de calcular.
Após uma infância
mais ou menos normal (era tudo doido, lá em casa) e ainda durante o seu
percurso académico, o Fernando, por volta de 1968, com 13 anos, ouviu na rádio
um agrupamento que dava pelo nome de “The Beatles”, que tinham surgido em 1960,
quando ele tinha apenas 5 anos. Parece que gostou do que ouviu e no Natal
seguinte pediu ao Pai Natal que lhe desse um gira-discos. [...]
ÍNDICE
Indice Vol8 Scribd by luisje on Scribd
DN - Série: Discos Pe(r)didos (18)
DN - Diário de Notícias
29 Junho 2002
Discos Pe(r)didos
Emigrado para França depois de uma recusa em combater na
Guerra Colonial, Luís Cília é um entre uma “família” de músicos portugueses que
desviam de Lisboa para Paris o palco de criação de alguns dos mais importantes
discos que a língua portuguesa conheceu na década de 60. É em Paris que conhece
figuras como as de Paco Ibanez, Colette Magny, Georges Brassens, Luigi Nono...
É também em Paris que enceta a sua obra discográfica, com o fundamental
“Portugal-Angola: Chants de Lutte” (editado em 1964 pela Chant du Monde).
Ainda durante a década de 60 edita “Portugal Resiste” (um
EP) e os três álbuns da série “La Poèsie Portugaise”. Em 1969 assina “Avante
Camarada”, canção que, gravada por Luísa Basto, se transformaria depois no hino
do PCP. E, ainda antes do regresso a Portugal, grava e edita “Contra A Ideia da
Violência, a Violência da Ideia”, disco que assinala o seu reencontro com a Le
Chant du Monde.
Quatro dias depois do 25 de Abril, Luís Cília regressa a
Portugal e logo causa polémica ao afirmar que Alfredo Marceneiro era um cantor
revolucionário. A ligação que era feita, pela turba revolucionária, entre o
fado e o regime deposto, não permitia a aceitação deste tipo de opinião de bom
grado.
A demarcação mais efectiva ainda de Luís Cília face a
alguns excessos desses tempos ganhou forma naquele que foi o primeiro álbum
editado após a revolução. Sem embarcar na multidão que então fazia do canto de
intervenção a linguagem musical do Portugal de todos os dias, Luís Cília
procura reunir num disco uma colecção de romances antigos, os mais recentes
datados do século XIX, os mais remotos do século XIII!
Para o processo de recolha não recorreu aos trabalhos de
Michel Giacometti e Lopes Graça (duas referências já devidamente reconhecidas),
mas antes a uma busca em nome próprio, para tal socorrendo-se do acervo da
biblioteca da Fundação Gulbenkian em Paris, na qual consultou uma série de
cancioneiros. De uma série de trabalhos de recolha que vinham de antes do 25 de
Abril nasceu a ideia de um álbum que, no agitado 18«974, rumou então contra a
corrente.
Para a concretização do projecto, Luís Cília regressou a
Paris. Por companhia levara, de Portugal, o produtor executivo José Niza, nomeado
pela Orfeu, com quem o músico havia assinado. Na capital francesa tinha todos
os músicos que julgara necessários para dar forma ao projecto. Em primeiro
lugar o guitarrista clássico Bernard Pierrot, que Cília conhecia por ter sido,
também, aluno do seu professor de composição Michel Puig. Pierrot assinou os
arranjos e, com o seu grupo de música antiga, participou na gravação de “O
Guerrilheiro”, cujas sessões tiveram lugar nos estúdios Sofreson, em Paris.
Disco esquecido, importante registo de referência de uma
atitude muito particular perante a recolha do legado da música tradicional
portuguesa, “O Guerrilheiro” deu à Intersindical o seu hino, mais concretamente
na música do tema-título (originalmente uma canção alentejana do século XIX,
aparecida em 1852, por ocasião das lutas civis de Patuleia e Maria da Fonte).
Oito anos depois (em 1982), Luís Cília voltou ao estúdio,
onde regravou as partes vocais do álbum que, então, a Sassetti reeditou com o
título “Cancioneiro”. Todavia, nem esta versão de 1982, nem a histórica versão
original, tiveram ainda luz verde para a reedição em CD.
Teremos ainda de esperar muito?
N.G.
LUÍS CÍLIA
“O Guerrilheiro”
LP ORFEU, 1974
Lado A: “O Adeus d’um Proscrito”, “O Conde Ni#o”, “Flor
de Murta”, “A Guerra do Mirandum”, “O Conde de Alemanha”;
Lado B: “D João da
Armada”, “Canção do Figueiral”, “D. Sancho”, “O Guerrilheiro”
Produtor delegado: José Niza
Subscrever:
Comentários (Atom)





























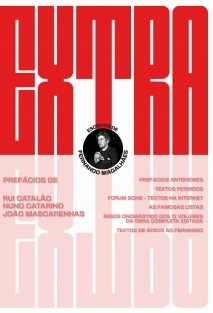


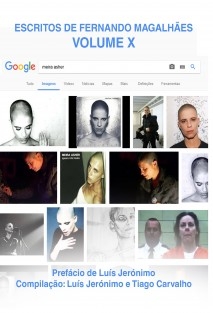


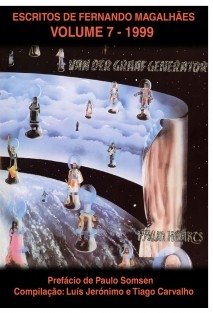







_Bubok.jpg)





















