31.8.15
Memorabilia: Revistas / Magazines / Fanzines (123) - Música & Som #59
Música & Som
Nº 59
Novembro/Dezembro de 1980
Publicação Mensal
Esc. 100$00
Número especial de Natal
Música & Som publica-se à 5ª feira, de quinze em quinze dias.
Director: A. Duarte Ramos
Chefe de Redacção: Jaime Fernandes
Propriedade de: Diagrama - Centro de Estatística e Análise de Mercado, Lda.
Colaboradores:
Ana Rocha, Bernardo de Brito e Cunha, Carlos Marinho Falcão, Fernando Peres Rodrigues, Hermínio Duarte-Ramos, João David Nunes, João Gobern, João de Menezes Ferreira, Lobo Pimentel Júnior, Nuno Infante do Carmo, Manuel Cadafaz de Matos, Paulo Norberto, Pedro Ferreira, Pedro Cristina de Freitas, Raul Bernardo, Rui Neves, Trindade Santos.
Correspondentes:
França: José Oliveira
Holanda: Miguel Santos e João Victor Hugo
Inglaterra: Ray Bonici
Tiragem 15 000 exemplares
104 páginas A4
capa de papel brilhante grosso a cores
interior com algumas páginas a cores e outras a p/b mas sempre com papel não brilhante de peso médio.
Crítica de Concertos
Tangerine Dream
Um Concerto Sem Tom Nem Som
À reacção - entre o surpreendido e o conformado - da assistência que, no Pavilhão dos Belenenses, seguiu a actuação dos Tangerine Dream levanta entre outras perguntas, a principal - gostaram, ou não, as pessoas do concerto?
Pelo que me pareceu - e pela minha parte também - nem sim nem não, antes pelo contrário. Como assim? Não sabiam as gentes ao que iam?
Na sua maioria, creio bem que não. O fascínio do hardware, o rock cósmico, os lasers, a ficção musical da ficção científica era o que esperavam. Mas não foi isso que tiveram.
Numa sala que destila punk por tudo quanto é sítio, com um output sonoro muito modesto - em volume e definição - e luzes nada espectaculares, a perfeita encenação dos Tangs para o seu Prelúdio à Música do Futuro falhou rotundamente. Essa frustração não escapou ao ágil público lisboeta, agressivo, primário, mas generoso, sempre pronto a deixar-se maravilhar pela novidade.
Por isso, o show ficou-se pelos ameaços de qualquer coisa que ninguém nunca ouviu. Mas esse espectáculo, cabe perguntar: poderia tê-lo sido?
Tenho algumas dúvidas.
E vamos por partes. Quanto ao público e a sala - nada de grave. Não seriam a audiência ideal. Mas o que é a audiência ideal? Imperdoável, sim, foi o som. A três metros das colunas as sonoridades embrulhavam-se, perdiam definição e recorte. Ficavam uma pasta harmónica, onde as sequências rítmicas enquadravam por vezes melodias de bom traço. A mensagem lá ia chegando aos ouvidos sequiosos da massa humana. Mas a pureza do meio, onde estava ela? A nitidez no desenho das figuras rítmicas e a fidelidade na reprodução dos timbres - tão importantes neste tipo de música - ninguém os percebia.
Aqui, a beleza sonora é um ingrediente essencial. Com meia dúzia de watts e um banho de distorção intermodulacional, para que servem as catedrais electrónicas?
Depois, a pacatez do vídeo não contribuiu para que os clímaxes comparecessem no instante exacto. Bom gosto, sobriedade. Falta de impacto. Frio não quer dizer morno.
E restavam três figuras fantasmagóricas, por detrás de uma cortina negra translúcida, mergulhadas numa penumbra sacudida por relâmpagos. O seu bailado estático tinha algo de insensato para quem aplaudia ou assobiava. Um agitar da perna. Um dar à anca esporádico. Dos três, só Johannes Schmoelling denunciava reflexos orgânicos. E compreende-se. Foi ele quem mexeu mais em teclados. Os outros estavam amarrados aos gestos milimétricos exigidos pelos gigantescos painéis de potenciómetros e relés. Não é possível swingar a rodar botões e deslocar cursores. Toda esta gestualidade é atavismo da prática instrumental que os Tangs irrelevam. Foi preciso o menino Joãozinho descer ao piano a curtir uma de Keith Jarrett para o pessoal sacudir o torpor. (É agora que isto vai aquecer?).
Mas não. Aquilo era mesmo assim. E não era para deitar fora. Mas não dava para levantar voo. Era uma coisinha interessante e inócua. Bem concebida mas mal embalada, perdida num labirinto de equívocos. Sem tom, nem som.
Mas será, por certo, excessivo avaliar o grupo a partir de uma única exibição. Saliente-se, ainda, que um projecto como o dos TD é válido enquanto se mantiver vivo, importante sempre menos pelo que já foi feito, que pelo que vai fazer.
É que, neste tipo de música, as possibilidades são praticamente ilimitadas, embora elas se abram apenas mediante a superação de algumas contradições. A mais importante das quais resulta da lenta aglutinação numa personalidade colectiva das três figuras que, hoje, condensam a criação e produção da música: o compositor, o intérprete e o engenheiro.
O que se passa com os TD é que, por ora, a relação entre estas diversas facetas é conflituosa. Qual é a liberdade do intérprete e quais são os limites da improvisação? De que modo as condições de reprodução (num espaço concreto) afectam o programa preparado? Qual é o efeito retroactivo da resposta do público sobre a actuação? Que tipo de participação suscita esta música na assistência e de que modo pode o grupo integrá-la?
Estas perguntas - problemas simples que qualquer intérprete resolve intuitivamente no palco - não podem ser respondidas por um grupo com as características dos TD senão ao cabo de uma longa e penosa carreira.
Por outro lado, por um ponto de vista estritamente musical, os TD aceitam ainda condicionalismos estruturais especificamente inerentes ao universo da instrumentação clássica e popular, que nada têm a ver com a aparelhagem que manejam e mal conhecem. De momento, as suas composições pouco mais representam que um arsenal de efeitos sonoros com que a música tradicional é ornamentada.
Mas o seu papel - correlativo ao dos músicos que progressivamente vão integrando as novas aparelhagens na música do quotidiano - é da maior importância. São eles quem prepara a (r)evolução do gosto do público e dos seus hábitos de consumo estafados por uma tradição que começa a dar amplos sinais de exaustão.
O que não pode estar em causa num concerto como o dos Belenenses é a apreciação do seu trabalho exclusivamente em termos da música produzida. Mais disco ou menos blues não vem ao caso. É sempre uma proposta concreta, na sua globalidade, que tem de ser avaliada.
O espectáculo falhado nada mais significou que uma experiência frustrante, para os músicos e para o público. Para aprender a esquecer.
Trindade Santos
Entrevista Exclusiva
A Longa Viagem dos Tangerine Dream
M&S - Como se reflectiu na vossa música a evolução do rock?
Edgar Froese - Nós fizemos parte dessa evolução. Em certa medida pode falar-se da nossa própria reflexão nalguma parte do processo de transformação do rock.
Quanto à evolução do grupo - ao contrário do que se costuma dizer - não a sinto como uma revolução. É, sim, um movimento gradual, passo a passo, pelo qual se vai formando e transformando um ideal musical.
Ao levarmos as pessoas a ouvirem, não apenas uma música diferente, mas, sobretudo, de um modo diferente, estamos a contribuir para o aprofundamento das formas de participação individual na criação cultural.
Hoje, pode falar-se de música de dois grandes géneros: uma, a que desperta um reflexo cómodo e descomprometido da parte do consumidor; outra, a que faz com que a audiência se projecte na obra que lhe é proposta, que vá ao seu encontro. E para isso é necessário que se conheça.
O nosso maior ideal é provocar no ouvinte a autodescoberta e um progressivamente maior conhecimento de si.
Chris Franke - Essa exigência decorre, por si, da nossa escolha de um novo tipo de instrumentação. Com ele podemos criar novos padrões, novas texturas, novas atmosferas... Portanto, novos sentimentos na apreciação da experiência musical. É, pois, o indivíduo e, no limite, toda a sociedade que se vêem reflectidas nas nossas propostas de mudança. A tecnologia, a própria capacidade de adaptação do homem ao ambiente pela introdução de novas tecnologias, tudo isso está presente na música que fazemos.
Ironicamente, esse é um dos motivos que nos levam a recusar os textos nas nossas obras. Porque isso seria, de algum modo, fixar a mudança ou convertê-la em directivas precisas.
M&S - Acham, pois, que fazem música para o indivíduo ou para as massas?
EF - Para ambos. Na medida em que é o indivíduo que constitui a massa e das massas se projectam indivíduos...
CF - Naturalmente, falar em música para as massas faz logo pensar em comércio e indústria, porque há uma música logo etiquetada com essa finalidade. Pela nossa parte, começámos por pensar no indivíduo - talvez como extensão de nós próprios - mas temos vindo a sentir, com o crescimento do nosso público, que estamos diante de uma multidão anónima mas diferenciada, constituída por indivíduos conscientes de si, que participam numa aventura cujo fim não se pode conhecer. Nessa longa viagem, tanto o indivíduo como a massa estão na mira da nossa criação.
M&S - Poderiam dar aos nossos leitores um guia da vossa estratégia orquestral? Que aparelhos a integram e como é por eles produzida a vossa música?
EF - Aí está uma diferença - momentânea, talvez - entre a nossa e a música convencional. Porque é fácil perceber como um melhor conhecimento da orquestra pode levar as pessoas a disfrutarem melhor a sua experiência musical. No nosso caso - por muitas razões que é impossível aqui enumerar - essa explicação poderia constituir uma barreira à espontaneidade com que o ouvinte deve poder, com inteira liberdade, (re)construir a mensagem que lhe passamos. Em última análise, explicar o que é inexplicável, ou fornecer informação dificilmente digerível pela generalidade do público, é dificultar a apreensão da música. Faz~e-la mais difícil e pesada que o que, na realidade, é.
CF - Isso seria, até, violentarmos a entrega imediata com que a realizamos. Todo o caminho percorrido, que nos levou a recusarmos a via dos instrumentos convencionais e nos leva a prosseguir e aprofundar esta senda é estritamente intraduzível numa ordem de razões. Pôr aí, para mais, a música e o que estiver por detrás dela é arriscarmo-nos a descrever o iceberg pelo que se pode ver à luz do dia.
As nossas condições de trabalho e os nossos métodos divergem muito dos da generalidade dos músicos convencionais. Há um alto grau de improvisação - face à construção - na música que fazemos. No limite, é uma criação de input directo. O output pesa, sobretudo, nos concertos quando sentimos o calor da assistência procuramos adequar-nos aos seus impulsos e desejos.
M&S - Mas, então, um disco deve ser quase um choque no vosso processo criativo, na medida em que fixa o infixável?
CF - Temos uma consciência aguda dessas circunstâncias. Mas nem por isso podemos trair a nossa aposta. Criatividade-indústria, indivíduo-massa, tradição-progresso. Tudo isso são pólos entre os quais nos movimentamos. Encontrar um equilíbrio, instável que seja, entre essas poderosas forças de atracção, é um dos aspectos mais delicados da nossa tarefa.
EF - Por outro lado, desinteressarmo-nos inteiramente do disco e perder uma valiosa relação com o público seria talvez mais puro, mas diminuiria muito a eficácia da nossa intervenção. Na realidade, o disco, logo que pronto, passa a não nos interessar absolutamente nada. Não é mais do que um fragmento do passado num fluir contínuo em que captar este ou aquele momento - e porquê um ou outro? - não tem qualquer sentido.
Já me aconteceu ter-me esquecido, a ponto de não reconhecer de todo, uma «composição» incluída num disco lançado há três ou quatro anos.
Creio que esta simples diferença documenta bem a diferença entre a nossa maneira de criar e a de um músico convencional, que só se esquece de uma composição sua se não gostar de todo dela.
M&S - Isso implicaria que, por exemplo, uma canção não apenas nunca pudesse acontecer fazerem-na, como, nem sequer teria qualquer significado para vocês?
EF - Não sou tão arrogante que chegue a declará-lo. Há milhões de pessoas para quem uma canção é tudo e o mais que podem perceber do imenso universo da música. Para esses, a nossa viagem conjunta terá de proceder, passo a passo, sei lá por que caminhos...
CF - O que nos interessa é o que flui, o que se plasma nas pessoas e nos locais num determinado instante e depois se vai. Talvez sejamos explicáveis apenas em termos de formas abstractas. E isso pode ter um significado para nós, mas tentar explorá-lo acabaria por cortar-nos do resto das pessoas. Por isso fugimos a explicações. A fantasia - a nossa e a do nosso ouvinte - é um dos aspectos mais preciosos que procuramos preservar.
Porque o ouvinte não pode participar de um modo puramente passivo numa música como a nossa. Ele é, de algum modo, o seu co-criador.
M&S - As «tournées» têm, portanto, grande importância na vossa vida?
EF - A maior. Entre várias razões, porque há muito poucas experiências musicais em disco que consigam interessar-me ao longo de dez anos...
M&S - Por exemplo...
EF - Bach. Que, tal como nós, (salvas as devidas proporções) é um compositor que trabalha com sequências.
M&S - O sucesso tem alguma influência na vossa música?
EF - Se tem! De um modo muito estranho, por exemplo. A partir de um certo momento temos vindo a sentir cada vez mais a presença do ritmo. Aquilo que inicialmente era a atitude de um indivíduo só perante o mundo foi-se deixando tocar pela exterioridade. Haverá aqui uma certa pressão da cena que nos rodeia - embora basicamente continuemos tão sozinhos como sempre - mas vai-se dando uma abertura ao clima que nos envolve. Vamo-nos tornando mais populares e, enfim, é o sucesso...
De resto, prontamente aplicado na compra de mais material que não é barato. E aqui, mais uma vez, é patente a retroacção.
Foi essa atenção ao público que nos levou a esta «tournée» que terminará em Dezembro, algures nos Estados Unidos. E logo a seguir começaremos outra, a partir da Alemanha, daí para Itália, e talvez aos países socialistas, depois música para um filme e um projecto para a TV e, inevitavelmente, um novo disco. A partir de então, já não distingo com clareza.
M&S - Creio que já chega para encher uma agenda. Adeus e felicidades.
Trindade Santos
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição:
. Criação e Comunicação - O Cerco a Vitorino de Almeida - entrevista de Trindade Santos e Pedro Ferreira
. Rick Wakeman - Yes ou Não? - entrevista por Pedro Ferreira
. Os discos esquecidos do ano 80, artigo por João Gobern
. XTC - artigo por Pedro Ferreira
. Plasmatics - artigo de Nuno Infante do Carmo
. Skids - Valquírias sem Hidromel - artigo de Ana Rocha
. Caravan - crítica de concerto por José Oliveira + entrevista por José Oliveira
. Críticas de Discos
.. David Bowie - "Scary Monsters" [RCA - PL - 13647; Distribuição Telectra], Banco de Ensaio por João David Nunes e João de Meneses Ferreira
.. Dexys Midnight Runners - "Looking For The Young Soul Rebels" [11C 076 07319] - Ana Rocha
.. The Police - "Zenyatta Mondatta" [A&M 2PSP 4831] - Jaime Fernandes
.. Anette Peacock - "The Perfect Release" [Aura Records AUL 707 NP] Pedro Cristima de Freitas
. Neil Young - artigo de Bernardo Brito e Cunha
...& Som
- Top-Booster Para Guitarra Eléctrica"
. Vibrato
. Tremolo
. Reverberação
. «Top-Booster»
.. Leitura do Esquema Eléctrico
.. Funcionamento do «Top-Booster»
Jacques Higelin - Uma Arte Policêntrica - artigo de Rui Neves
A Explosão da Música Antiga (I) - O Que É A Música Clássica? - artigo de Trindade Santos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)














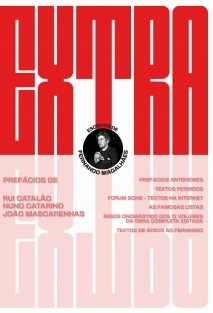


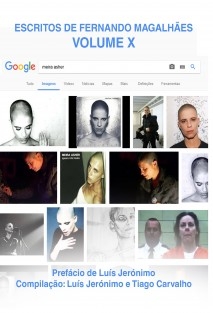


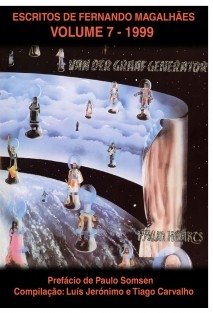







_Bubok.jpg)






















Sem comentários:
Enviar um comentário