Música & Som
Nº 75
Setembro de 1982
Publicação Mensal
Esc. 100$00
Música & Som publica-se à 5ª feira, de quinze em quinze dias.
Director: A. Duarte Ramos
Chefe de Redacção: Jaime Fernandes
Propriedade de: Diagrama - Centro de Estatística e Análise de Mercado, Lsª
Colaboradores:
Ana Rocha, Carlos Marinho Falcão, Célia Pedroso, Fernando Peres Rodrigues, Hermínio Duarte-Ramos, Humberto Boto, João David Nunes, João Freire de Oliveira, João Gobern, João de Menezes Ferreira, José Guerreiro, Miguel Esteves Cardoso, Nuno Infante do Carmo, Manuel Cadafaz de Matos, Pedro Ferreira, Raul Bernardo, Ricardo Camacho, Rui Monteiro,Trindade Santos.
Correspondentes:
França: José Oliveira
Holanda: Miguel Santos e João Victor Hugo
Inglaterra: Ray Bonici
Tiragem 16 000 exemplares
Porte Pago
56 páginas A4
capa de papel brilhante grosso a cores
interior com algumas páginas a cores e outras a p/b mas sempre com papel não brilhante de peso médio.
Entrevista Com Os Durutti Column
por: Ana Rocha
Suaves Revoluções
Bastante antes da sua actuação, já Vini Reilly (guitarrista, teclista e responsável por todos os temas) e Bruce Mitchell (baterista) se passeavam pelos bastidores do palco montado em Vilar de Mouros. Tony Wilson, o patrão da Factory, e o manager da Coluna de Durutti seguiam constantemente Vini, um jovem enfezado e tímido, de pequeninos olhos azuis, enfiado numas colossais pantalonas de ganga, nervoso e pálido. Bruce Mitchell, um quarentão jovial e jocoso, procurava garrafas de vinho nacional à falta de melhor. Só no dia seguinte é que conseguiria arranjar umas ervinhas muito procuradas pelos agentes da Judiciária.
Depois de muita insistência junto do manager de Vini Reilly, conseguimos que ele se sentasse a um canto. Vini não parecia contrariado ou enfadado por ir dar uma entrevista. Mostrava, sobretudo, um certo alheamento relativamente ao que se passava à sua volta.
M&S - Gostava que falasses sobre a parte inicial da tua carreira como músico, antes de Durutti Column.
Vini Reilly - No início eu fiz parte de uma banda que se intitulava The Noise Please. Trabalhei em programas de televisão. Fazia música de filmes. Foi por essa altura que eu conheci o Tony Wilson. Eu já tinha ideia de que a música pop passava por um momento de crise, que a indústria tinha tomado conta dela e que a tinha totalmente destruído. O pop tinha-se tornado num verdadeiro negócio. Não valia a pena ser tocado. E eu comecei a sentir-me tremendamente deprimido. Tive de passar a depender de comprimidos. O médico receitava-me imensos. Eu sofro de falta de apetite e o médico que me acompanhou é de opinião que os comprimidos de LSD estimulam os aminoácidos. Portanto eu tenho autorização de consumir desse tipo de coisas, com receita médica. Entretanto, o Tony viu que a música me podia safar desse estado depressivo e pensou que seria bom eu formar uma nova banda. Depois de muita hesitação, finalmente concordei em reunir um guitarrista, um baixista e um baterista. Começámos a trabalhar e comecei a notar que eles tinham a mania que eram estrelas. Eles insistiam no seu estatuto de estrelas e eu resolvi abandonar o grupo. Escrevi um bilhete ao Tony Wilson a informá-lo desse facto. Mas o Tony veio ter comigo e disse-me que estava interessado em trabalhar comigo e não queria nada com os restantes elementos da banda. Despediu-os e fiquei eu.
M&S - Isso aconteceu por volta de 1979.
Vini Reilly - Pois. Eu já estava a escrever pequenas composições. Mas como o punk e o Malcolm McLaren estavam na berra, o Tony e eu pensámos que seria pouco correcto lançar um álbum de temas muito suaves, com música de piano, tudo muito doce.
M&S - O Malcolm McLaren teve alguma coisa a ver contigo?
V.R. - Ele sempre teve umas ideias muito concretas sobre a situação que se estava a viver no momento. Ele era situacionista.
M&S - E que é que isso teve a ver contigo?
V.R. - Basta dizer-te que escolhi o nome Durutti Column em homenagem a um tipo que era anarquista e que foi abatido por volta de 1920; chamava-se Durutti, claro.
M&S - E isso quer dizer que os Durutti Column são anarquistas?
V.R. - (sorrindo ligeiramente) - Não somos activos...
M&S - Essa medalha que trazes pendurada ao peito o que representa?
V.R. - Deu-ma a minha irmã no dia dos meus anos. É uma moeda antiga. Dum lado tem o signo e do outro tem a efígie do rei.
M&S - Porque motivo andas com a imagem do rei pendurada ao peito? Isso tem a ver com qualquer posição a favor da monarquia?
V.R. - Não quero responder a isso.
M&S - Como é que foi gravado o teu LP?
V.R. Eu não queria pactuar com a indústria discográfica. E ia fazendo os meus temas, distanciado dela. Aliás penso que a indústria discográfica é verdadeiramente patética. Já levava para o estúdio cerca de trinta temas acabados, e em apenas duas sessões, o álbum ficou pronto. O Tony e o Martin Hannett decidiram quais é que eram os temas adequados.
M&S - Tencionas voltar a trabalhar com o Martin Hannett?
V.R. - Não. Quero ser eu a produzir os meus trabalhos. Não quero mais nada com ele em termos de produção. Sou eu o único responsável pelos temas dos Durutti Column. Sou eu que componho, interpreto, toco todos os instrumentos, escrevo as letras...
M&S - E o Bruce Mitchell?
V.R. - Ele faz a parte da percussão e da bateria. No palco só estamos nós os dois. Eu ando dum lado para o outro a tocar os restantes instrumentos.
M&S - Quais são os teus planos para já?
V.R. - Eu estou a escrever música para alguns filmes de televisão. Durante cinco semanas vou-me dedicar a isso e depois vou preparar o meu novo álbum. Vai ser totalmente diferente do que aquilo que tenho feito até agora. Mas os temas continuarão a ser muito pessoais. Vou tentar aventurar-me mais, sendo menos tecnicista.
M&S - Sentes muita necessidade de criar, de escrever música? Isso liberta-te da tua depressão?
V.R. - Eu penso que compor música é a única justificação que eu encontro para continuar a viver. Acho que, a todos nós são dados uns tantos anos para fazer alguma coisa, para viver. E eu tenho que justificar a minha existência. Eu vejo que as pessoas que me rodeiam, a sociedade em que eu vivo nada faz para merecer viver. Eu sinto necessidade de fazer coisas.
M&S - Gostas mais de actuar em Inglaterra ou em países que não sejam de expressão inglesa?
V.R. - Penso que é um desafio maior vir tocar para pessoas que não conhecem a minha música. Em Inglaterra, a imprensa procura dar cabo dos grupos. Passam a vida a aborrecer os músicos. A imprensa cheira mal, tresanda... E esquece-se que, apesar de todas as críticas que ela produz, os discos continuam a vender-se. A indústria discográfica está corrupta. É necessário empreender uma revolução para alterar o estado das coisas.
M&S - E os Durutti Column estão dispostos a estar na vanguarda desse movimento revolucionário, a fazer a revolução?
V.R. - Estamos preparados para o fazer de uma maneira muito suave, muito calma.
M&S - Encontraste uma boa recepção na América?
V.R. - Fiz concertos em Boston, Nova Iorque, Toronto e Montreal e posso afiançar-te que fiquei agradavelmente surpreendido com a boa recepção que por lá tive. Poucas pessoas conheciam a minha música e no entanto reagiram muito bem.
M&S - Preocupa-te o tamanho do recinto onde actues? Preferes actuar em salas pequenas ou grandes?
V.R. - Para mim, não interessa nada o tamanho do recinto onde actuo. Depende das músicas que interpreto. Se vejo que há mais público a encher a grande área, recorro a um material mais excitante. Principalmente se noto que as pessoas estão a impancientar-se...
M&S - Tens alguma preferência relativamente à música que se faz na Grã-Bretanha?
V.R. - Há centenas de grupos que não são comerciais e que fazem boa música. Eu tive a sorte de me encontrar com o Tony Wilson e de poder gravar a minha música. Há muito mais pessoas criadoras que ainda não tiveram essa chance. Ouço os A Certain Ratio, por exemplo... mas não ouço muita música desta que se faz actualmente... Ouço aquele material maçador (That boring stuff) do Tchaikovsky... do Benjamin Britten... Isto que eu estou a dizer pode parecer preconceituoso, mas, na realidade, eu tenho muita dificuldade em concentrar-me e não escuto muito a música que os outros fazem.
M&S - Quando sobes para o palco, sentes-te deprimido?
V.R. - Durante 50 minutos, esqueço o meu estado de espírito, a depressão.
Vini parecia fatigado. Afastámo-nos para tentar encontrar o acompanhante, Bruce Mitchell. Não tardou muito que o mesmo estivesse sentado no mesmo sítio onde, meia-hora antes, tinha estado Vini. Bruce pareceu estar com vontade de falar e de contar histórias. Aqui estão elas.
M&S - Sabemos que tu também tens trabalhado com o grupo Alberto & Los Trios Paranóias. Como é, trabalhar em dois grupos tão diversos?
Bruce Mitchell - São dois estilos completamente opostos. Mas eu, essencialmente, acredito no talento, nas pessoas que o t~em. E tenho estado a trabalhar com o Vini de há um ano para cá.
M&S - Preferes trabalhar inserido nos Durutti Column ou nos Alberto & Los Trios Paranóias?
B.M. - Não sei fazer a escolha, porque são dois estilos completamente opostos. É como estar a trabalhar em dois mundos diferentes. Eu «sou» duas pessoas, mudo de personalidade. Estou sempre a trabalhar em duas esferas opostas.
M&S - Que pensas da vossa vinda a Portugal?
B.M. - Eu já vivi em Portugal há cerca de 12 anos, durante três meses, integrado num grupo, The Flame. vivi em Cascais. Adoro a comida portuguesa. E o vinho!
M&S - Como é trabalhar com o Vini Reilly?
B.M. - Penso que isso constitui um desafio muito grande para mim, dado que o Vini é um grande estilista. Nunca sei qual é a nota que ele vai tocar a seguir. E penso que nem ele próprio sabe o que vai tocar! É perfeitamente imprevisível! É a mesma sensação que eu teria se estivesse com o Ravi Shankar!!! Mas tu já topaste como é o Vini? É um tipo cheio de piada! Reparaste nas calças que ele traz?!!!
M&S - E como era trabalhar com o Alberto & Los Trios Paranóias?
B.M. - Eles são completamente chanfrados! Totalmente! São giríssimos! Já fizemos uns shows para a televisão, em que entrou também o lunático do John Cooper Clark e asseguro-te que os espectáculos foram bizarrissímos!
M&S - O Alberto já morreu há uma data de tempo, não é?
B.M. - Há cerca de três anos. Morreu com um cancro. Ele sabia que ia morrer e nas últimas semanas de vida foi visitado no seu quarto do hospital por uma data de celebridades... O Elvis Costello... o Ian Dury... muita malta da Stiff... E quando foi o enterro?!!! Então aí é que foi o fim da picada! Foi enterrado nos montes dos Peninos. O cemitério ficava no topo do monte e tivemos de transportar o Ian Dury até lá acima numa padiola! Estava um frio danado! Nevava! E agora vamos lá todos os anos dançar sobre a tumba! Nunca me diverti tanto num funeral!! Estavam montes de pessoas conhecidas! E o Alberto, como não gramava o padre e já esperava um discurso fúnebre viciado, resolveu fazer um elogio fúnebre e um comentário que depois entregou ao padre, exortando-o a lê-lo durante as cerimónias do enterro. E esse discurso fazia críticas à malta que estava presente, dava agradecimentos e cumprimentos a outros... enfim... aquilo foi um verdadeiro pandemónio! E quando ele estava no hospital, o Ian Dury foi lá para lhe cortar o cabelo! Ai, aquele Alberto!...
Já estava quase na hora da actuação. Bruce Mitchell revelou ser o oposto de Vini Reilly. Mais comunicativo, mais brincalhão, sempre com piadas na ponta da língua, com histórias mirabolantes resultado de uma longa carreira no interior do show-business, muitos contactos com vários grupos, muitos anos como baterista. Ao longo do espectáculo, era o contraponto do sisudo e alheado Vini Reilly, sempre com o sorriso nos lábios. Eis uma das facetas dos Durutti Column, uma banda verdadeiramente genial, com um mentor jovem como Vini a brindar-nos com as suas efusões musicais.
Vilar De Mouros 82:
Estranhas coisas.
Estranhos lugares.
Estranhas gentes!
Do nosso enviado especial Carlos Marinho Falcão
Fotos: Luís Ramos
«Loucura! Loucura! Loucura controlada... sem medicamentos... sem camisas de força! Loucura controlada pela vossa inteligência e pelo amor! Adeus, adeus... obrigado, obrigado!...»
Com estas palavras épicas, sem dúvida, se declarou averto o festival de Vilar de Mouros de 82, pela voz do dr. Barge, essa mistura deliciosa de português à moda antiga e de louco sem idade. Eram cerca de 22.30 e o público começava a impancientar-se...
Entre coelhos e estranguladores
Um riozinho mimoso, uma meiguice bucólica, uma paisagem campestre subitamente invadida por uma estranha romaria. Bonito e curioso, um painel cheio de contrastes - porreirinho. Sobre o palco, finalmente, Echo & The Bunnymen, a bandazinha deliciosamente atormentada de Ian McCullogh e, presentemente, uma das minhas favoritas. Não desiludiram, os Bunnymen. Capazes de transpor para o palco todo o ambiente impetuoso e lírico dos seus trabalhos em disco, eles foram justamente os primeiros heróis do festival e, como a seguir veremos, talvez os únicos da noite.
Vital e expressiva, caudalosa e explosiva, a música dos Bunnymen em Vilar de Mouros foi capaz de criar toda uma ambiência sonora, cardíaca e impetuosa, arrebatadora e empolgante, conducente directamente ao coração da festa, ao centro da paixão, à sístole e à diástole do corpo em estreita comunhão com a terra e o céu. Concentrado e conciso, tímido e neurótico, Ian McCullogh foi o mestre de cerimónias. Por vezes, o charme demasiado vivo, embora fugaz - quase sempre a melancolia. Belo e sedutor. Não faço ideia que tragédias perseguem McCullogh para este se embrenhar daquela maneira nos seus indecifráveis tormentos interiores, mas é o espectáculo que aqui importa e, como espectáculo, é indubitável que a coisa resulta. Com uma fluidez onírica feroz, caóticos e introvertidos, quase todos os temas de «Crocodiles» e «Heaven Up Here» desfilaram perante um público dividido e impaciente, já com um olho posto nos Stranglers, tidos a priori como as grandes estrelas da noite. Puro engano. E, sobretudo, uma atitude injusta para com a banda de McCullogh, que, em Vilar de Mouros, demonstrou ser, na verdade, uma das mais interessantes do rock actual.
Recebidos com pompa e circunstância de superstars, os Stranglers acabaram por ser a grande desilusão da noite. Para eles, de facto, a hora da retirada estratégica parece ter soado. Os lançadores de anátemas, sem dúvida arrefecidos pelos incidentes numerosos com a Polícia ao longo da sua carreira, acalmaram-se. Pelo menos na aparência. Terminada parece estar a época dos concertos/happening, da algazarra tempestuosa. Agora, as palavras-chaves são o rigor, a frieza, a distância. Estranguladores estrangulados pela perfeição formal. Nada de notas deslocadas, uma presença minimal, relâmpagos sóbrios e fugazes de quatro personagens que se apagam humildemente (?) por detrás da sua música. Uma sensação de ausência. Demasiado aplicados na recriação perfeita do som dos sues últimos discos, os Stranglers tornaram-se glaciais, límpidos e indiferentes como a virtude. Negligenciando todo o sentido de dinâmica, em Vilar de Mouros os temas seguiram-se uns atrás dos outros todos semelhantes, sem qualquer subida ou descida de tensão, como que apontados a um alvo (qual?) como a flecha de um arqueiro zen. Autores festejados de uma música feia, o belo-horrível por excelência, em Vilar de Mouros eles não passaram de uma desilusão. No fim, a sensação amarga de nada se ter passado. Nada. A não ser que se trate de uma nova maneira de provocar. Mais subtil...
A Importância de Ser Zé Pereira
Por mais herética que passa ser esta afirmação, não me parece ter sido Vilar de Mouros o lugar ideal para um concerto clássico - pelo menos para aquele concerto clássico. No fundo, sob a capa de uma convivência entre tradições musicais e públicos diferentes reunidos num espaço comum, o que se passou, em parte, foi a simples transposição da ambiência geral de uma sala de concertos tradicional para o campo, para o ar livre.
Neste sentido, se não deixou de ser interessante apreciar o contraste cómico entre a casaca de Vitorino de Almeida e as fatiotas sem dúvida peculiares dos Claudius Qualquerius do rock, forçados ali, um pouco contra-natura, a curtir uma de clássica; se não foi menos interessante notar como essa mesma casaca contrastava com a poeirada que se erguia no ar e nos impestava a todos de alto a baixo, o certo é que, se não fossem os Zés Pereiras, os seus tambores, o seu ritmo, a sua exuberância contagiante, tão próxima do rock, afinal, talvez nos tivéssemos todos limitado a caricaturar o S. Carlos, o S. Luís ou a Gulbenkian, numa paródia burlesca a uma verdadeira convivência entre géneros e tradições musicais diversas, obviamente desejável. E depois, aquela sinfonia (des)concertante!...
A terminar, uma referência muito especial a uma curiosa intervenção de Jorge Lima Barreto (incansável no seu linguajar típico, ao longo de todo o festival...) ao microfone: «Isto que está a acontecer é importante, porque prova que o público não está aqui só para o rock, tem sensibilidade...» Querendo apesar de tudo acreditar não ser isto, exactamente, que ele queria dizer, não deixou de ter piada o dichote. Pela parte que lhe cabe, o rock agradece. Mais que não seja, por uma questão de sensibilidade...
Os Anti-Heróis
Suponho que com o objectivo - muito válido, certamente - de divulgar a cultura do Minho e a sua música, se incluiu no programa a desfolhada à minhota. Só que, efectivamente, aquilo não resultou. Não resultou, porque não podia resultar num palco daqueles, com aquelas luzes, naquele ambiente muito mais virado para outro tipo de acontecimentos. Não quero com isto dizer, atenção, que não fossem de incluir no programa diversas actividades directamente relacionadas com a cultura da região. Pelo contrário, seria até desejável que esse aspecto fosse incrementado já no próximo festival (se houver...), em 84. Mas, definitivamente, não àquela hora, com o público muito mais motivado para outro tipo de música! E, sobretudo, nunca durante duas horas! Desfolhadas à minhota, grupos folclóricos? Por que não durante o dia, como forma de preencher o tempo que, desta vez, as pessoas passaram sem qualquer tipo de ocupação? O mesmo, aliás, se poderá dizer acerca da música clássica. Mas não sinfónica, por favor! Amplificada, medonha - naquele lugar impróprio...
Uma vez desfolhada a espiga, vieram os The Gist - uma banda originada a partir dos defuntos Young Marble Giants. Os anti-heróis, por excelência. A fusão inteligente, ingénua e original do músico com a electrónica, aqui claramente posta ao serviço do homem e não o contrário. Uma experiência curiosa, uma música estranha e bela na sua ornamentação frágil e em metamorfose constante, The Gist foram em Vilar de Mouros a recusa do supérfluo, a provocação atrevida. Sublimes no seu delicioso «crew cut», rapazitos malandros fascinados pela electrónica e procurando tirar dela o melhor partido, eles foram, sobretudo, o escândalo de Vilar de Mouros, diante de um público que nunca conseguiu digerir muito bem aquele gravador «pespegado» mesmo à sua frente, bem no centro do palco. A sua música: um complexo rendilhado elaborado a partir de esquemas rítmicos muito simples, melodias banais a fazer lembrar os bailes de sábado À noite num qualquer clube de bairro, apontamentos melódicos breves, subtis e entrecruzados, acumulados em redor de um tema base. Nada daquilo tem o aparato megalítico do rock, de um certo rock. Ausentes de espectacularidade. The Gist terão sido a primeira grande surpresa de Vilar de Mouros. Apesar da discordância do público...
Você Também?
Pondo de lado a inútil e despropositada tirada antifascista de Vitorino de Almeida (outro incansável do linguajar fácil em Vilar de Mouros), a noite de terça-feira começou com a actuação banal da Orquestra (!?) Mikis Theodorakis. Entoando umas melopeias ditas de intervenção, melodias de sempre para antifascistas, a referida Orquestra (!?) sumiu-se da mesma forma como apareceu - ninguém deu por isso.
Após a actuação relâmpago de Carlos do Carmo, que afirmou estar em Vilar de Mouros com propósitos inteiramente pacíficos (numa brilhante tirada que comoveu toda a assistência), os Jafu'mega foram a primeira banda portuguesa a subir ao palco, dada a ausência dos Heróis do Mar no primeiro dia. Baseando a sua actuação essencialmente em temas do seu segundo álbum, os Jafu'mega revelaram-se aquilo que realmente são: uma banda dotada de músicos de boa craveira (com especial realce para o guitarrista Mário Barreiros - estupendo! - e para Zé Nogueira, no sax), fazendo uma música cuidada, uns quantos furos acima do que é comum nas chamadas bandas de «rock português». Criando um som aqui e ali a fazer lembrar os Police (talvez devido ao timbre vocal de Luís Portugal), no final a banda foi fortemente aplaudida, culminando-se assim uma actuação de mérito, um espectáculo dignificante.
Finalmente, a coqueluche da noite, o primeiro momento verdadeiramente alto do festival. No palco, U-2, uma banda cujo primeiro trabalho - «Boy» - se encontra editado em Portugal, embora esgotado.
Pretendem as más línguas que os irlandeses dos U-2, não são os novos Boomtown Rats, mas antes os novos Taste (lembram-se de Rory Gallagher?). Bono (o cantor) não será, talvez, o monstro do palco que ele sempre sonhou ser. The Edge (guitarrista) não é ainda Tom Verlaine, mas, não obstante, os U-2 trazem consigo o expressionismo, a potência inquieta e o lirismo negro capazes de dar um nome decente ao heavy-metal. Isso mesmo, ao heavy-metal.
Porque os U-2 são um caso único. O que é que eles tocam afinal? Qual o género em que se enquadram? Nenhum. Em todo o caso, não é nem novo nem moderno. Vestem-se como se estivessem em casa e tocam os seus instrumentos como se o mundo deixasse de existir à volta deles. Um grupo sem imagem, «Gloria», «Rejoice», «Fire» - três avalanches sonoras condensadas e envolvidas num lirismo elementar. Rod Stewart cantava assim, quando não era ainda o borregão ridículo que hoje é. Obcecada pelo público, a banda rapidamente se torna imbatível no palco: uma voz que fere e emociona, guitarras que inundam, um ritmo diabólico que vibra até à saturação. Optimistas e emocionantes, os temas vão-se sucedendo, entrecruzados de intenções por vezes ingénuas de delicadeza e meiguice. Guiando-se exclusivamente pelo instinto, é como que a um público virgem de toda a cultura rock que a banda se dirige em primeiro lugar. Um público autêntico, capaz de reagir também por instinto, por intuição. Lá, onde outros grupos se apoiam nos truques mais corriqueiros para impressionar e cativar o público, os U-2 surgem-nos armados apenas de uma honestidade humilde, desmunida, ingénua, mas cem por cento eficaz. O som: maciço, épico, cheio de souplesse e energia. Há nesta banda o mesmo deslumbramento do circo. Pequenos grandes truques como «ladies and gentlemen and now, the great!... Bono». E Bono, levado pela densidade empolgante de todo aquele ritmo explosivo, erguido no ar pela guitarra dilacerante e enorme de The Edge, vai aos poucos, através do seu lirismo instintivo, subjugando a multidão - sem se dar por isso, com uma dignidade natural, diluindo-se progressivamente no fluxo sonoro, por vezes para o exaltar, outras, em contraponto, para o «apaziguar», através de uma inflexão violentamente interior. Em suma, foi este vaivém instável, este desequilíbrio eléctrico e pungente que fez da música dos U-2 em Vilar de Mouros uma das mais combativas, persuasivas e atraentes apresentadas ao longo do festival. Uma música unidimensional, sem dúvida, mas, sobretudo, visceral.
Johnny Copeland veio a seguir. O blues do Texas. Apesar do êxito retumbante dos U-2 pouco tempo antes, não foi difícil a este bluesman soberbo agarrar o público, chamá-lo a si. O blues. Sempre o bom velho som cadenciado, aqui e ali a resvalar para o rythm'n'blues, um piano discreto mas tão rigoroso como eficaz nas suas intervenções breves e incisivas, uma guitarra tocada com a alma, uma voz quente, audível até ao pormenor. O blues de Johnny Copeland pode ser escutado como um longo apelo arrancado à alegria e à tristeza, à dor e à melancolia, qualquer coisa langorosamente sensual apontada directamente ao centro da paixão. O homem tem estilo, uma dignidade negra muito especial, cheia de humor e savoir-faire. Enfim, Johnny Copeland: a continuação desejada para o caminho anteriormente aberto pelos U-2. Musicalmente, Vilar de Mouros vibrava verdadeiramente pela primeira vez. Felizmente não seria a última...
Jazz, Jazz, Jazz...
Finalmente, o jazz. Após a ausência forçada e um tanto inesperada dos Old & New Dreams, que, dois dias antes, deixara muita gente desiludida, chegara o momento de destemperar as orelhaças com outras sonoridades, outras estéticas.
O quarteto de Saheb Sarbib foi o primeiro. Com Paul Motian (bateria), Joe Ford (sax soprano) e Booker T (sax tenor), além do próprio Saheb Sarbib no contrabaixo, estes quatro músicos encheram o recinto com uma música rigorosa, um trabalho interessante e homogéneo, com alguns momentos de rara beleza e emoção. Sarbib e Motian: o diálogo perfeito, a malha complexa e subtil sobre a qual os dois saxofones iam construindo quer em dueto, quer a solo, pequenas e (por vezes) maravilhosas viagens melódicas, gemidos orgásmicos gritados cá de dentro (Booker T, principalmente, com apontamentos notáveis nos agudos), ou, pelo contrário, doces melodias coloridas e rendilhadas, tristes e melancólicas, desenhadas com a mestria ímpar de 4 músicos acima de qualquer suspeita. No todo, um jazz muito certinho, sim, mas mais pela qualidade de cada um dos músicos individualmente considerados, do que, propriamente, pelo rasgo inovador, o tom de ruptura, o toque impetuoso da música interpretada pelo grupo. Em suma, quatro músicos de craveira técnica muito acima da média e uma música escorreita, rigorosa, feita sem grandes alardes, mas, ainda assim, recheada de pequenas pe´rolas, momento privilegiados, instantes compensadores. Uma abertura boa quanto baste, enfim, para a noite de quarta-feira...
Rão Kyao foi, sobretudo, uma vítima das circunstâncias. Abstraindo-nos agora de quaisquer problemas havidos com a organização, sucedeu ter sido no momento da sua actuação que ocorreram os incidentes junto da paliçada, com o consequente desvio da atenção de grande parte do público para outro tipo de acontecimentos protagonizados pela GNR e por algumas dezenas de indivíduos que tentavam - e conseguiram - entrar sem pagar, derrubando a paliçada. Talvez por essa razão e também pelo tipo de música tocada, a actuação de Rão Kyao's Goa foi, no seu todo, bastante apagada. Faltou atenção e disponibilidade por parte do público; faltou a Rão Kyao capacidade para (re)conquistar esse mesmo público. Talvez o tipo de música escolhida para o concerto não fosse o mais indicado para aquela ocasião - em que se pediria, talvez, qualquer coisa mais «Swingante», mais festiva. É uma hipótese...
A actuação da Anar Band acabou por não ser mais feliz do que a de Rão Kyao, embora por motivos diferentes. Pomposamente fantasiada com o epíteto de «música de vanguarda», espalhafatosa na sua apresentação, aparatosa na sua redundância, no final, apenas a sensação vaga de nada ter sucedido. Tal como com os Stranglers, a sensação de vazio, de inutilidade, de uma vanguarda vã e fútil submersa e perdida nos meandros da sua auto-indulgência. Como contrapartida positiva, dois aspectos: os diaporamas projectados pelo grupo Neon - sensacionais, sem dúvida! - e a soberba actuação de Vítor Rua, no baixo, fazendo-nos amiúde esquecer o papel essencialmente rítmico normalmente desempenhado por este instrumento. Um acabou por ser só por si o motivo porque a Anar Band não teve um débito de fracasso ainda maior em Vilar de Mouros.
Por fim, e a culminar uma noite apesar de tudo positiva em termos musicais, um dos momentos mais ansiosamente esperados de todo o festival: a actuação da Sun Ra Arkestra.
A primeira conclusão a tirar é: não é possível rotular esta música, porque ela, simplesmente, foge a qualquer tipo de etiqueta. De Ellington a Count Basie, passando, sobretudo, pelo free: tambores africanos e o sax epiléptico de John Gillmore; bailado de influências ocidentais (um pouco desenquadrado de toda aquela euforia negra) e um dançarino capaz de recriar em cada movimento todo o mistério do sentir africano; por fim, a culminar, uma maestro fabulosamente negro (Sun Ra), um Gungunhana do palco, um músico que, não obstante a obesidade, acaba por ser ainda mais escorregadio que uma enguia. Eis a Sun Ra Arkestra: um espectáculo musical e uma cerimónia litúrgica. Uma forma fabulosa de entretenimento e um jazz que, englobando os mais diversos estilos, acaba por ser em si mesmo um estilo. Único. Cíclico. Fechado em si e, simultaneamente, aberto a todas as influências, não simplesmente para as reproduzir, mas, muito pelo contrário, para as recriar e incorporar no todo único e autónomo que é a Sun Ra Arkestra - um ritual pagão transposto para o palco (o altar), em que o público, mais do que nunca, é assumido como um instrumento activo do que se está a passar em palco. Uma música panteísta, uma maestro tirânico, uma enxurrada deliciosamente caótica de música tribal, de simples, primordial e excitante música tribal, o concerto da Arkestra foi a chave de ouro com que se encerrou Vilar de Mouros em termos de jazz.
A Beleza Do Silêncio
Após os episódios pitorescos de quinta-feira (invasão pacífica do palco por alguns elementos do público), que puseram mais uma vez em destaque a fragilidade da segurança (chamar àquilo segurança é já um eufemismo), sexta-feira chegou e com ela a promessa de mais rock, afinal o prato forte deste Festival de Vilar de Mouros 82.
Contratados à última hora por razões obscuras, os Renaissance vieram a Vilar de Mouros demonstrar que, apesar de fora de moda, o chamado rock sinfónico ainda reúne muitos adeptos em Portugal. Fazendo uma música que integra elementos clássicos com algumas influências folk, possuidores de um som personalizado e forte todo ele construído em volta de Jon Camp (baixo) e da voz magnífica de Annie Haslam, os Renaissance podem, na verdade, não ter deslumbrado, mas certo é que também não desiludiram. Com uma actuação bastante fria a princípio, é verdade que só no encore cedido a banda mostrou mais algum entusiasmo, alguma entrega. No baixo, Jon Camp demonstrou o seu virtuosismo espectacular, assumindo-se como o elemento impulsionador de todo o som da banda. Em suma, uma actuação apesar de tudo discreta, uma música hesitante entre a espectacularidade sumptuosa e fácil e um ou outro momento mais interessante, no fundo, fica apenas a questão: para quê trazer esta banda a Vilar de Mouros? Desnecessário e incoerente, se se tiver em conta a importância e, sobretudo, a actualidade das restantes bandas de rock trazidas ao festival.
Com o Durutti Column atingiu-se mais um momento privilegiado em Vilar de Mouros. Uma bateria e uma guitarra. De vez em quando um piano eléctrico. O uso e abuso consciente do eco, como forma de definir um estilo, uma música. O eco. Luminoso e ondulante, marítimo e interior, a utilização exacerbada do eco assume nos Durutti Column um papel fundamental. A música do tempo interior. Apaziguante e bela. Comovente e frágil - a fragilidade dos titãs. Sendo, como se disse, uma música interior, um som que, pura e simplesmente, prescinde rigorosamente de qualquer ideia de espaço, a música dos Durutti Column serve-se do eco como forma de reforçar a permanência do tempo. Neste sentido, elogio da memória por excelência, subtil e bela como só o silêncio, um longo riacho límpido e cristalino correndo serenamente em direcção ao fundo de nós, sente-se (fisicamente) esta música como uma ferida que nunca deixou, afinal, de sangrar, embora por vezes possa parecer o contrário... Memória e silêncio, jardins, flores e infância, com os Durutti Column a viagem faz-se, sim, mas para dentro. Em direcção ao tempo perdido.
O Rodopio Saboroso Do Caos
No sábado, penúltimo dia do Festival, e antecedendo o último grande momento deste Vilar de Mouros 82, tivemos em versão reduzida uma actuação (a última?) dos GNR. No fundo, uma Anar Band revisitada e (felizmente) melhorada - talvez pela presença e pela força cénica e interpretativa de Rui Reininho; talvez pela ausência (no palco) de Jorge Lima Barreto. Enfim, tocando apenas três temas, um realce muito especial para a interpretação (corajosa) de «Avarias», com um final (improvisado pelo Rui) verdadeiramente empolgante pelo seu apropósito.
Por fim, os Rip Rip and Panic...
Um baterista epiléptico, um baixo black funky com visual rasta, eis a base de sustentação rítmica sobre a qual se iria fundar cada um dos temas. Um ritmo completamente infernal, cataratas do Niagara a domicílio, servindo de ponto de partida para o delírio de cada um. Cada um: uma cantora negra, que dança como deve dançar alguém que foi educado nos altos cumes do Quénia, passando depois 5 anos numa art-school de New York - numa palavra, um truque autêntico, coreográfico, improvisado e sensual simplesmente fabuloso. Por vezes, ela canta e então é fantástica, uma voz que grita, improvisa e se transcende, a meio caminho entre o encantatório e o sublime. A seu lado, um companheiro branco em calções, tão caótico ou ainda mais que ela. Tudo isto se passa na parte da frente do palco. Atrás, há um pianista a resvalar para o free de vez em quando; um tipo a tocar trompete e outro a tocar sax e ainda o maluco branco que canta e dança, por vezes toca piano, outras clarinete, após o que vem para diante do público fazer caretas, deitar a língua de fora, incitá-lo. E tudo isto na coisa mais louca e impensável jamais vista. Servindo de pano de fundo, uma música por vezes funky, apelando irresistivelmente à dança, outras vezes free - a improvisação total, o gosto saboroso do caos. Enfim, Rip Rig and Panic: tudo aquilo que os Talking Heads da fase «Remain in Light» nunca conseguiram fazer e que, afinal, aparece aqui incrivelmente simples e louco e sedutor. Uma banda digna do seu nome...
E com os Rip Rig and Panic estava, praticamente, o Festival terminado. De facto, nem a Tom Robinson Band (chamada à última hora para substituir os Hawkwind, impedidos de vir por um dos seus elementos se ter ferido numa mão), nem A Certain Ratio, conseguiram conduzir o concerto em crescendo até ao seu final.
Tom Robinson pode ser simpático, pode ser um mestre em fazer músicas catitas para pôr toda a gente a cantar, mas está longe, muito longe, de ser qualquer coisa mais do que isso (o que já não é pouco, podem dizer-me...);
quanto aos A Certain Ratio, após tê-los visto, parece-me fazerem uma música demasiado pretensiosa, tendo em conta os resultados obtidos - que, convenhamos, foram bastante exíguos. Ideia final: um excelente baterista e um bando de rapazinhos à sua volta, todos muito senhores do seu nariz, experimentando tudo quanto é instrumento diante de um público estranhamente receptivo. Como conclusão, pelo que me foi dado a ver, sobre esta banda terminarei dizendo o seguinte: faz coisas curiosas em disco (algumas delas interessantes mesmo); ao vivo, dificilmente me tornarão a ver num concerto seu. Em Vilar de Mouros não me pareceu valer a pena...
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição:
. "Conversa" com Gareth Sager (Rip Rig & Panic), entrevista por Ana Rocha
. Pop Musik - artigo de fundo por Célia Pedroso
. Discos em Análise:
.. Roxy Music - «Avalon» [Polydor 2311 154] por Carlos Marinho Falcão
.. Jethro Tull - «Broadsword and the Beast» [Crysalis, 6399343], por Carlos Marinho Falcão
.. Opinião Pública - «No Sul da Europa» [Rossil Doze/998], por Carlos Marinho Falcão
.. Pigbag - «Dr. Heckle and Mr. Jive» [Y Records - CM LP-003], por Trindade Santos
.. Gang of Four - «Songs of the Free» [EMI 11C 078 64792], por Ana Rocha
.. Né Ladeiras - «Alhur» [EMI 11C 052 40594], por Carlos Marinho Falcão
. Marc Bolan «...Como Um Meteoro», artigo de José Ângelo Guerreiro























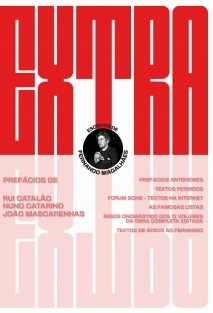


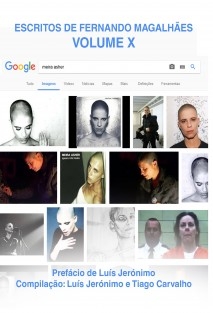


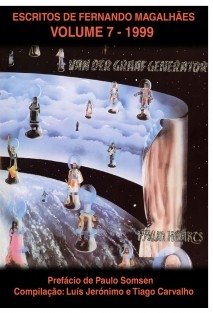







_Bubok.jpg)






















Sem comentários:
Enviar um comentário