Underworld - Entulho Informativo
Nº 13
Distribuição Gratuita
32 páginas, mix cores p/b, papel brilhante fino
Tiragem: 9000 exemplares
Editor: Joaquim Pedro
Editor Adjunto: Ricardo Amorim
Colaboradores: Luís Oliveira, Sérgio Bastos, Francisco Dias, Marte, Lurker, António Calisto, Ricardo Martins, Carlos Santos, Carina Martins
Entrevista
Mão Morta
Sentados n'A Brasileira em dia solarengo, mesmo ao lado de Fernando Pessoa, estivemos à conversa com Adolfo Luxúria Canibal. Tendo como ponto de partida o novo disco, "Nus", houve ainda tempo para dar duas de prosa sobre outros assuntos.
A Olho Nu.
- Comemoram este ano duas décadas de carreira e surgem com um disco novo, a dar prova de vitalidade. Não alinharam em compilações best of...
. Também já fizemos o nosso best of, se é que se pode chamar isso. Quando fizemos 10 anos editámos o "Mão Morta Revisitada", que não era um best of mas, no fundo, até era. Foi um voltar aos velhos temas, regravá-los, reinterpretá-los, etc. A ideia de um best of pura - recortar temas dos discos já saídos, juntá-los e fazer um disco novo - isso a nós não nos diz nada. Até porque há muitos temas nos discos de Mão Morta que, recortá-los - e estou a pensar no "Müller" e sobretudo no "Latrina" - seria estragar a obra. E não faria sentido nenhum fazer um best of sem passar em álbuns fundamentais como esses. Nós tínhamos um disco que gostaríamos que tivesse saído no ano passado mas que acabou, por diversos motivos, por sair só este ano. Mas que achamos que por aquilo que tem lá dentro, por aquilo que tem de novo e pelo novo passo que representa na discografia dos Mão Morta, é um bom disco para comemorar os 20 anos. A melhor maneira, mesmo, de comemorar os 20 anos é apresentar este álbum.
- Fala-nos um pouco deste álbum.
. O título é "Nus" e é um disco que foi feito a partir d'O Uivo, de Ginsberg, que tem aquela primeira frase hiperconhecida: "Vi os melhores espíritos da minha geração destruídos pela loucura, esfomeados, histéricos, nus". O título do disco vem deste "nus". Não é um disco sobre o Uivo, é um disco cuja base de partida, cujo ponto de disparo foi esse poema - e que é, de ceto modo, uma espécie de retrato geracional daquela que ficou conhecida como a beat generation: a geração do Ginsberg, do Burroughs, do Kerouac, etc. Ao mesmo tempo é um poema cuja construção é muito suis generis, feita por camadas, por sobreposição. E foi um bocado nestas duas ideias que nós pegámos para a construção do disco. Não é uma narrativa - tem mais a ver com o retrato do que propriamente uma história. É um retrato da nossa geração bracarense do início dos anos 80, de onde Mão Morta emanou, e que neste momento vê um declínio. Algumas dessas pessoas começam a morrer, a desaparecer - e este disco é um bocado o nosso adeus a essas pessoas, que nos dizem muito e que desapareceram do nosso convívio.
- Com o Ginsberg, voltaram à beat generation. Já o tinham feito com o Burroughs em "Humano"...
. Sim, usámos uma samplagem da voz do Burroughs.
- O tema "Velocidade Escaldante" não tem também alguma inspiração em Burroughs e no "Naked Lunch" em particular?
. Não. Os ambientes podem ser próximos mas o "Velocidade Escaldante" tem muito mais a ver com a realidade vivida do que propriamente com referências literárias. Mas vejo perfeitamente porque fazes essa ligação...
- Mas os escritores da beat generation são uma influência para Mão Morta a nível lírico ou trataram-se apenas de casos pontuais?
. As influências de Mão Morta são essencialmente literárias. E alguns dos escritores da beat generation dizem-nos muito, de modo que é normal que o nosso universo também esteja imbuído dessa escrita e da própria vivência dessa geração - que tem ligações com a própria vivência da geração em que nos inserimos. A única grande referência americana que temos em termos literários é mesmo a beat generation. As anteriores, as que tiveram influência na beat generation, dizem-nos muito menos e as gerações posteriores também.
- Em termos musicais, como se desenrola o processo criativo em Mão Morta? Tu estás em Paris, há membros em Lisboa, em Braga...
. O processo criativo sempre foi parecido, independentemente do local onde estejamos. Sempre estivemos distantes geograficamente. Há compositores que são creditados no disco e que trabalham a partir da ideia base. Para nós são importantes as ideias, os pontos de partida, que é para dar um enquadramento a cada um, que está no seu canto. Costuma haver essa discussão e depois vai cada um trabalhar para seu lado. Neste caso, encontra-se uma ideia base...
- JP: Musical ou lírica?
. Conceito, sentido... uma ideia mais abstracta, mais filosófica do que propriamente musical ou lírica. A partir desse ponto abstracto começa a trabalhar-se nesse sentido, tanto lírica como musicalmente. A ideia em si, a ideia de onde se parte não é musical nem lírica, é uma ideia filosófica, política ou uma coisa abstracta. No caso deste disco a ideia era trabalhar a partir d'O Uivo, da mesma forma como ele é construído - a tal sobreposição -, e de trabalhar nesta ideia de retrato geracional. Eu trabalho em termos de letras e o Miguel Pedro e o Rafael, que são compositores, trabalham em termos de músicas. Neste disco o Sapo estreou-se como compositor, o Vasco também continuou a apresentar a sua colaboração e trabalhou em termos de músicas. A única pessoa que não fez nada em termos de composição foi a Joana, mas há-de chegar o seu tempo. Depois das coisas estarem minimamente alinhavadas, então encontramo-nos, vemos onde é que as coisas casam - as ideias que eu tive para as músicas deles, as ideias que eles tiveram para as minhas letras -, fazemos alterações, separamo-nos novamente e cada um vai trabalhar com as suas coisas em função do que resultou desse encontro. Voltamo-nos a encontrar, vemos os avanços, os recuos... e as coisas vão-se construindo assim.
JP: - E a gravação? Vocês têm um estúdio vosso? Vão construindo as coisas por camadas, depois tu apareces, mais uma coisa gravada...
. A partir do momento que nós temos as músicas estamos aptos a tocá-las e tocamos na sala de ensaios. Entramos em estúdio como qualquer outro grupo. Poderá haver ainda arranjos feitos em estúdio, pequenos pormenores e tal, mas o tema está construído e grava-se como normalmente. Neste caso gravámos bateria, baixo e voz e depois acrescentámos as guitarras, os teclados e os arranjos posteriores. Basicamente, há duas formas de gravar: ou é tudo junto, como num concerto em "live-take", ou é tudo em separado. E quando se grava tudo em separado, começa-se pela base rítmica - bateria e baixo -, depois metem-se as guitarras e os teclados e a voz fica quase sempre para o fim. A única coisa que fizemos de relativamente diferente destes métodos tradicionais foi metermos as vozes antes das guitarras - não em todos os temas, mas quase.
JP: - Então está desmistificado: Mão Morta não é uma banda que compõe em estúdio.
. Já fizemos esse tipo de trabalho, ou seja, chegar a estúdio sem nada e trabalhar os temas em estúdio. Foi assim que fizemos o "Corações Felpudos" e a maior parte do "Vénus em Chamas" também. Mas normalmente trabalhamos já com uma base, uma estrutura feita em casa e só depois, quando entramos em estúdio, é que terminamos os temas com os arranjos e os acabamentos. O formato definitivo é sempre feito em estúdio.
- Em 2002 iniciaram uma tournée nacional com uma ideia pré-definida. Fala-nos um pouco do objectivo da Carícias Malícias Tour.
. A intenção foi um bocado dupla. Foi e é, porque as coisas não mudaram substancialmente. Por um lado, havia uma necessidade nossa de... sentíamo-nos quase relegados (se é que se pode aplicar o termo neste caso) aos grandes palcos, aos grandes concertos. O grupo está lá em cima, as luzes funcionam todas, grandes produções, etc.... Desde há uns anos que só fazíamos grandes produções. E a ideia surgiu depois de termos ido tocar a Espanha em pequenos clubes, palcos em que mal nos podíamos mexer, em que estávamos em cima do público. De repente, deu-nos uma nostalgia enorme deste contacto físico, de ver o branco nos olhos das pessoas... Porque é que não podemos fazer isto em Portugal!? Podemos! Simultaneamente, chegou uma espécie de crise! Chegámos a um ponto em que o desenvolvimento dos concertos ao vivo, sobretudo de música portuguesa, dependia das câmaras municipais, que eram os únicos contratadores. E quando os orçamentos das câmaras, por causa da crise económica, foram drasticamente cortados, deixou de haver orçamento para concertos e os grupos ficaram todos no desemprego. E esta ideia de nos aproximarmos das pessoas, de haver uma maior intimidade, caiu que nem ginjas como uma solução para fugir a esta dependência das câmaras e ao desemprego generalizado a nível de música. Quando nós começámos, nos anos 80, haviam muitos pequenos espaços, pequenos promotores que faziam concertos - mas isso foi desaparecendo porque as bandas começaram a habituar-se a cachets e a tratamento de star provocado pelas câmaras, pelas queimas... E aqueles promotores individuais, que não tinham dinheiro para estas produções e, sobretudo, porque não podiam pagar para pôr bandas a tocar em espaços que nunca rentabilizariam o cachet das mesmas, deixaram de organizar concertos. Havia que descobrir uma forma de encontrar de novo esse espírito do início dos anos 80, em que eram possíveis esses concertos. Foi uma questão de procurar espaços, de convencer - porque foi preciso convencer muita gente - e de propor às pessoas. Também houve muita gente que recusou com medo de distúrbios, o que também tem a ver com a nossa fama... [risos] Mas foi preciso encontrar um equilíbrio para que desse prazer participar nisto - e desse também prazer financeiro, tanto aos promotores, quanto aos bares, à banda, ao público -, e que a coisa realmente funcionasse. E acho que funcionou lindamente; a Carícias Malícias Tour teve um eco estrondoso dentro das pessoas, a nossa mailing list esteve sempre entulhada de mensagens e fotografias - depois criou-se um fenómeno engraçado, em que se começaram a tirar fotografias e a fazer filmagens dos concertos, e a trocar uns com os outros: "olha aqui foi assim, olha aqui foi assado" - criou-se uma galvanização de tal ordem à volta dessa tournée que nós acharíamos terrível não aproveitar isso. E acabámos por aproveitar fazendo o tal disco na data em que o Henrique Amaro nos convidou para fazer no auditório da Antena 3, escolhendo algumas das fotografias que tinham sido enviadas, fazendo o disco com os fãs. O próprio vídeo que foi feito, foi só com filmagens de fãs. O Manuel Leite, que foi o realizador, limitou-se a montar porque as imagens foram todas tiradas do público e eram imagens belíssimas - e saiu um belíssimo vídeoclip, melhor do aqueles que já tínhamos tentado fazer filmando na Aula Magna, etc. A finalidade prática dessa tournée acabou por funcionar porque, a partir daí, muitas bandas começaram a trabalhar neste tipo de concertos, nomeadamente os Blind Zero e agora os Rádio Macau. Houve muitos espaços que se viraram outra vez para fazer música ao vivo, o que é óptimo pois era exactamente isso que pretendíamos: que as bandas aproveitassem isto e dessem visibilidade a este tipo de circuito e que, ao mesmo tempo, se abrissem espaços para bandas pequenas, que tenham mais dificuldades em tocar, tivessem de repente oportunidade de subir a palco. A revolução não foi radical, mas abriram-se portas e isso para nós já é bastante satisfatório.
- JP: Esta digressão vem também marcar uma viragem já que vocês assumem, com a Cobra, uma postura completamente independente. Nunca cederam a vontades alheias e agora têm finalmente a vossa editora.
. O facto de termos a Cobra não nos dá maior independência. A independência conquista-se pela postura e pelo que se negoceia com as editoras. A Cobra dá-nos mais trabalho mas não independência. Dá-nos algumas dificuldades suplementares, nomeadamente em termos de visibilidade. Quando fizemos a Cobra nem sequer foi por nós. Editámos o "Carícias Malícias" porque fizemos a Cobra sem capital, foi por empréstimo bancário, e pensámos que seria capaz de rentabilizar e ter um feedback financeiro interessante podermos investir na Cobra para editar novos grupos. Porque a nossa ideia era essa: editar artistas que não tenham espaço de edição, de que nós gostemos e achemos que façam um bom trabalho, independentemente do género, e aos quais a estrutura tradicional da insdústria discográfica não dá espaço. O "Carícias Malícias" foi mesmo só para que o capital existisse para podermos apostar nesses grupos. Surgiram os Anger, logo a seguir, com o "The Bliss", o terceiro álbum deles, que não tinha espaço na indústria. É de uma pessoa pensar: "mas como é que é possível uma banda que já tem dois álbuns, que tem um público e um bom trabalho, um trabalho reconhecido... como é que é possível que tenha as portas fechadas?" Abrimos as portas para os Anger, com um disco gravado lá fora e um produtor conhecido, o que até nem era a ideia que nós tínhamos pois também queríamos rentabilizar o estúdio e tentar pôr as coisas o mais barato possível. Era um caso evidente de uma banda com provas dadas e que não tinha espaço editorial. De repente, surge este nosso disco, pelo que aconteceu exactamente o mesmo que aos Anger: também não tinha espaço editorial fora da Cobra. Ou seja, todas as editoras fecharam as portas ao disco dos Mão Morta. Isto está mesmo mau! Afinal não são só as bandas novas que não têm espaço de edição, são bandas consagradas com mais do que provas dadas. No fim, a Cobra está aqui a servir como bóia de salvação para nomes feitos. Estamos a desviar-nos um bocado dos nossos objectivos, que passavam por lançar bandas novas, que não tinham espaço para depois o circuito normal pegar neles - não, estamos aqui a salvar projectos interessantíssimos que não têm espaço de edição. Isso é um absurdo! Mas pronto... de qualquer maneira, é o papel da Cobra.
- Em alguns debates que têm havido, nomeadamente sobre medidas proteccionistas para a música portuguesa, sobre quotas nas rádios e até sobre a questão de cantar em português ou não, tens tido um papel interventivo e tens discordado da opinião dominante.
. Eu não sei qual é a opinião dominante, não tenho acompanhado muito. As minhas opiniões foram manifestadas antes de qualquer polémica e não sei o que se passou depois. Sei que se fizeram associações e mais não sei o quê, mas desconheço quais são as opiniões manifestadas pelos meus congéneres. Relativamente à questão da língua, acho que não tem de haver o que quer que seja de interferências externas sobre que língua se deve utilizar. Eu uso o português, acho que toda a gente devia usar o português mas não cabe a mim nem a ninguém, de maneira nenhuma, obrigar quem quer que seja a fazer o mesmo. Eu utilizo o português porque é a minha língua, a língua em que eu falo, em que me expresso melhor e que me parece mais natural.
- JP: Mas a língua do Rock é o inglês...
. Não. A língua do Rock anglo-saxónico é o inglês. Mas o Rock transformou-se numa linguagem universal, deixou de ser anglo-saxónico. Isto é uma opinião muito pessoal mas que não é impositiva a ninguém. As pessoas habituaram-se a ouvir o Rock com a língua inglesa e não conseguem dominar suficientemente o português para o conseguirem criar em português para esse tipo de ritmo. Nos séculos XII e XIII dizia-se que a única língua para cantar as cantigas era o galaico-português. Quando as pessoas começaram a utilizar outras línguas para cantar as cantigas de amigo, começaram a criar outro tipo de canções. Deixaram de ser as cantigas de amigo galaico-portuguesas e criaram-se outros géneros: as coisas evoluíram e deram a diversidade à música que existe hoje. Se se continuasse a utilizar o galaico-português, se calhar nunca teríamos evoluído das cantigas de amigo. Com o Rock acontece exactamente a mesma coisa. É uma tipologia muito mais recente, do século XX, nascida no universo anglo-saxónico, mas a partir daí há muita evolução. O facto de utilizarem línguas diferentes, com outra métrica, com outra rítmica, obriga a variações e a inventar novas coisas dentro daquela matriz. Se uma pessoa se limitar a copiar o que os outros fazem - e, infelizmente, é o que a maior parte das pessoas que utiliza o inglês faz -, então não vale a pena. Para isso vou ouvir os originais e não acrescento nada de novo, não faço qualquer evolução na tipologia Rock ou Hip-Hop ou o que for. Seria um absurdo uma pessoa estar a ouvir agora em Portugal os gajos do Hip-Hop a cantar em inglês. Os franceses criaram uma diferenciação no Hip-Hop, que é uma matriz também anglo-saxónica, nomeadamente americana. Criaram um Hip-Hop específico, que uma pessoa ouve e detecta logo que é francês - e não é só por eles falarem francês, mas porque utilizar o francês os obrigou a uma outra métrica, a um outro respirar, e isso musicalmente também tem consequências. O Rock é a mesma coisa. Mas isso é uma questão individual de cada um, não tem nada que vir alguém ou uma entidade dizer-nos que temos todos que cantar em português porque, se assim não for, não é música portuguesa. Música portuguesa é um conceito demasiado genérico; o que é a música portuguesa? Música portuguesa tanto é o Pimba como o Rock, a música ligeira, clássica, o Jazz... o que é a música portuguesa? É um bocado absurdo. Porque é que a música cantada em português é portuguesa e a música cantada em inglês não é música portuguesa? Há aqui uma confusão de conceitos e por isso eu prefiro não pensar em termos de música portuguesa.
- JP: E em termos de internacionalização, não facilitaria cantar em inglês?
. Não facilita nada. A prova que não facilita nada é que todas as coisas que são exportadas são cantadas em português, a única excepção são os Moonspell. Tirando estes há os exemplos dos Tédio Boys ou dos Les Baton Rouge, mas são mercados muito específicos. Os Tédio Boys funcionaram no circuito americano de pequenos clubes e os Les Baton Rouge funcionam no circuito europeu, essencialmente de pequenos clubes, misturados com outras bandas. Não é o facto de cantarem em inglês que lhes dá visibilidade, é o facto de fazerem aquele tipo de música, para aquele tipo de público - e de ser um tipo de música que é formatado. É aquele formato e funciona seja qual for a língua em que é cantado. Moonspell é um caso um bocado diferente pois, para além de cantarem em inglês e de funcionarem num mercado específico, criaram um formato. Foram dos primeiros a tentarem uma mistura entre o Heavy e o Gótico. Criaram uma identidade e essa identidade não tem nada a ver com o inglês. O que é que tu queres meter lá fora que cante em inglês? São todos iguais ao que lá fora já é feito, e melhor. Não é a língua que te vai mudar. Se fizeres uma coisa que, dentro do formato Rock ou Pop, em termos estritamente musicais, venha acrescentar algo ao que já foi feito lá fora, se tiveres essa mais valia, independentemente de cantares em inglês ou cantares em português, funciona. Se não acrescentares nada, cantes em inglês ou em português, não funciona. A questão é essa, não é a língua. Os Einstürzende Neubauten acrescentaram algo. Cantavam em alemão e venderam em todo o lado, nomeadamente em Inglaterra, a pessoas que não falam nada de alemão.
- Depois temos aqueles fenómenos locais, as grandes esperanças a nível de exportação em Portugal, mas que depois se revelam fracassos: The Gift, Silence 4... tiveram grande sucesso em Portugal mas lá fora ninguém lhes pega.
. Aquilo é novo em Portugal mas lá fora já existem projectos assim há vários anos. É um pouco como aquele fenómeno Resistência. Pensaram em exportar aquilo. Era em português, mas, musicalmente, aquilo não era nada. Era uma nostalgia de canções, reciclagem de canções que as pessoas já tinham no ouvido. Por isso é que funcionou por cá e por isso é que funcionou nos tops, em termos comerciais. Lá fora, essa nostalgia não existe e as canções que são matrizes, são desconhecidas. Musicalmente, aquilo é nulo. Rigorosamente igual a zero. Nunca funcionaria.
- E quotas nas rádios para música portuguesa. Faz sentido?
. Em qualquer país da Europa as rádios têm quotas e passam uma percentagem elevadíssima de música local.Nós em Portugal temos quotas que não são cumpridas, escandalosamente, porque não há música nacional a passar nas rádios nacionais. Há formatações que vêm dos Estados Unidos, que são passadas cá, e que são lixo americano. Nem sequer são coisas boas americanas o que ouvimos cá: se fosse, ainda pensaríamos: "isto não apoia a música nacional mas ao menos alegra-nos os ouvidos". Mas não é isso que acontece. Passa-se o lixo, passa-se a pimbalhada pop americana e inglesa. Então os gajos, já que se estão a marimbar para o país em que vivem e não têm gosto, então pelo menos obriguem-nos a fazer algum serviço público. Porque no fundo os gajos estão a usar coisas que são públicas. Eles têm obrigações, não é qualquer pessoa que pode abrir uma rádio pois as frequências estão todas tomadas. Ao utilizarem as frequências, que são públicas, e ao terem o uso privativo dessas frequências têm contrapartidas a dar. E uma dessas contrapartidas é fazerem o apoio à música que se faz em Portugal. Não é o único problema que existe em Portugal em termos de visibilidade para a música feita cá, nomeadamente para os seus diversos géneros, mas é um dos grandes problemas que dá origem à crise que se vive actualmente. Música há - mais ou menos criativa, mais ou menos original, mas a verdade é que há muita coisa a ser feita e que, tirando agora a Antena 3 e alguns programas de autor em rádios universitárias, não passa nas rádios.
- Nos vosso concertos ao vivo costumas ser interventivo, não deixas de mandar a tua farpa quando achas necessário...
. Nunca fui muito interventivo. De vez em quando sim mas, na maior parte dos concertos, nem digo nada, limito-me a apresentar as músicas. Continuo a mandar as minhas farpas, nisso não tenho papas na língua. Não tenho qualquer problema em dizer o que penso, quando penso em algo. Não sou obrigado a pensar sempre e há muita coisa que desconheço e sobre a qual não tenho qualquer opinião. Não vou dar opiniões sobre coisas que desconheço e não sei o que é que está em jogo. Sobre as coisas que conheço e que tenho uma opinião, não me coíbo de me manifestar. Mas isso não é regra, não faço dos concertos tribunas políticas, nem nunca fiz. A maior parte dos concertos de Mão Morta, desde o início até agora, limito-me essencialmente a apresentar as músicas. Houve concertos, mais no início, em que nem sequer abria a boca.
- Adolfo Luxúria Canibal. Advogado, frontman de uma banda Rock, carismático. Tudo contribui para que se crie uma espécie de misticismo à tua volta. Como vês a forma como as outras pessoas te vêem?
. Não vejo. [risos] Não sei muito bem... de vez em quando contam-me histórias mas não tenho muito a consciência disso. Sei que, quando estou em Portugal, estou sempre naquele limbo: "será que há alguém que me conhece?" É como aquela história de um gajo viver sempre na mesma rua e conhece os vizinhos todos e todos os vizinhos o conhecem. Todos os vizinhos sabem que moramos no 3º esquerdo, ou coisa parecida. Na nossa rua, tirando aquela fase da adolescência em que nos estamos a marimbar para tudo e só fazemos asneiras, tentamos comportar-nos o melhor possível, não levar as amantes lá para casa, pelo menos não andarmos aos beijos a elas na rua. Há sempre aquele pudor do olhar do vizinho que nos conhece. A minha situação em Portugal é um bocado esta e só tomei consciência dela quando fui viver para França. Portugal é um bocado "a minha rua". [risos]
- E no teu trabalho, achas que essa exposição já te foi prejudicial?
. Não, antes pelo contrário. Antes de ter qualquer exposição já trabalhava, de maneira que já tinha construído as minhas relações de trabalho, já tinha mostrado o que era ou não capaz de fazer, independentemente de qualquer pré-conceito ou pré-valor de olhares que me conheciam apenas por exposição mediática.
- JP: Voltando um pouco à ideia de Portugal ser a tua rua. Já mudaste de casa algumas vezes, até de cidade... Não guardas nostalgia dos locais, desta ou daquela rua? Não gostas de parar um bocadinho num sítio e saborear?
. Não, não guardo. Andei sempre a saltar, nunca estive mais do que 2 anos num sítio e esses sítios por onde fui passando servem-me como referências para me situar em termos de datas, é a única coisa para que isso me serve.
- JP: Mas no teu íntimo, não te situas numa época e num sítio?
. Não, eu sou um cidadão do mundo. A minha relação forte em termos de raízes é Braga. Foi onde passei a adolescência, onde cresci, onde saí do meio familiar e despertei para o mundo. É nessa fase que eu sinto as minhas raízes. Volto sempre lá. É onde eu encontro os amigos e onde tenho prazer em ir. Por exemplo, venho agora a Lisboa - e vivi aqui 20 anos -, e irrita-me imenso, acho insuportável. Não sei como é que consegui viver aqui 20 anos. Acho Lisboa uma cidade lindíssima, mas um gajo quer fazer qualquer coisa e é uma chatice, um trânsito dos diabos... Depois um gajo quer estacionar o carro, anda tudo mal disposto, tudo a correr... é uma coisa insuportável! Cada vez que tenho de vir a Lisboa demoro-me aqui o menos tempo possível. E vivi cá 20 anos!
- JP: E em relação ao Mateus, consideras importante que haja uma certa estabilidade?
. O meu filho viveu 2 anos em Lisboa, já está há 4 anos e tal em Paris, portanto já é muito mais francês do que português. Aprendeu a falar as duas línguas mas de Lisboa já não se lembra. As recordações que tem de Lisboa são de vir cá comigo em que eu lhe fui mostrar onde era a casa onde ele vivia nos 2 anos que esteve cá. Fui-lhe mostrar os aquários (que ele adora peixes), fui-lhe mostrar o Jardim da Estrela onde ele dava os primeiros passos. Aquelas coisas de que ele não se lembrava mas que achava muita piada - mais pela história que eu contava sobre ele. Era mais o lado espelho do que propriamente o reconhecimento do lugar. Mas adora Braga, onde ele vai muito mais. Portugal para ele é Braga, é onde tem os primos - e conhece muito bem Braga, mas as raízes dele são parisienses.
- Queria falar agora neste livro, "Estilhaços". É uma compilação de vários textos e letras que partiu por iniciativa de terceiros.
. Foi da própria editora, a Quasi. Foi o Valter Hugo Mãe que me lançou o desafio. Na altura fiquei assim meio... Mas depois lá arranjei o caixote em que tinha coisas antigas e até me entusiasmei e acabei por descobrir coisas de que já nem me lembrava e a fazer uma compilação e uma escolha de... lixo que tinha por lá.
- E as edições literárias, achas que seria algo a explorar no futuro?
. Eu nunca penso nisso e, mesmo na própria música, à partida, nunca pensei que ia fazer isto ou aquilo ou deixar de fazer. As coisas acontecem e, quando acontecem, se eu digo que sim, gosto de me entusiasmar. Eu entusiasmei-me com isto mas não é uma coisa que me passe pela cabeça: "vou escrever um livro".
Texto: RA / Entrevista: RA + JP
Mão Morta
Nus
CD'04 . Cobra
Imaginem um bastardo lírico e sonoro de Ministry, Philip Glass, Tricky, The Durutti Column, Erik Satie, Victor Espadinha (como?), Swans, Nick Cave e outras "sementes más". Imaginem convidados especiais num disco como a Marta Ren fora dos histerismos dos Sloppy Joe ou o intragável Miguel Guedes fora do pedantismo dos Blind Zero (recordo um texto algures no meu blog em que considero os Blind Zero como os responsáveis pelo fim da música portuguesa) a cantar em português pela primeira vez. Imaginem uma sonoplastia perfeita de filme do César Monteiro ou até do Manoel de Oliveira. Imaginem os melhores textos sobre a "cultura juvenil" em registo adulto e irónico mas sem ser paternalista e com sangue na guelra. Imaginem uma banda portuguesa de Rock Marginal dos anos 80 a conseguir falar ainda sobre drogas pesadas ou de esperma sem cair no ridículo do anacronismo. Não imaginem, existe um disco assim, chama-se "Nús", é dos Mão Morta e da sua editora Cobra, e é o melhor disco da banda, ao comemorar 20 anos de existência, desde o "Mutantes S.21", ou do - mas incompreendido e mal produzido - "Vénus em Chamas".
É certo que os dois primeiros minutos do disco são irritantes, deixando-nos logo de sobreaviso: "devem querer ser os Fantomas, que seca!". Um gajo fica desconfiado se o que virá a seguir não será baseado nas assimetrias sonoras de Fantomas ou se irá para outros campos. Felizmente, numa fluidez escaldante, o disco torna-se inesperado. É um disco grandioso, cinematográfico, pós-moderno e aberto à discussão.
4,9
Marte
- JP: Li um email teu que continha opiniões muito fortes sobre o 11 de Setembro, e que circulou em larga escala...
. Eram. Quando o mandei não tinha consciência do poder da rede, não sabia que as coisas circulavam assim. Foi a primeira vez que mandei um mail para alguns endereços que eu tinha. Chocou-me imenso. Independentemente do choque que é a queda das torres - e que eu nem sequer vi porque não tenho televisão, só vi fotografias -, independentemente disso, chocou-me essencialmente a ideia da Comunidade Europeia decretar minutos de silêncio por vítimas nesse caso concreto e não decretar minutos de silêncio por centenas de milhares de vítimas noutros casos concretos. Porquê aquelas? Por que não as outras? Ou não se decretam para ninguém ou se decretam para todos. Só aquelas porquê? Isso é que me chocou. Não há cidadãos de primeira nem cidadãos de segunda. Não há brancos e árabes. Não é isso que as distingue ou que as fazem melhores ou piores. Há bandidos na América, em Portugal, na Rússia... Como há gente boa em todos esses lados. Não é a cor da pele, não é a religião que as distingue. Posso compreender perfeitamente que a morte, assistida em directo, crie uma emoção muito maior do que a morte de que apenas ouvimos falar ou que não vemos. Eu não vi as imagens teleivisivas, apenas fotografias, por isso tinha um distanciamento muito maior, não fui apanhado por aquela onda de emoção. Como agora num caso mais recente: Portugal esteve 15 dias em estado de choque porque se viu um jogador de futebol morrer em campo. É uma coisa que acontece amiúde. Depois desse já morreram não sei quantos e ninguém manifesta a mínima emoção, mas aquela morte viram-na. E é essa visão que cega a razão e cria uma emoção muito forte. Como tinha essa distância, de não estar preso pela emoção, achei um absurdo estarem a fazer minutos de silêncio por pessoas e não fazer por outras. Sobretudo quando, neste caso, o país agredido é culpadop de muitas outras vítimas para as quais não se fizeram minutos de silêncio. Quando eu enviei esse mail, pareceu-me uma questão pacífica, era apenas quebrar um bocado o bloco emocional em que as pessoas se encontravam e chamar a atenção para isso. E acabou por se transformar quase num manifesto político, que não era a intenção inicial.
Mécanosphere foi um convite. O grupo já existia em França e anda à volta, basicamente de Benjamin Brejon. Tinha participação de pessoas que entravam e saíam, participavam nos espectáculos e participavam nas gravações. O Benjamin, depois de um concerto nosso que viu no Mergulho no Futuro, em 98, quando estava cá de férias, veio falar comigo e convidou-me. A abordagem inicial era uma autorização para a samplagem de um tema dos Mão Morta mas depois concretizou a coisa para eu meter a voz e ele poder trabalhar isso. E eu fiz, mandei-lhe isso para Paris, eles trabalharam e nasceu o disco "O Lobo Mau".
Quando fui para Paris eles ligaram-me logo: "agora que estás cá, vais fazer concertos connosco". E comecei a fazer concertos com eles lá em França quando podia, quando não tinha coisas cá em Portugal com Mão Morta. Entretanto o Benjamin veio viver para Lisboa e continuamos, apesar da distância. Houve uma altura em que eu vim cá e que o Benjamin agarrou em mim, levou-me a um estúdio e estivemos a tarde a gravar vozes. Depois disse: "agora vou trabalhar as tuas vozes e daqui fazemos um disco". Assim foi, é o disco que saiu - "Mécanosphere".














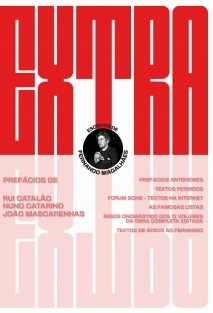


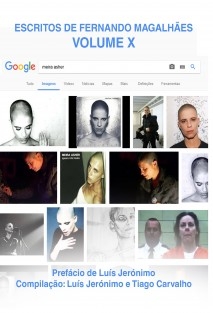


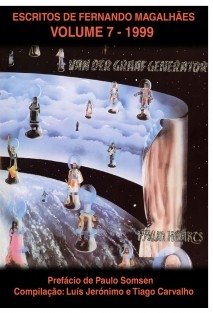







_Bubok.jpg)






















Sem comentários:
Enviar um comentário