Música & Som
Nº 96
Outubro de 1984
Publicação Mensal
Esc. 150$00
Director: A. Duarte Ramos
Chefe de Redacção: Jaime Fernandes
Propriedade de: Diagrama - Centro de Estatística e Análise de Mercado, Lda.
Colaboradores:
Amílcar Fidélis, Ana Rocha, Carlos Marinho Falcão, Célia Pedroso, Fernando Matos, Fernando Peres Rodrigues, Hermínio Duarte-Ramos, João Gobern, José Guerreiro, José Tavares, Manuel José Portela, Manuela Paraíso, Nuno Infante do Carmo, Pedro Ferreira, Rui Monteiro,Trindade Santos.
Correspondentes:
França: José Oliveira
Inglaterra: Ray Bonici
Tiragem 16 000 exemplares
Porte Pago
56 páginas A4
capa de papel brilhante grosso a cores
interior com algumas páginas a cores (8 exteriores + 16 centrais com brilho) e outras a p/b, todas elas também com um papel com um certo brilho mas de pesagem menor que as referidas anterioremente entre parênteses.
A Palavra Aos CROIX SAINT
por Luís Maio
Das novas formações musicais emergidas no panorama musical português, os Croix Saint são um dos agrupamentos de quem mais se fala. Fala-se deles e por eles, mas raramente se lhes dá a palavra. É altura de se lhes proporcionar esse direito.
Nos dias que correm, a música pop, tal como outras formas de actividade artística eleitas pelo grande público, prestam-se cada vez mais a mitificações. Vivemos num período pós-crítico, época que herdou do passado mais recente o descrédito e a profanação dos dogmas éticos e religiosos que imperaram no mundo ocidental durante séculos. Vivemos, portanto, numa era de instabilidade, em que a fé descoisificada procura incessantemente um novo objecto de culto. À falta de melhores expedientes, objectiva-se em vultos do universo artístico, muito em especial da música popular. Isto verifica-se, em particular, nos extractos mais jovens da sociedade, para os quais os novos focos de veneração são individualidades como Jim Morrison, Patti Smith ou Ian Curtis.
Este género actual de beatitude, tal como aquele de que é sucedâneo, desemboca invariavelmente no obscurantismo. Sobre aquilo que é divinizado não se fala, ou então fala-se figuradamente, dado que o discurso realista e esclarecedor expõe o sagrado, logo, diminui-lhe a sacralidade. É assim que os mais fervorosos discípulos de grupos como os Doors ou os Joy Division caem num hermetismo que, no lugar de fomentar o desvelamento da sua obra, vela-a ainda mais no manto esfumado da adoração.
O tipo de aproximação à música popular sobre consideração mal penetrou no nosso meio, se exceptuarmos casos perfeitamente anormais como os de Amália, Zé Afonso e mesmo António Variações. Então no que respeita ao rock que por cá se faz, pode-se mesmo dizer que o fenómeno ainda não se deu. Muito provavelmente em virtude de um complexo de inferioridade nacional que impera em toda a matéria em que não somos pioneiros, os rockers portugueses são bastante cépticos quanto aos ídolos que por aqui se querem impor, muito embora se convertam prontamente aos importados.
Seja como for, não há regra que não conheça excepção, e, no momento presente, em que se assiste entre nós a uma prometedora revitalização da música rock, a sua ocorrência começa a delinear-se neste género musical com um dos seus mais jovens rebentos, os Croix Saint. Assim como em cinema se fala em «cult movies», poderíamos dizer, por analogia, que os Croix Saint são um «cult group» da música portuguesa. E isto porque, tal como os filmes que caem sob essa designação, este novo agrupamento possui já uma pequena legião de religiosos adeptos, em relação à qual funciona como um objecto de adoração e culto. Mais concretamente, é esse o estatuto que lhes é conferido por uma certa élite lisboeta que se proclama diferente, vanguardista e marginal, que os coloca num plano de transcendente perfeição como máxima expressão de tais particularidades.
É claro que, através deste processo de mitificação, e à semelhança do que sucede com agrupamentos estrangeiros em igualdade de circunstâncias, o trabalho dos Croix Saint torna-se assim vítima de deformações e deturpações que são inerentes a esse processo, passando a ser mais pretexto, do que tema, para o grupo etário que deles é apologista. Nestas circunstâncias, importa restituir o seu a seu dono, devolver a palavra aos Croix Saint, que a possuem de direito, depois de ter passado pela boca de quem só soube adulterá-la. Neste propósito, entrevistámos o vocalista do agrupamento, o André. Para que a atenção do leitor se concentre nas suas palavras, procurámos fugir ao esquema vulgar e dispersivo de registo de entrevista tipo pergunta/resposta, optando por uma forma clássica de exposição temática das suas afirmações.
1. Os Croix Saint não fazem manifestos, não pronunciam afirmações para serem assumidas como absolutamente válidas e aceites de uma vez por todas.
1.1. Regra geral, um manifesto resulta de um desejo de afirmação alicerçado no medo, e, por vezes, no ódio puro.
1.2. Fazer um manifesto equivale a construir um objecto sem vida própria, um mero utensílio. É como uma cadeira ou uma mesa.
1.3. Não é obrigatório que uma mensagem tenha a forma de um manifesto.
2. Aquilo que queremos exprimir é a nossa verdade.
2.1. O que temos para dizer não é inédito, mas foi dito várias vezes no passado. A nossa verdade é intemporal.
2.2. A verdade de que falamos não é fruto da vontade, nem é uma construção teórica. Ela resulta da percepção das coisas, daquela forma de percepção que não passa pelo raciocínio.
2.2.1. Nessa medida, esta verdade não é tanto «nossa», mas dela. A verdade está nas coisas.
2.3. A verdade não se desdobra num conjunto de verdades de natureza diversa. Se a verdade existe, então ela tem de ser uma só, para que possa ser autêntica.
3. Existem duas formas de realidade: a realidade real, verdadeira, a realidade chão e a realidade irreal, a realidade que os homens pretendem que é real.
3.1. A diferença e a distância que separam estas duas formas de realidade são as que separam a mão da caneta ou do garfo. A primeira é um produto autêntico da vida, qualquer das outras duas é um produto artificial da civilização.
3.2. O coração de um esquimó não bate ao mesmo ritmo do coração de um cidadão. O coração de um esquimó bate ao ritmo da vida.
3.3. Se há uma realidade que é contra a vida, é a realidade citadina.
3.4. Não nos interessa que as cidades sejam como são, porque têm de ser assim, como se se tratasse de uma fatalidade - não acreditamos na tão falada irrecuperabilidade dos processos institucionalizados. A cidade é um erro, ou melhor, é o ampliar de um conjunto de pequenos erros que uma comunidade comete sempre que procura ultrapassar o seu enraizamento mais primitivo e dominar o seu destino.
4. A história da civilização é um encadeamento de erros.
4.1. Desde que o homem negou a natureza, desde o início da civilização até aos nossos dias, tudo está errado. O erro está no rolar ou no enrolar dos acontecimentos.
4.2. Sob estas condições, alguém que viva nos nossos dias tem de tomar uma atitude. Por um motivo ou por outro, por exemplo, ou porque teve uma educação materialista, ou porque é suficientemente lúcido, sabe que não há outra vida para além desta que vivemos. Se só há uma vida e se ela tem de ser vivida nesta época, portanto, participando da alteração e mutilação de tudo quanto existe à face da terra, então é natural que recuse frontalmente tudo isso.
4.2.1. Negar o estado actual das coisas é a atitude primordial.
5. Toda a luta no terreno do adversário é inútil.
5.1. Por mais que se combata a cidade no seu interior, por mais desinteressada e lúcida que seja a resistência que se lhe opõe, sempre a cidade sai vencedora. Todo o produto da revolta na cidade contra a cidade é por ela absorvido.
5.1.1. Odiar a cidade é oferecer ódio à cidade.
5.2. Os Croix Saint estão conscientes de que é uma contradição ser contra a realidade citadina e viver na cidade, fazer música adentro do seu território, subir para os seus palcos, etc.
5.2.1. Mas a nossa contradição é uma contradição metódica, faz parte de uma estratégia mais ampla. Queremos tornar o que dizemos e tocamos em novas atitudes. Queremos partir da música para a acção.
6. Não somos desencantados, somos encantados por aquilo em que acreditamos.
6.1. A cidade é um ser vivo constituído por seres vivos. O que alimenta a cidade, o que permite a sua subsistência são as pessoas que a povoam - as pessoas são o sangue que corre nas suas veias. Se as pessoas partissem, ou mesmo se uma geração de gente mais nova se ausentasse, a cidade passaria a ser tecido sem sangue e o tecido sem sangue apodrece. Ficariam os mais velhos para testemunhar a sua ruína.
6.2. A música dos Croix Saint exprime e prepara o grande êxodo das cidades. Os Croix Saint são, portanto, um projecto ambicioso.
The The
por Luís Maio
Em inícios de 78, na coluna de anúncios gratuitos do periódico britânico «New Musical Express» podia ler-se: «o entusiasmo é muito mais importante para um músico que a habilidade musical. Procuro gente que simpatize com Syd Barrett, Residents, Throbbing Gristle e Velvet Underground».
Como seria de prever, no dia seguinte à edição da revista, o autor destas palavras, um tal Matt Johnson, tinha a casa repleta de hippies e outros inúteis que zelosamente se apressaram a responder à mensagem. Não desencorajado pelo fracasso, Matt viria a formar mais tarde a sua primeira banda, os Gadgets, que tocou com agrupamentos como Scritti Politti e DAF, chegando a gravar um single para a 4AD, «Controversial Subject». Ainda na 4AD, mas já a solo, grava em 81 o primeiro LP, cujo título genérico é «Burning Blue Soul». Na sequência deste trabalho, tendo sido notado por uma das individualidades da «Some Bizarre», é convidado a engrossar o lote de artistas desta etiqueta, para ela gravando o LP «Pornography Of Despair», inédito até ao momento. Mas, em 82, cria The The e volta ao contacto com o mercado discográfico com dois maxi-singles que provocam furor: «Uncertain Smile» e «Perfect». Um ano depois, sai «Soul Mining», o Lp da consagração.
O trabalho musical de Mr. The The, Matt Johnson, sem ser de uma densidade especial, não é de todo fácil de interpelar nos termos em que é usual conduzir a apreciação musical. Em particular, a apreciação é dificultada pela perplexidade emocional e espiritual que causa a articulação letra-música no disco de The The. Em consequência da estranheza e indecibilidade a que nos remeteu, apresentamos não uma, mas três vias de hexegese do LP em questão, eventualmente contraditórias.
1ª Interpretação. Em «Soul Mining» há uma ligação muito conseguida das palavras com o som. Este disco é, acima de tudo, um álbum crítico, crítico no sentido em que «crítica» é sinónimo de «exame interior». Com efeito, o primeiro LP dos The The é um trabalho de confissões interiores, em que Matt Johnson se esforça por dar a conhecer as profundidades da sua alma. Ora, os estados da alma, como todos os sabemos, são sempre transitórios, a serenidade alternando com a fúria, a frieza e o discernimento mental com o calor e o excesso emotivo. Naturalmente, as letras de «Soul Mining», que se propõem traduzir tais estados, denotam uma nítida heterogeneidade - a mesma que se constata na entidade que lhes serve de inspiração.
Agora, o que é realmente notável no disco dos The The é a perfeita harmonia que se estabelece entre esta heterogeneidade da mensagem com a plurivocidade de géneros musicais que aí são integrados. «Soul Mining» é um álbum que deambula entre parâmetros musicais tão diversos como sejam os da música erudita, do country e do reggae. Todo esse recurso a fontes musicais de teor diverso é sabiamente conseguido na medida em que se ajusta perfeitamente, faixa após faixa, à situação espiritual que as letras representam.
Os casos exemplares: «I've Been Waittin' For Tomorrow», «This Is The Day».
2ª Interpretação. Há de facto que admitir a articulação música-letra como um dos factores cruciais do trabalho dos The The. Todavia, é falso afirmar o sucesso daquela. Na verdade, o carácter indagativo e interiorizante das palavras cantadas por Matt Johnson é manifesto, embora seja de notar a sua feição mais pessimista do que optimista, um pendor maior para a negatividade do que para a positividade. Os temas de «Soul Mining» são preferencialmente a solidão, a angústia e o desespero, mais raramente, o amor ou a esperança. Mas, em primeiro lugar, todo esse investimento nos estados da alma expresso no disco conduz a enorme desilusão, para não dizer outra coisa. Das duas uma: ou os estados de espírito de Matt Johnson são pouco inspirados, ou o seu poder de verbalização é muito fraco, dado que as suas «lyrics» são de uma banalidade, de uma vulgaridade quase irritantes. Matt cai mesmo em calamidades proverbiais do tipo: «acontece sempre algo errado, quando as coisas estão a andar bem» («something always go wrong, when things are going right», «Soul Mining»).
Depois, a «colagem» das letras com as orquestrações é um autêntico desastre em «Soul Mining» - quase a prová-lo, está a oscilação musical das canções, quando tocadas nos maxi-singles e quando tocadas no LP. Na realidade, como se disse, Matt Johnson é um diletante em termos musicais, um homem que simpatiza e pratica tipos musicais múltiplos e díspares. Ora, essa diletância combina-se mal com as palavras que canta: onde estas exprimem frustração, inconformismo, a música ganha tonalidades suaves e dançáveis, o que retira às palavras toda a sua força, fazendo-as cair num eufemismo apático.
Os casos exemplares: «Uncertain Smile», «Soul Mining».
3ª Interpretação. Na apreciação do disco dos The The é totalmente irrelevante a consideração da conexão letra-música. Porque este disco, mais do que qualquer outro, é um produto comercial, feito para entrar no ouvido à primeira audição e para ser dançado. Que as palavras sejam estas ou outras quaisquer, que o som seja mais retrógrado ou avançado - isso pouco importa. O que é fundamental é que a sua associação permita alcançar o resultado, possuindo os atributos acima mencionados.
Os casos exemplares: «This Is The Day», «Perfect».
Retrospectiva
Human LeagueDe «Reproduction» a «Hysteria»
por Luís Maio
Quem, por ofício ou por lazer, empreender uma retrospectiva da música pop britânica, no período do virar da década de setenta para a de oitenta, certamente se dará conta de uma das grandes novidades da época: a voga das alianças. Formou-se a liga de avant-garde, a League Of Gentlemen, a anti-liga do punk revivalista, a Anti Nowhere League, e a liga à corrente electrónica, a Human League. Foi um sol de pouca dura: a League Of Gentlemen diluiu-se em King Crimson e a Anti Nowhere League desfez-se num quase mutismo. Só a Human League se refez em... Human League - mas talvez que, a identidade de designação não corresponda à alma musical que ela denota. À saída do quinto longa-duração do agrupamento, «Hysteria», é altura para fazer um balanço do que tem sido até aqui o seu labor musical.
I. Da Cold Wave À Primeira «Human League»
De «Reproduction» a «Hysteria», do primeiro ao mais recente Lp dos Human League, há pelo menos uma característica no seu trabalho que se mantém invariável; a saber, o uso e abuso de instrumentos electrónicos, com especial incidência nos sintetizadores. Por isso mesmo, é vulgar conotá-los com a chamada 'cold wave', vaga musical onde também é costume arrumar agrupamentos como os Tubeway Army e os Ultravox de John Foxx.
A 'cold wave' é, entre outras coisas, um movimento de síntese - a prová-lo está a própria opção pelos sintetizadores que, como o nome indica, representam uma condensação das capacidades sonoras dos outros instrumentos. Mas, mais do que pelos instrumentos seleccionados, ela é sintética pelo modo como os utiliza, ou melhor, pela música que produz: a 'cold wave' constitui-se como o idílio, até então insuspeito, da música electrónica alemã, estereotipada nos Tangerine Dream, com o punk inglês à maneira dos Sex Pistols.
Os Dream faziam o culto das longas peças musicais, aparentemente muito complexas, mas em que o canto e o ritmo estavam praticamente ausentes. Os Pistols, por seu lado, cultivavam a paixão do efémero, das peças curtas e estruturalmente primitivas, mas em que o canto era essencial e a batida, sólida e uniforme, um imperativo. Dos primeiros, a 'cold wave' retirou a inspiração melódica e o suporte tecnológico; dos segundos, importou a uniformidade rítmica e o destaque do canto, bem como a redução métrica da duração das composições. Mas a 'cold wave', embora sintética, é pouco imaginativa, de tal modo que as componentes musicais que toma de empréstimo daqui e dali, limita-se quase só a reproduzi-las num novo contexto. 'Réplica', termo querido a Gary Numan, é realmente o predicado que mais se ajusta à caracterização dos agrupamentos integrados na 'cold wave'.
O caso é um tanto diferente com os Human League, em especial no que respeita aos seus primeiros dois lps, quando ainda faziam parte da banda Martin Ware e Ian Marsh, o futuro núcleo dos Heaven 17. Onde os sintetizadores de Numan e Foxx se fixavam na disciplinada mimese de sonoridades conhecidas e de fácil assimilação, os de Ware e Marsh eram lançados à deriva, ao sabor dos caprichos mais extremos da imaginação. Estes últimos, tendo exercido funções de programadores de informática possuíam um conhecimento técnico bastante elevado dos seus instrumentos; no entanto, a sua formação musical era muito reduzida ou quase nula. Por isso mesmo, no lugar de repetirem sons familiares, eles experimentavam sonoridades, Martin Ware na secção melódica, Ian Marsh na parte rítmica. O fecundo resultado desta associação complementada pela voz de Philip Oakley e pelo 'visual' de Adrian Wright, são essas duas pequenas obras-primas de inspiração e criatividade musical, «Reproduction» e «Travelogue».
Voltemos À 'cold wave'. Se, ao nível musical, esta 'vaga de frio' se identifica pelo seu carácter sintético, ao nível ideológico ela parece ser mais o resultado de uma síntese. Quando, em finais da década de setenta, esta corrente se começa a impor no Reino Unido, a situação local não é particularmente favorável à emergência de movimentos de massas. Ao nível social e musical, o movimento hippie está a dar as últimas, denunciado e desacreditado pelo seu conformismo hipócrita, pela enferma passividade do seu pacifismo. Também a agitação punk entra em franco declínio, exausta no seu nihilismo delirante, desiludida pelas suas limitações e contradições internas. Em síntese, nenhuma das ideologias com 'background' musical surgidas naquela década se mantém de pé até ao seu final.
Como reacção a esta desqualificação das ideologias de grupo, aparece então, entre várias, a perspectiva 'cold wave', a revalorização do individualismo estrito. Descrentes em qualquer tipo de irmandade humana, os novos homens inflectem para a sua própria interioridade e fazem das máquinas os seus novos aliados. É de facto uma vaga de frio: o homem distancia-se dos homens, fica o único e a sua propriedade, o indivíduo e o seu sagrado instrumento.
De algum modo, os velhos League compartilharam com o resto da 'cold wave' a atitude de suspeição perante as formas de pensar preponderantes na sua década. Mas aí está a diferença: no lugar de virar costas ao mundo e optar por um distanciamento pomposo e ostensivo, os League preferiram enfrentar a realidade social tal como esta lhes aparecia e acentuar os males que nela constatavam - oiça-se, por exemplo, «Crow & Baby» e «Dreams Of Leaving» em «Travelogue». No lugar de cultivar um narcisismo elitista e pretensioso, eles enveredaram por um repensar e refazer das relações sociais - oiça-se «Blind Youth» em «Reproduction», tema que serve de verdadeiro manifesto da antiga liga.
Mais: em vez de celebrar as virtudes da tecnologia, erigindo-a como um fim em si, os League reduziram-na à sua dimensão mais justa de meio, de instrumento existente e criado para o uso humano - e é esse mesmo o papel que lhe é conferido ao longo tanto de «Reproduction» como de «Travelogue», em que ela funciona somente como meio posto ao serviço da comunicação musical.
Ainda há pouco falávamos de «Blind Youth» e dizíamos que esta composição poderia ser considerada como manifesto da antiga liga. Com efeito, nela se sintetiza a atitude que era então a dos Human League: «Desumanização é uma palavra tão forte / ela anda no ar desde Ricardo III / desumanização, é fácil dizer / mas se não se for um eremita, então a cidade é O.K.» Tanto os hippies, como os punks, cada qual à sua maneira, fizeram-se porta-vozes da cega revolta contra o avanço da civilização industrial, como se ela fosse a única responsável pela dor humana. Os League de Martin Ware são bem menos simplistas e reducionistas: o mal estar humano não é um fenómeno estritamente contemporâneo, nem deriva exclusivamente do progresso tecnológico; a sua causa é mais profunda e radica naqueles que manipulam as máquinas, aqueles que desde sempre recusaram ao homem o direito a ser homem. Por seu lado, a 'cold wave' supõe que a desumanização é um mal necessário e, no lugar de a combater, assume-a como a via única de subsistência. Os League também se demarcam deste fatalismo imaginário: o avanço tecnológico é um facto, a desumanização que ele provoca é também indubitável, mas a tecnologia e a vida humana não são absolutamente incompatíveis. Para as conciliar, mais do que outra coisa, há que mudar de ponto de vista, alterar o modo de ver e de viver essa relação - e então o isolamento não é mais necessário e a cidade é O.K.
Em suma, quer em termos musicais, quer em termos ideológicos, a primeira Human League era um agrupamento merecendo o estatuto de independência. Com a saída de Martin Ware e Ian Marsh, em finais de 82, os League reformaram-se e mudaram de direcção - nós diríamos: pelo menos em parte, perderam aquelas duas características que os destacavam no panorama musical britânico.
II. Da Primeira À Segunda Human League
Da antiga para a nova formação transitam Adrian Wright, o compositor da estética do grupo, e Philip Oakley, o vocalista agora (auto)promovido a líder. Para ocupar os lugares vagos nos sintetizadores, entram Ian Burden e Jo Callis que, mais tarde, viriam também a encarregar-se da secção de cordas, respectivamente do baixo e da guitarra. Registe-se, por último, uma outra inovação: para dançar e acompanhar Oakley nos coros, vêm também reforçar a nova aliança duas jovens adolescentes, Joanne Catherall e Susanne Sully.
O primeiro fruto de longa duração desta «reforma» dos League é «Dare!». Este disco que, pelo seu título, «Dare!» (Atreve-te) sugere e reivindica um estatuto de irreverência, pelo contrário, é uma obra muito pouco arrojada. Philip Oakley, o principal responsável por este trabalho, não é realmente um génio da envergadura de Martin Ware, seu predecessor na liderança e orientação dos destinos do grupo. No plano musical, Ware destacou-se pela sua enorme criatividade e poder incentivo; e, no plano ideológico, pela lucidez e singularidade que soube imprimir ao grupo. Em contrapartida, Oakley, embora um excelente barítono, nunca passou de um músico medíocre, até porque a sua formação técnica e musical é praticamente nula, tal como ele mesmo o admite (NME, Jan., 83). Depois, ainda que se possa considerar um indivíduo bem intencionado, não se pode dizer que seja lá muito dotado para a vida reflexiva, motivo porque as suas posições são frequentemente de uma ingenuidade confrangedora. Assim, Oakley é a pálida imagem de Ware, e «Dare!» a sombra de «Reproduction» e «Travelogue».
«Dare!» é e não é um retorno à 'cold wave'. É-o, na medida em que, À maneira do que é usual nesta corrente musical, talvez mesmo de modo mais radical e transparente, nele se recorre a estruturas e fórmulas musicais padronizadas e consagradas, procurando-se mais retraduzi-las em termos electrónicos, do que renová-las por esses meios. Não o é, porque, em contraste com a 'cold wave' e de uma forma porventura mais conseguida do que nos antigos League, há nele uma intenção nítida de fazer reverter essa mimese musical a favor da comunicação de uma mensagem de franco alcance social e humano.
É assim que, por um lado, as canções de «Dare!» se revestem de uma tal simplicidade, ver mesmo, vulgaridade musical, que as podemos considerar como réplicas electrónicas das canções de música ligeira, do tipo mais primitivo e comercial - o exemplo flagrante desta aproximação é «Open Your Heart», verdadeiro duplo da canção de festival. Por outro lado, essa simplicidade musical é complementada e perfeitamente solidária da mensagem que, se é actual e próxima dos factos, é também sempre frágil e superficial - os exemplos são tantos, como as composições de «Dare!»; os mais sintomáticos: «The Things That Dreams Are Made Of», «The Sound Of The Crowd» e mesmo «Open Your Heart». Se Ware tinha o invejável dom de criar complexa e originalmente, Oakley tem, pelo menos, a virtude de fazer coisas simples que facilmente agradam tanto a gregos, como a troianos. E aqui está um motivo, talvez o decisivo, porque os dois primeiros lps dos antigos League não encontraram grande aceitação junto do público, enquanto «Dare!» ou a versão remixed que se lhe seguiu, constituíram um estrondoso sucesso.
Com o mais recente Lp, «Hysteria», e antes com os singles «Mirror Man» e «Fascination», os League procuram repetir a fórmula e o sucesso anteriores; mas, nem o produto musical nem o triunfo antes alcançados voltaram a ser igualados. Para evitar cair num embaraçosos decalque de si mesmos, forçosos se tornou introduzir novos elementos musicais, o que, como seria de esperar, dadas as limitações criativas do agrupamento, resultou num total ou quase total desastre - «Fascination» soa a Barry White numa manhã de ressaca, «Rock Me Again» lembra uma versão «Top Of The Pops» de James Brown.
Por sua vez, do ponto de vista ideológico, dá-se também uma mudança de rumo, de algum modo, mais significativa que a que ocorre no plano musical, mas nem por isso mais feliz do que ela. Como seria de esperar, Philip Oakley é o principal responsável desta remodelação. Em «Dare!», Oakley exprimia uma certa visão das coisas que era a de uma espécie de despntar intelectual - a vida e o mundo apareciam aí, um pouco como aos olhos de um adolescente que deles começa a dar-se conta. A descoberta da realidade, reino de contrários, do amor e do ódio, do bem e do mal; a fé, apesar de tudo, de fazer reinar a pura positividade, o amor e o bem; em suma, um idealismo optimista e um tanto diletante - eis a proposta de Oakley em «Dare!». Aí, ele canta: «Acredito, acredito no que o velho disse / Embora saiba que não há Deus / Acredito em mim, acredito em ti, e sei que acredito no amor / Acredito na verdade, embora minta muito» («Love Action»).
Se «Dare!» era o disco da adolescência de Oakley, «Hysteria» é, em certa medida, o do seu amadurecimento. A pouco e pouco, ele começa a tomar consciência de que não vivemos no melhor mundo possível, que a fé e a esperança, só por si, não chegam para apagar o tormento e a dor que são parte da nossa existência actual. Então, escreve sobre essas irredutíveis realidades que são a separação («Louise»), o isolamento («Life On Your Own»), o ódio («I«m Coming Back»), a guerra e a morte («The Lebanon»); todavia, há ainda uma leve reminiscência idealista que sobrevive ao desencanto («Fascination» e «So Hurt»). O que se vai sempre mantendo sem alteração é a pouca profundidade, o simplismo das posições adoptadas por Oakley.
Se a antiga Human League representava uma forma musical de estar na vida de um modo diferente e original, a nova liga representa mais uma forma de passar pela vida, quase de olhos fechados, sem penetrar no seu miolo. Mas diz o Livro que é dos pobres de espírito o reino dos céus...
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição:
. Banco de Ensaio - Mike Oldfield: «Discovery», por Célia Pedroso
. Discos em Análise:
.. Carmel - «The Drum Is Everything» [London, 810236-4], por Luís Maio
.. Rádio Macau - «Rádio Macau» [EMI 1775241], por Luís Maio
.. Haircut One Hundred - «Paint And Paint» [Polydor 815682-1], por Célia Pedroso
.. The The - «Soul Mining» [Epic 26123], por Luís Maio
. Rock Em Família - Camel - por Fernando Matos




















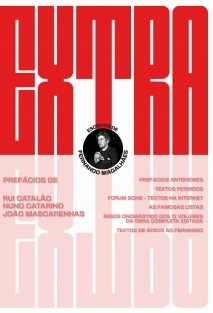


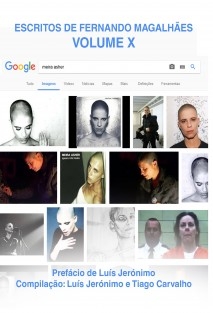


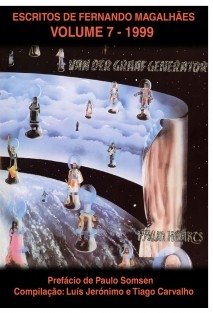







_Bubok.jpg)






















Sem comentários:
Enviar um comentário