mc
mundo da canção
Nº 52 - Ano X - Setembro/Outubro-79 - Esc. 20$00
Director: A. Vieira da Silva
Publica-se todos os meses
Proprietária e Editora: Tipografia Aliança, Lda.
Colaboram neste número: A. Vieira da Silva, Manuela Ramalho, Mário Correia, Melo da Rocha e Octávio Silva.
20 páginas A4 a azul (mesmo os textos), papel normal, excepto a capa que é de papel brilhante um pouco mais pesado e a 2 cores (azul e vermelho)
Editorial
Amigos a verdade é esta:
o mc não presta!
O mc não traz o resumo dos próximos capítulos do Astro. Não publica o horóscopo semanal, mensal ou anual dos seus leitores. Não exibe fotografias de leitoras com aspirações a Miss qualquer coisa. Não tem consultório sentimental para orientar a juventude. O mc não é uma revista. Rasgue-se. Já.
O mc não esclarece nem um pouco sobre a vida íntima da célebre cantora que grita o «sobe, sobe, balão, sobe». Não diz quando é que ela nasceu, com quantos meses teve os primeiros dentes, quando deixou de fazer chi-chi na cama. Não aponta o momento exacto em que a artista nasceu para a canção com os primeiros berros na casa de banho. O mc é uma nódoa. Limpe-se. Já.
O mc não liga patavina ao prodígio do teclado que é o inigualável Sr. Rui Guedes. Não comenta o seu programa da RTP onde ele tem lançado grandes artistas. Não o compara sequer com o Elton John que ao pé dele é um principiante. Não afirma o seu nacionalismo de que tem dado suficientes provas. O mc é um nojo. Queime-se. Já.
O mc não tem «posters» com gajas nuas para distracção do leitor. Não fala dos mistérios de alcova dos artistas mundiais. Não publica manifestos de homossexuais. Não transcreve textos do Sr. Vilhena. Não tem anedotas pornográficas. O mc é um puritano. Mate-se. Já.
O mc não segue as linhas doutrinárias do Sr. Dr. David Mourão Ferreira. Não aplica a revolução cultural do Sr. Dr. Proença de Carvalho. Não tem editoriais escritos pelo Sr. Dr. Francisco Sousa Tavares. Não expõe o pensamento desse meteoro da nossa intelectualidade que é o Sr. Dr. Eduardo Prado Coelho. O mc é um ignorante. Esfole-se. Já.
O mc não é feito em Lisboa. Não tem como colaboradores os brilhantes críticos do nosso país. Não é subsidiado por qualquer grupo económico. Não é protegido por qualquer força política. Não tem publicidade na RTP nem em lado nenhum. Não organiza concursos com sorteios de automóveis. Não tem capas multicolores encomendadas e pagas por qualquer editora discográfica. O mc é independente. Rasgue-se. Limpe-se. Queime-se. Mate-se. Esfole-se. Já. Já. Já.
Vieira da Silva
Discoanálise
Ascenção E Queda
Petrus Castrus
A qualidade de uma canção popular está na qualidade simultânea dos diversos elementos que a constituem, tomados no seu conjunto.
É por isso que frequentemente só entendemos completamente os bons temas depois de os ouvirmos atentamente por diversas vezes.
É por isso que as cançonetas comerciais que apresentam um ou outro factor mais agradável (normalmente a melodia fácil encaixando frases sonoras, mas vazias) se impõem de um dia para o outro, tão depressa como caem no esquecimento.
Há no entanto autores de música popular que, não querendo mergulhar na mediocridade artística das vogas, parece não compreenderem que a música popular de qualidade só existe na qualidade de todas as suas componentes.
Este disco dos Petrus Castrus vem precisamente relembrar uma fase da música portuguesa que procurou encontrar um caminho na transposição para a nossa língua das experiências anglo-americanas, solução que parece se pretende reeditar após o surgimento da chamada nova escola inglesa (Genesis, Gentle Giant, Van Der Graaf, etc.).
Recordam-se de tantos grupos que, repetindo as sonoridades da pop, galegavam umas letras ridículas só para justificarem a existência de um vocalista?
Fora ideologias, «ASCENÇÃO E QUEDA» é um texto cabotino porque, sendo infantil, mostra-se incapaz de assumir a fantasia sã e a ingenuidade louca do mundo das crianças, recheado de grandes heróis que, na sua perspectiva, vão pôr ordem no mundo dos adultos.
Mas o cabotinismo literário de «ASCENÇÃO E QUEDA» completa-se nas tiradas apalhaçadas de certas vocalizações que reflectem uma total falta de relação letra-melodia. Esta é uma constante do álbum, estragando os bons pedaços de música que os Petrus Castrus compuseram para este disco.
Independentemente da mensagem impressa (com que podemos ou não concordar), o que falo é da forma artisticamente medíocre através da qual ela nos é transmitida.
Quanto à mensagem, ela é uma mensagem de derrota, pronunciada por adultos-velhos que, das crianças, penas vestem os calções de alças; uma mensagem-morta como tudo o que, despido de esperança, se vai esfumando no vazio do seu conteúdo.
Em conclusão: Deste disco dos Petrus Castrus apenas aproveito a sua qualidade de música que de nada valerá se não decidirem de uma vez se são um grupo de música portuguesa ou de música inglesa. E reparem que, para mim, a música portuguesa não se circunscreve exclusivamente às nossas tradições folclóricas.
«ASCENÇÃO E QUEDA»: um trabalho aceitável.
Octávio Silva
Entrevista Com
SHILA
«Foi a terra desta gente...»
I
Sheila Charlesworth - canadiana. Shila - portuguesa. Uma canadiana fixa-se em Portugal, aprende a língua, contacta com o povo, participa nas suas lutas, partilha dos seus anseios e aspirações, torna-se portuguesa «de coração e raça». Uma canadiana «levanta voo» aos primeiros sons de um folclore que passou a ser o seu e que muito intensamente a faz vibrar e o qual procurou assimilar no seu contributo para a renovação da música portuguesa de intervenção de raízes populares.
«Tudo isto aconteceu porque tenho a chula no meu corpo e o vira nos meus braços. Talvez seja esta uma das possíveis explicações mas é muito difícil dizer concretamente todos os porquês. Sei lá, eu gosto, por exemplo, da maneira como as pessoas aqui andam de guarda-chuva. São milhares de pormenores que me cativam: de repente aparece um baile na rua, mesmo quando está a chover, o que só é possível porque as pessoas sabem andar de guarda-chuva; as pessoas usam lenços de algodão e não daqueles que se deitam no caixote do lixo; a maneira como as pessoas estendem a roupa na ribeira, ou o modo como os miúdos se põem a mandar vir; enfim, todos esses pormenores do quotidiano, todos esses pequenos nadas...».
Mas não é só uma aproximação pela via de um quotidiano não padronizado como nas sociedades ditas de consumo que a seduz, porque em Portugal Shila pôde encontrar «aquilo tão maravilhosamente subversivo que nunca poderia encontrar» no seu país natal...
«Claro que, para além desses pequenos nadas, a minha fixação em Portugal se prende muito com razões fortemente políticas. Houve neste país uma abertura muito grande para os problemas sociais o que, tendo em conta o meu modo de ver as coisas, me faz sentir bem aqui».
«Foi a terra desta gente
Que me deu o maior presente...»
II
Sheila Charlesworth nasceu em Toronto, no Canadá, em 14 de Julho de 1949. Em 1969 iniciou a sua vida no mundo do espectáculo como bailarina e depois como actriz. Em 1970 fez parte, em Paris, do grupo de actores que levou à cena a versão francesa da comédia musical «Hair». Em 1971 integrou-se no Living Theatre e actuou no Brasil.
«A comédia musical «Hair» era uma peça que apanhava muito dos meus restos da adolescência, da América, da revolta e do protesto. Mas eu, na altura, estava muitíssimo pouco informada ou politicamente preparada. Na minha família e na minha terra não havia uma consciência mínima dessas coisas.
«Quanto ao Living, foi por acaso que lá fui parar. O Sérgio Godinho foi convidado e como eu o estava a acompanhar também fui. Era mais um país a estar representado. Foi através da quebra da actividade do Living que eu comecei a compreender alguma coisa a nível político. Quando estive presa, no Brasil, as coisas tornaram-se para mim extremamente claras, sobretudo ao nível das questões fundamentais: quem é o mandão? quem é o opressor? o que é que está certo? o que é que está errado?
«Por outro lado, pude falar com pessoas que sofreram de um modo atroz a repressão e fiquei a saber muito sobre coisas que reflectem a acção dura e repressiva de toda uma estrutura de sociedade. Tudo isso foi muito importante para a minha consciencialização...»
É evidente que, mais tarde ou mais cedo, se desenharia uma espécie de ruptura, com determinadas ambiguidades, para com todo um mercantilismo asfixiante instalado no mundo do espectáculo. Uma ruptura que, em parte, se esboçou com a experiência adquirida na «Hair» e melhor se definiu no Living.
«Eu vivia muito enterrada no mundo do espectáculo, como bailarina e actriz. Fiz toda uma série de coisas que acabaram por me levar, já em 1972, a não querer fazer mais nada relacionado com o espectáculo. Claro que era uma tomada de posição, uma escolha um tanto adequada às circunstâncias da altura, sobretudo derivada do facto de eu não gostar da ideia de estar a fazer tudo aquilo como quem vende um produto qualquer. Uma pessoa acaba por se aperceber de que sendo, por exemplo, uma actriz, não é mais do que um produto de venda chamado actriz. As pessoas vêm ver-nos, pagam o seu bilhete, assistem ao espectáculo e vão-se embora. E nada mais se passa. Se calhar isto até era uma atitude um tanto ingénua da minha parte mas era assim que eu pensava».
Em 1973 Shila participou numa longa-metragem canadiana, «Os Corpos Celestes» e, após o 25 de Abril, veio para Portugal, na companhia de Sérgio Godinho. O que foi muito importante para um regresso «muito diferente» à actividade artística.
«O facto de ter vindo para Portugal veio mostrar-me que aqui não há mais aquela quebra, aquela distância entre o público e os artistas. As pessoas vivem diariamente juntas, artistas e povo. E o povo também é espectáculo, o que muito me surpreendeu: em 1974, quando aqui cheguei, eu vi teatro na rua, manifestações, festas populares, etc. Eu não percebia bem os pormenores e a dimensão do que se estava a passar mas, perante tudo isso, avivaram-se algumas das minhas recordações do espectáculo, e acabei por ir de novo para os palcos».
«Foi a terra desta gente
Que me deu o maior presente
De abrir a minha voz...»
III
Em 1977, com a etiqueta Diapasão, foi lançado no nosso mercado discográfico o LP com o título DOCE DE SHILA, um disco que resultou de «um muito terem puxado por mim para que o fizesse». Este trabalho veio a conseguir impor-se mercê da sua qualidade e da delicadeza da inspiração dos temas nele incluídos.
«Fiquei contente com o resultado conseguido. Quando gravei DOCE DE SHILA fi-lo sobretudo graças à colaboração de muitos amigos. Este trabalho, que levei muito a sério, foi uma espécie de saída de um berço. Uma saída extremamente protegida pelas pessoas que muito me orientaram».
E assim se foi inscrevendo o nome de uma canadiana-portuguesa no panorama da nossa música popular de intervenção, um campo de acção cultural com problemas diversos mas que tem desempenhado um papel muito importante. Ou não será assim?
«Obviamente que sim. Nasceu por aqui muita música nova, surgiu um poder de criatividade enorme, apareceram bons músicos, excelentes executantes, novas composições, etc. Por outro lado, houve toda uma recolha intensa, desde o 25 de Abril, de música folclórica e de música popular. Pela minha parte, tento contribuir um pouco para todo esse desenvolvimento. É claro que não sou uma pessoa autónoma. Sou uma intérprete que teve e tem a sorte de estar à beira de pessoas incríveis, como o Sérgio Godinho, e não é, pois, por acaso que consigo cantar lindas cantigas».
Shila, que foi «apresentada» à canção portuguesa de intervenção por «um companheiro de alma e de luta que foi igualmente o companheiro do meu desenvolvimento político», tem consciência dos problemas mais graves com que se debate o canto de intervenção.
«Um dos problemas mais graves é, sem dúvida, a falta de condições de trabalho. Criaram-se muito maus hábitos, o que é normal. Com o 25 de Abril havia uma necessidade histórica que se converteu numa realidade histérica; fomos para todo o lado, acompanhamos tudo e todos. Houve muito voluntarismo. Agora, quatro anos depois, a situação modificou-se imenso. Por outro lado, há que ter em conta que nos habituamos um pouco a trabalhar demasiado à balda. No campo da música, onde há todo um conjunto de talentos absolutamente escandaloso, no bom sentido do termo, há pouquíssimas condições de trabalho. A maioria das pessoas do canto de intervenção não tem aparelhagem e não ganha o suficiente para se poder dedicar inteiramente à música. O facto de os artistas terem de ter um emprego e de fazer as contas para o fim do mês, atrasa bastante o desenvolvimento da música. E, ainda por cima, é bastante difícil pedir cachets, embora isso agora já vá sendo aceite. Mas aqui há um ano atrás as pessoas quase desmaiavam quando isso sucedia. Chegavam a chamar-me reaccionária e contra-revolucionária por pedir dinheiro mas, aos poucos, eu fui explicando às pessoas que quando vou fazer compras ao supermercado eles não me deixam pagar com uma canção.
O público deve compreender que as condições de trabalho passam pela criação de hábitos quanto ao pagamento de entradas para os espectáculos. Nós, pela nossa parte, temos a obrigação e o dever de apresentar um «produto» muito mais desenvolvido. No meu caso, um espectáculo de uma hora obriga-me a contratar dois músicos e isso custa dinheiro. Ora, se nós temos o dever de fazer espectáculos com qualidade, o público tem de compreender que precisa de nos apoiar para que isso seja possível. Porque, caso contrário, está-se a matar a música portuguesa».
Foi mais ou menos neste sentido que, em Novembro de 1978, Shila e Jorge Zagalo arrancaram com o projecto «Música Aberta».
«Estou contente com o projecto da Música Aberta porque conseguimos, apesar de tudo, levar para a frente um projecto suicida e impossível, sem qualquer apoio, inclusivamente do Governo. Após a primeira etapa, de quatro semanas, entregamos um pedido de subsídio à SEC, mas esta recusou-o invocando razões absolutamente estúpidas. Diziam que era um projecto de feição empresarial, que dava lucro. Claro que sabiam que isso não era verdade mas o que havia era uma má vontade para com iniciativas deste género. Apesar das dificuldades, nós continuamos e conseguimos realizar cerca de 20 espectáculos - recitais com boas condições, desde a sala, aparelhagem, publicidade, etc. - de grande qualidade e muito variados. É claro que «obrigamos» os artistas a prepararem um mínimo de 45 minutos de espectáculo, mas tudo isso deu muito trabalho e nos custou muito dinheiro.
Por outro lado, da parte da rádio e da televisão não houve qualquer apoio, o que é extremamente lamentável, porque os espectáculos da Música Aberta podiam muito bem ser ouvidos e vistos em todo o país. A rádio nada gravou e a televisão ofereceu-se para lá ir mas de borla. Ora acontece que eu não ia pôr a televisão a filmar artistas, sem pagar a artistas e à organização. Isso seria contrário aos interesses da música portuguesa porque afinal gastam-se montes de dinheiro na importação de certas coisas (que também têm a sua razão de serem passadas na televisão) e esquece-se, pura e simplesmente, a música portuguesa. O que não pode ser.»
E já que estávamos com a mão na massa, nestes tempos de ressurreição do nacional-cançonetismo pelas mãos medíocres e estropiadas do nacional-proencismo, acabou por se falar de uma tal «censura»...
«Isso da censura à música de intervenção, e não só, é tão claro como a clara de ovo. A gente sabe que este Portugal já não é, infelizmente, o grande país da liberdade. Agora acho que temos de encontrar maneiras para continuar a dizer as coisas que queremos dizer, com qualidade a todos os níveis e trabalhar no sentido de uma «abertura», porque o nosso «produto» é de uma profissionalização e de uma qualidade que ninguém de bom-senso pode negar. Não podem dizer que este ou aquele não deve ir à rádio ou à televisão com o argumento de que o seu trabalho nada vale, porque isso é mentira».
E uma das maneiras de furar o cerco, de lutar contra a mordaça dos novos censores, é precisamente a intensificação, bem organizada, do contacto directo com o povo, «o que tem sido muito importante para mim. Aliás, as experiências resultantes desse contacto sentem-se muito no meu álbum LENGA-LENGAS E SEGREDOS, um disco que tem muito mais de mim que o DOCE DE SHILA, porque tenho um ano de palco nas minhas costas, e isso reflecte.-se no meu trabalho».
Ah! Os discos! Por que não reflectir um pouco sobre a indústria e comércio discográficos em Portugal?
«Ah! Quem nos dera que, mais dia menos dia, isso ficasse um pouquinho mais nas nossas mãos. A estrutura das editoras é uma estrutura que não satisfaz a maioria dos cantores. É fundamental que lutemos nesse sentido, para que um dia possamos realmente ser os donos da nossa própria música. Porque há muita gente a mexer na música que não quer saber de qualidade e de conteúdo, e até da sobrevivência das pessoas que fazem essa música. E isso eu considero, acima de tudo, uma falta de respeito para com o público».
«Foi a terra desta gente
Que me deu o maior presente
De abrir a minha voz
os meus braços e a noz...»
IV
Em 1978, foi editado um single destinado às crianças, com os temas «O burro e o grão» e «Papagaio». A experiência de Shila, neste campo, tem antecedentes interessantes: participação num disco colectivo de Jorge Constantino Pereira, CANTIGAS DE IDA E VOLTA; trabalho no infantário da filha; e participação no programa A LOJA DO MESTRE ANDRÉ. Deste trabalho, disse-nos Shila:
«O trabalho para crianças e com crianças é fundamental. Eu gostava - e tento fazê-lo - de realizar um trabalho paralelo; no entanto, o trabalho infantil é muito mais difícil. Com as crianças não se brinca. Têm um olhar crítico muito agudo e uma capacidade de aceitação e de rejeição fabulosa. E é difícil arranjar composições deste tipo, para se poder prolongar este trabalho. Quanto a mim, por exemplo, eu canto as coisas que tenho, coisas populares e coisas que as próprias crianças me vão ensinando.
Para o Dia Mundial da Criança devo ter mais um single mas o que mais gostava de fazer, neste campo, era todo um espectáculo com pés e cabeça. Talvez um dia, se existir um mínimo de condições para o poder fazer...»
«Foi a terra desta gente
Que me deu o maior presente
De abrir a minha voz
os meus braços e a noz
que encaixa o maior abraço...»
V
De Shila, cantora-mulher-militante, incapaz de «assistir de braços cruzados ao desenvolver de uma contenda», uma presença feminina num campo onde a intervenção da mulher é bastante reduzida.
«Eu acho que há realmente falta de mulheres no campo da música. Eu não sei porque é que a mulher não está mais activa na música, é uma coisa que não consigo perceber. Deve preferir ficar a descansar. Eu sou mãe, sou uma espécie de mulher a dias, sou dona de casa e tenho tempo para a música. Parece-me que a mulher tem tendência para não se impor. É claro que houve, e ainda há, muita repressão à mulher, de modo que ainda vai demorar um pouco até que ela «saia de casa». Que eu saiba, aqui há uns 15 anos, em Portugal, a mulher não podia andar de calças, beijar na rua, fumar, etc. Acho que já se conseguiu alguma coisa mas muitas outras podem ser conseguidas e noutros campos bem mais importantes. O que é preciso é que se aproveitem as condições mínimas que existem e continuar a lutar».
«Foi a terra desta gente
Que me deu o maior presente
De abrir a minha voz
os meus braços e a noz
que encaixa o maior abraço
que quero dar. Shila»
VI
Em Shila, uma trajectória se define. Um projecto que se constrói num esforço de coerência e de militância, que vai ganhando forma. Um projecto de acção que é uma aposta honesta no futuro.
«Dantes eu contava três cantiguinhas com uma viola e pronto. Agora já há microfones, uma coisinha para misturar o som, dois músicos e um espectáculo de cerca de uma hora. É um passo banal, sem dúvida, mas é um princípio. E deste pequeno passo banal qualquer coisa mais elaborada e «gigante» pode surgir mais dia menos dia. Isto passa-se ou deve passar-se a todos os níveis da nossa acção. É uma questão de continuar em frente, com uma boa dose de alegria, muita vontade e espírito de sacrifício. Porque quando se acredita no futuro vale sempre a pena lutar para que algo mude, por muito pouco e pequeno que seja».
Entrevista conduzida e elaborada
por Mário Correia
nota: seguem-se as letras das canções do álbum Lenga-Lengas e Segredos (2 páginas)
Van Der Graaf
- Vital
Peter Hammill
- The Future Now
Peter Hammill forma a tríade necessária (poeta, compositor, músico) que nos foi sucessivamente habituando ao pouco de bom (razoável) que resta da desgastante (degradante) máquina comercial a que se deu o nome «ROCK», agora rivalizado (talvez empobrecido) com o «mito» da «New Wave».
Pawn Hearts - o expoente da dedicação, do trabalho exaustivo, o mérito por fim reconhecido dum esforço que se vinha tornando inglório e impenetrável. Depois os louros da vitória, e a abertura (agora possível) a novos caminhos, experiências (a maior parte delas longe de atingirem o belo e o profundo dum passado); a unidade orgânica do grupo fragmenta-se na procura duma nova sonoridade; a introdução dum novo elemento, Graham Smith, um veterano dos anos 60 dos «String Driven Thing»; um violino com a permanência de David Jackson no sax foi algo de bastante exótico e complexo que nos deixou atónitos já no álbum The Quiet Zone - The Pleasure Dome. A ausência de Hugh Banton, uma perda que consideramos preciosa.
Quanto ao poeta surge a definição, a intervenção directa, a tomada de posição sem rodeios - um passado interiorizado e interiorizante é posto em confronto com uma sociedade em transformação e a necessidade urgente de intervir (posição já sugerida em World Record).
«Vital» o primeiro álbum «ao vivo», depois de oito anos de trabalho em estúdio, gravado no MARQUEE CLUB em Londres, em Janeiro de 78. Não só a reposição de temas já conhecidos, ainda, uma boa metade de títulos originais. Temas como «Plague of Lighthouse Keepers» onde a voz de Hammill um pouco já cansada ainda reflecte, ao natural, a atmosfera de Pawn Hearts (de mencionar a extraordinária execução de técnica e sensibilidade que Guy Evans coloca neste fragmento), «Pioneers Over C», «Still Life», «Last Frame», «Killer», são outros tantos temas reproduzidos. As faixas originais como «Sci-Finance», «Door», «Urbane» são a expectativa (desilusão?), a busca da New Wave de novos esquemas (a que Peter Hammill já nos tinha levemente sugerido anteriormente) aparece-nos aqui como algo de indubitável que não nos deixa de criar uma certa estranheza e insegurança.
«The Future Now» - na generalidade, o álbum reflecte um estudo amadurecido num cuidado brotado na espontaneidade criativa duma voz cada vez mais segura e precisa. A recusa dum lugar na vanguarda: «Tenho trinta anos e hei-de atingir os sessenta, nada me impede, nunca hei-de parar» - palavras da abertura do álbum, da faixa «Pushing Thirty». Em «Second Hand», a dominação do homem pelo sistema (aqui um bom momento de David Jackson), a armadilha social, os negócios, a prisão, o jogo. «Trapping» - uma introdução em viola acústica com colagem vocal como reforço numa estrutura bastante sóbria. A interrogação do tempo que passa, a finalidade no mundo - The Mousetrap (Caught In)» -, a melodia romântica reconduzindo-nos ao piano em «Wilhelmina», do álbum «The Silent Corner and the Empty Stage». «Energy Vampires» - o fantasmagórico imaginário, um mau momento de Graham Smith. «If I Could» - a melhor melodia pela sua simplicidade, acompanhamento à viola acústica e rítmica; a leveza de Evans Graham Smith consegue aqui a harmonia total com o resto dos elementos; poeticamente uma interrogação à incompreensão dum amor - «se eu pudesse explicar...»
O segundo lado do álbum dá-nos uma dimensão mais pessimista do mundo, mais violento, menos cuidado e mais disperso. «Aqui estamos no século XX mas bem poderíamos estar na Idade Média, eu quero o futuro agoa» em «The Future Now», cuja temática se aproxima bastante de «In Camera». «Still In The Dark» - um ataque às instituições religiosas como total impotência perante o porquê. «Mediaevil» - coro eclesiástico introduzindo um poema com ironia e perspicácia: «a resposta para os nossos pregadores é um valium na cama». «A Motor - Bike In Afrika» - percussão electrónica (repressiva), vocalização declamada, o poema de maior intervenção: «os corpos de Biko e o Soweto pobre / a mensagem da reforma religiosa alemã, tortura racial e guerra racial na África de hoje / Vinda à Rodésia e à África do Sul ver». Seguem-se «The Cut» e «Polinurus (Castway)», aqui experiências reportando-nos ao Rock Alemão - «Há tantas coisas a mencionar / Que parecem deslizar no meu pensamento / Ainda juro que as minhas intenções / Nunca deixarão as minhas esperanças para trás».
Uma nota de desânimo para aqueles que estivessem interessados na aquisição destes álbuns em Portugal, pois não serão distribuídos, «como é lógico». Enquanto a cultura for obrigada, para se divulgar, a cair nas mãos de distribuidoras cujo funcionamento visa essencialmente o lucro, não teremos nem estes álbuns nem outros ainda com mais interesse, neste País.
Melo da Rocha
Lenga-Lengas E Segredos
Shila
Se é verdade, como já li, que o difícil não é fazer um bom primeiro disco, então não há dúvida que Shila, com este seu segundo álbum, acaba de se impor definitivamente na música popular portuguesa.
É certo que Shila se rodeia dos nossos melhores, mas LENGA-LENGAS E SEGREDOS é indubitavelmente um trabalho muito bom, em que ressalta a qualidade e o equilíbrio gerais das composições.
Chico Buarque, Sérgio Godinho, José Mário Branco, Júlio Pereira e João Loio - esse ilustre pouco-conhecido que certamente irá dar muito que falar - são nomes que à partida garantem qualidade, mas a escolha não se faz sem senso artístico e a boa interpretação não se realiza sem se viver realmente o que se canta.
E eis que, sem grandes alardes, quase sem se dar por isso, como acontecera com «DOCE DE SHILA», esta cantora canadiana apresenta mais uma vez um disco que será concerteza um dos melhores do ano.
Direi mesmo que Shila como que parece um barómetro da música portuguesa, já que a evolução que se regista desde o anterior trabalho é um pouco a evolução que sofreu a nossa música popular.
Um passo de maturidade é como classifico «LENGA-LENGAS E SEGREDOS»; um passo de maturidade é o que espero vir a encontrar nos próximos discos, já anunciados, de alguns dos nossos autores mais representativos.
«LENGA-LENGAS E SEGREDOS» reflecte um refinamento de gosto, de compor e de direcção musical que parece ser o salto prometido por álbuns como «LISBOÉMIA» e «PANO-CRU».
Não posso, no entanto, deixar de estranhar a tentativa de recuperação de um tema medíocre do passado e admiro-me que, no meio de uma escolha tão criteriosa, se aceite «Já passei a roupa a ferro» com toda a carga ideológica negativa que encerra e mais ainda o seu significado quando a rádio do fascismo a meteu a ferros na cabeça de todos nós. Fugir ao popularucho é defender a música popular.
De resto, parece-me não ser de destacar qualquer dos restantes temas porque a reflexão e vivacidade se vão sucedendo ao longo do disco, sempre com um gosto criterioso, envolvendo compositores, intérpretes e músicos que mostram saber muito bem o que pretendem.
Em conclusão: um conjunto de temas de boa nota, bem interpretados, de que resulta um álbum MUITO BOM, qualidade a que não é alheia a mão de Júlio Pereira que fez o trabalho de direcção musical.
Octávio Silva















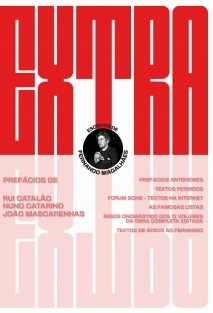


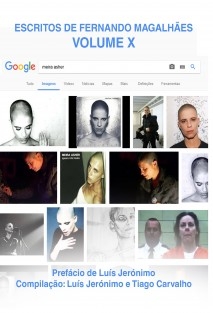


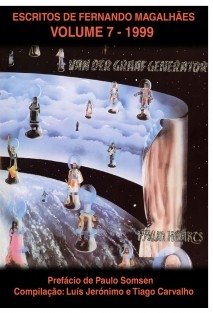







_Bubok.jpg)






















Sem comentários:
Enviar um comentário