mc
mundo da canção
Nº 62 - Ano XIII - Dezembro-82 - Esc. 40$00
Director Interino: Mário Correia
Delegado em Lisboa: Viriato Teles
Fotografia: Luís Paulo Moura
Publica-se todos os meses
Proprietária e Editora: Tipografia Aliança, Lda.
Colaboram neste número: Carlos Neves, Fernando Pedro Sobral, João C. Macedo, Jorge Lima Barreto, Mário Correia, Paulo Garção, Santiago Milheiro e Viriato Teles.
28 páginas A4 a p/b, papel normal, excepto a capa que é de papel brilhante um pouco mais pesado a preto/branco/vermelho.
Joy Division: Normal É A Morte
A música, na sua secular ingenuidade, só tem paralelo no amor. É como a paixão, e se quiséssemos usar uma única palavra para definirmos (isto é, limitarmos a sua elasticidade) tudo o que ela contém e transporta, só havia uma em todos os dicionários: prazer. Os seus heróis (credores de uma legitimidade apaixonada) não morrem perante os nossos sentidos, apenas desaparecem da nossa vista. E resistem.
O Rock perdeu já a inocência própria dos jovens movimentos apostados em vencer a inocuidade quotidiana através de um nihilismo desesperado e generoso. Tornou-se uma indústria onde as campanhas promocionais feitas com injecções de dólares, buscam os consumidores potenciais, através de discursos que já têm muito a ver com as modas e as cores de cada estação.
A música rock, após o esvaziamento do seu conteúdo social que sucedeu nos últimos anos, orientou-se mais e mais para um pop ambíguo, porque unicamente engraçado. Os grandes senhores ou desapareceram ou instalaram-se num pragmatismo musical sem, contudo, pretenderem recuperar um certo prestígio e (mesmo) liderança. Hoje, ouve-se (ainda) Velvet Underground, Doors, Tim Buckley, Leonard Cohen ou Bruce Springsteen. Mas já não é nada como dantes.
Nos últimos anos, face ao sedativo que as várias áreas por onde o rock se tem desmultiplicado se tornaram, que nomes houve que enfrentassem, como corrente de inteligência e sensibilidade, o panorama musical? Para além dos Talking Heads, dos Specials, dos U2 e dos Dexys Midnight Runners, que mais nos resta? No fundo aqueles que foram mais que todas as outras bandas: os JOY DIVISION.
Quando em 1977 na nebulosa Manchester os Warsaw tocaram pela primeira vez, a sua diferença face às inúmeras bandas que na altura (enfim, em pleno período pós-punk) emergiam das ruas, era apenas de dosagem. Os contornos, ainda forçosamente vagos, do seu som era, digamos, cru (desse período pré-histórico dos Joy Division, altura em que depõem o nome de Warsaw, ficam registados no vinil dois momentos bem mornos da banda: «At a later date», faixa de um LP gravado no encerramento do clube Electric Circus; e o EP «An Ideal for Living», ambos registados em 1977).
O ano de 1978 é, positivamente, o ano da Definição. Ian Curtis, Bernard Albrecht, Steve Morris e Peter Hooks realinham o seu som, a sua mensagem introvertida, procurando uma nova fronteira para o império do rock. O produtor Martin Hannett começa a partir daí uma frutuosa colaboração com os Joy Division que se desenha já de uma forma feliz em dois temas, «Digital» e «Glass», incluídos num duplo EP da editora discográfica Factory.
Mas é em 1979 que os Joy Division editam o seu primeiro trabalho de fôlego, «Unknown Pleasures». Ali, em temas fundamentais e fascinantes como «Disorder» e «Day of the Lords» ou mesmo «She's Lost Control», a banda constrói o novo som outonal de uma força ainda fechada sobre si própria. Sonha-se e pensa-se. Chora-se. Ainda nesse ano saem dois singles fabulosos, «Transmission» e «Atmosphere».
Em 2 de Maio de 1980 dão o seu último concerto, no High Hall da Universidade de Birmingham (concerto que seria depois reproduzido no álbum póstumo, «Still»). A 17 de Maio do mesmo ano, Ian Curtis, vocalista e principal autor da banda, vai ao cinema ver um filme de Werner Herzog, «Stroszek». Quando regressa a casa de seus pais, perto de Manchester, enforca-se. A paixão, finalmente, atravessava o sangue e fascinava a beleza, como se só a morte fosse a viabilização do sonho. A busca das fronteiras da morte, em que o novo cinema alemão tem sido fértil, parecia, assim, ser a causa decisiva da morte de uma banda que não representava, a priori, mais que ela própria. No fundo era uma longa estação férrea, solitária, último reduto de um mundo em transição para um outro, paralelo, e inacessível. No fundo era isto. Só isto. O isolamento soa melhor que a morte, mas nem por isso deixa de ser um passado inerte. A normalidade é a morte. Tudo está normalizado, normal.
Semanas depois sai o single «Love Will Tear Us Apart» e esse monumento impossível de sintetizar que é o álbum «Closer». Não é preciso dizer nada, tudo está dito, as palavras estão velhas, as formas também. «Decades» cume da montanha mais alta da música rock (que é «Closer») fala por si. Tema fulcral dos Joy Division, não é um ponto de chegada, mas uma margem suspensa, duma pureza sonora, em que é possível observar aquilo que o rock nunca havia sido nem nunca mais será: sentimento. «Decades» dilacera e sofre-se por isso. Não merece ser descrita, mas apenas ouvida.
Em 1981 sai o álbum póstumo «Still» que para além de incluir a gravação do último concerto dos Joy Division, inclui também temas difíceis de conseguir ou simplesmente nunca editados em disco. Quase simultaneamente sai o primeiro álbum da banda que agrupa os sobreviventes dos Joy Division: os New Order e um álbum puro, como é «Movement», sucessor simbólico de dois singles impossíveis de ultrapassar em termos de beleza: «Ceremony» e «Everything's Gone Green».
A paixão sempre foi a recusa do raciocínio e pensar em termos de paixão é difícil. E ainda mais se falarmos dos Joy Division e dos New Order. Não é uma questão de vanguarda, mas única e simplesmente de sentimento. Não é uma moda, mas sim um novo modo de encarar o som, como se se tratasse, apenas, de um espaço de (re)criação do rock. Os Joy Division marcaram o som que ainda hoje se confessa filho do rock, apenas como um estímulo, que nunca deixou de ser polémico, nervoso e irritado. Mas de uma doçura indescritível.
Os Joy Division retrataram melhor que ninguém, a solidão, esse fechar de olhos, esse pensar não ver, essa paradigmática angústia de todos os dias. Ultrapassaram a agradibilidade e superficialidade da generalidade das bandas. Nem merecem essa palavra fixa que é Banda. Foram-no á sua maneira, mas de uma forma incómoda, nómada, não inteiramente nítida, frustrada, ambígua (até o nome - Joy Division, a ala das prostitutas judias dos campos de concentração nazis, até o aspecto - de uma mocidade oculta, imberbe e utópica). Nunca pronunciaram palavras quentes, apenas pensavam no interior do pensamento, num espantoso movimento de evasão que só encontava decibéis libertadores como forma de ultrapassar a fraude das palavras e a saturação social.
Ao escutar toda a obra dos Joy Division e dos New Order, há sons que não é mais possível esquecer, de «Disorder» a «Ceremony», de «Transmission» a «Dreams Never End», de «Decades» a «Dead Souls», porque eles fazem parte de uma galeria bem pequena, onde apenas encontramos as «obras-primas» (nome lamentavelmente tão gasto por tudo e todos). O rock chora-se por vezes, ao relembrar aqueles que foram os seus heróis, cansados é certo, neste palco de palhaços e bobos. Os Joy Division serão essa já disforme garantia simbólica de um movimento musical (o rock) que depois disto, já não existe. O som dos Joy Division faz recordar imagens que não são neutras. Destrói-as e, ao mesmo tempo, dá-nos esse tempo e essa serenidade rebelde que nos vai dilacerando. Normalmente. Como a morte.
Fernando Pedro de Almeida Sobral
DiscoAnálise
Né Ladeiras - Alhur
DISCONOTAS. Edição maxi-EP da Valentim de Carvalho, de 1982. Músicos participantes: Carlos Trindade (piano, sintetizador e percussão); Pedro Magalhães (baixo e percussão); Paulo Gonçalves (guitarra, saxofone, acordeão e percussão); Ricardo Camacho (Sintetizador). Letras de Miguel Esteves Cardoso e músicas de Né Ladeiras. Produção de Ricardo Camacho. Lado A: «Húmus Verde»; Lado B: «Holeteta» e «Arthur». Referência: 11C/052-40594.
DISCOMENTÁRIO. É inacreditavelmente desinteressante a trajectória descendente de Né Ladeiras. Para quem acompanhou o seu trabalho desde os primórdios da Brigada Victor Jara, passando pela Banda do Casaco, até «Alhur», o mínimo que se pode sentir é uma desilusão crescente. Que se passa com uma das mais expressivas vozes femininas que possuimos? De cedência em cedência, de compromisso em compromisso, Ná Ladeiras tem vindo a assumir a sua p´ropria negação de uma forma que francamente nos surpreende.
De ALHUR o mínimo que a consciência nos obriga a dizer é que se trata de uma obra chata, monótona, repetitiva, desensabida, pobremente concebida, inspiradamente confrangedora, enfim, para esquecer. E, passemos, até a voz da Né chega a surgir insegura, incapaz de resistir aos cambiantes que lhe são exigidos (flagrante em «Essência»). Isto para não falar do exagerado e inestético privilégio do chicote sobre o fundo wagnero-fantasmagórico de teclados, dos clichés pseudo-vanguardistas, etc. Os delírios do franco-escrivinhador Cardoso já nós conhecíamos; agora os delírios de Né Ladeiras, quanto a esses é que, apesar das provas dadas através da Banda do Casaco, francamente estávamos longe de admitir. Porque «Alhur» é das coisas mais pretensiosas e falhadas que nos foi dado (infelizmente) ouvir nos últimos tempos, a recomendação só pode ser uma: esqueça-se rapidamente. Lamentável.
Mário Correia
Bateria Do Jazz (2)
Bateristas Do Jazz Moderno E Contemporâneo
Cosy Colevoltou-se para ancestrais polirítmias africanas o que iria influenciar decisivamente os boopers.
Interessante de anotar que os bateristas negros complexificam os estilos na evolução rítmica donde resulta uma melodia tipicamente bluesy e os bateristas brancos partem dos pressupostos melódicos e musicográficos para as evidências rítmicas - há, como é lógico, excepções: Joe Morello (branco) e Chico Hamilton (negro) incluem-se em metodologias analógicas como Connie Kay (negro) e Denzil Best (branco); e no Jazz contemporâneo a distinção tornou-se anacrónica.
Voltemo-nos então para o bebop (tipicamente negro):
Panassié e outros grandes musicólogos do passado consideram o Jazz como música de dança, música que estabelece uma relação cinética entre o som produzido e o corpo do auditor. Até aqui tudo certo como regra geral no respeitante a toda a música, e mais precisamente a músicas orais. E estes críticos de respeitabilidade inatacável (quando quero saber algo sobre Jazz clássico agarro-me a Panassié como a uma Bíblia) reagiram violentamente ao bebop porque, segundo eles já não era música de dança (dança seria o swing, o fluído rítmico/simétrico e de batimentos sincrónicos que apenas admitia o break como efeito pulsional da tensão/repouso). Ora este conceito de dança era paradoxalmente ocidentalizado e apoiava a hiper-integração do Jazz na sociedade americana - o período swing foi o mais próximo culturalmente da mass cult americana. Para estes pensadores do Jazz a dança consistiria no conceito ocidental de «par heterossexual» obedecendo a passos simétricos de sensualidade imputável pelo íntimo contacto corporal de dois corpos abraçados; isto para o público, enquanto que para os executantes se permitiria uma dança ritualizada de características tribais (ver que Linonel Hampton, Chick Webb, por exemplo eram espectaculares bailarinos). Ora precisamente, e em primeiro lugar, o bebop contesta esta acepção ocidentalalizada de dança: para os boppers a dança é colectiva, de gestos livres, contrária à promiscuidade familiarista do par heterossexual (em que o macho conduz a gestualidade da fêmea) e liberta a expressão sensual dos corpos, independentemente do sexo e da privatização dualista dos pares. Verificou-se ao nível de massas na cultura ocidental este facto uns 20 anos mais tarde, com o rock-and-roll branco e hoje em dia no ocidente a juventude deixou de dançar agarrada (excepções para a pequena burguesia de província e para a Europa oriental). Mas no bebop contestou-se o postulado ocidentalizante da dança.
Os quatro tempos em interconexão simétrica e equilibrada no swing passam no bop a serem dissimétricos, de acentuações surpreendentes, pontuações fortes e assincrónicas. O contrabaixo, já evidenciado, substitui na orquestra o batimento contínuo do bass drum, tornado no bop motivo figural de pontuações e acentuações rítmicas; enquanto que nos pratos se desenvolve um fluído de vibrações constantes - estamos assim a descrever o estilo baterístico de Kenny Clarke, pioneiro de percussão bop.
Escola do Jazz (anos 40).
Max Roach segue as inovações do Klook Clarke, mas precisa os movimentos, institui as dinâmicas, revoluciona as concepções melódicas - Roach é o Jo Jones do bebop, pela segurança, a limpidez, a racionalidade do seu estilo.
Max Roach abriu a bateria a todas as concepções modernas, o que Clarke conquistou Max consolidou irreversivelmente.
Na linha Klook-Roach espantosos solistas do Jazz moderno: Jimmy Cobb, Bob Durham, Charlie Persip, Alex Riel, Bert Dahlander, Christian Garros, Charles Bellonzi, e a grande série dos bateristas modernos.
Art Blackey é mais visceral e volta-se retrospectivamente para as percussões New Orleans combinadas com a rítmica norte e nordeste africanas.
Os efeitos pressing roll (rlamentos em crescendo) caracterizam o seu discurso bem como a multiplicidade de violentíssimos breaks. Podemos chamar de funky ao seu estilo, já que no desenvolvimento dos solos se tem por essencial a expressividade das concepções negras de música.
Blakey é o oposto doutro grande baterista do Jazz de quem já falámos: Shelly Manne. Este músico, um dos percussionistas mais eruditos da História do Jazz, é racionalista, sensitivamente técnico, melodicamente inultrapassável, subtil, premeditado, lógico mas também rigorosamente libidinal.
A enorme inteligência orquestral deste baterista fazem dele um dos mais solicitados músicos de todas as escolas do Jazz.
Para discípulos de Blackey citamos: Roy Brooks, Louis Hayes, Roy McCurdy, Billy Brooks, Lex Humphries, Michael Carvin e sobretudo Philly Joe Jones. Philly Joe Jones alia a souplesse de Max Roach à violência de Art Blackey e moderniza o estilo deste dentro de perspectivas estéticas mais complexas. Inaugura um estilo particularmente contemporâneo do Hard Bop que inspira músicos como Michey Rocker, o metamórfico Al Heath, Frank Gant, Vernell Fournier, Ben Riley, Arnold Wise, Charles Wright, Jimmy Hopps, Art Taylor, todos adeptos duma síncrese estrutural e do evolucionismo estético.
Danny Richmond está para Mingus como Sam Woodyard está para Ellington.
Richmond, polifacetado é pilar indispensável da aventura Mingusiana - expressionista, psicológico (no sentido duma plasticidade ideossincrática rara) É com Elvin Jones um dos revolucionários da bateria contemporânea.
Vejo muito próximos de Richmond: Dennis Charles e Pete La Roca.
De Shelly Manne orienta-se uma escola de bateristas de jogo íntimo, pensado, introvertido, que tanto se reconhece na West Coast como no Cool;
Denzil da Costa é personalidade proeminente deste estilo de percussão. O seu drum fillout, que remonta ao mítico Dave Tough, consiste numa discursividade dialéctica independente do rumo rítmico da orquestra, não privilegiando acentuações nítidas.
Colin Bailey, Frank Isola, Bill Reichenbach, Eddie Marshall, Joe Bolden, Stan Levey, Marty Morell, Gene Stone, Larry Bunker destacam-se entre os deuses. Connie Kay inclui-se na complexidade lírica do cool especial do Modern Jazz Quartet e é o baterista mais requintado do Jazz Negro.
Joe Morello e Chico Hamilton, por diferentes meios e convencinalismos, estudaram assombrosas polirítmias da percussão mundial e são admiráveis inventores de ritmos complexos, ambos adorados por largo espectro de público que prefere o exotismo.
Paul Motion, na linha de Connie Kay e Larry Bunker, assimila progressivas influências da escola Morello-Chico.
Todos os bateristas brancos e europeus ou asiáticos são animados pela categoria estilística destes bateristas Cool-west Coast.
Dois homens mudam o rumo da percussão do Jaz nos anos 60:
Elvin Jones e Anthony Williams:
Elvin é paroxístico, esquizo, potente, dissimétrico, assincrónico, de pujantes fluídos rítmicos, impressionante e dramático.
Williams é subtil, preciso, de labirínticas simetrias, equilibrado, lírico, desejoso da sincronia abstracta.
Elvin descambou no Free-Jazz, em Coltrane, no teatro off.
Williams tomou o gosto pela pop music, Miles, Jazz-Rock, psicadelismo.
Dois vultos maiores da História do Jazz que decidiram novas e diferenciadas estéticas. Estéticas por mim abordadas na primeira edição de Revolução do Jazz e em Grande Música Negra.
No Free-Jazz enquadramos os cósmicos admiradores de Elvin, sobressalatados e informalistas seguidores, psicopáticos, anárquicos, desterritorializados, individualistas, ferozes e agressivos doentes duma sociedade que marca o fim da psiquiatria, o Estado-Édipo: Allen Blairman, Lawrence Cook, Jerome Cooper, Dave Grant, Ronald Jackson, Clifford Jarvis, Arthur Jenkins, Roger Blanck, J. C. Moses, Mohamed Ali, Rashied Ali, Louis T. Moholo, Beaver Harris, Steve McCall, Noel McGhile, Aldo Romano, P. Braceful, P. Gaumont, P. Courtres, Bennink, Jacques Tholot, Claude Decloo e os mestres Sonny Murray ou Milford Gáves, e tantas sínteses de explosiva memória.
Uma outra estirpe, perservando no evolucionismo formal, de tão apaixonantes estilos: o enebriante Roy Haynes (baterista metarítmico), o audacioso Andrew Cyrille (dos ritmos genitais), Art Lewis, Clarence Beckton, Charles Moffet (o fantasmático Omestt), Ed Blackwell (génio da bateria contemporânea) Alan Dawson (músico-teórico inolvidável), Mike Clark, John Terry, John Tira basso, Freddie Watts, David Lee, os melodicistas Billy Elgart, Joe Hunt, Billy Hart; o incorporal Billy Higgins (devotado inovador), o aliciante Oliver Johnson e os europeus Daniel Humair (ao nível dum Shelly Manne de vanguarda) Stu Martin, Jon Christensen (magnífico!), Peter Giger, Klaus Weiss, Andrea Centazzo, Franco Tonani, Charlie Antolini ou o japonês Motohiko Hino...
Para culminar sempre em Ed Blackwell (poliritmias universais), Roy Haynes (a arqueologia triunfal), Billy Higgins (o equilíbrio estético), a vanguarda em Barry Altchull e Pierre Favre.
No Jazz-Rock, vindo de Williams: o topo desta arte em Jack de Johnette.
Os super vedetas Billy Cobhan e Alphonse Mouzon ou Lenny White.
Outros montros sagrados que viram os seus estilos aureolados pelo capital e pela inteligência: Norman Connors, Bob Moses, Leon Chandler, Eric gravatt, Bernard Purdie, Jeff Williams, Joe Chambers (também evolucionista da qualidade de um Billy Higgins), Edward Vesala (mais erudito que pop), Tony Oxley (dum nível dum Tumain mas voltado para o sproblemas da electro-acústica).
Todos estes músicos são estudados mais atentamente em Revolução do Jazz e no capítulo dedicado ao Jazz de hoje.
E agora cada baterista pode procurar rumos imprevisíveis porque a bateria se esgotou com instrumento-forma, e as percussões se abriram às mais poliscópicas experiências.
O fim do Jazz é também o fim da bateria, como talvez nos alvores da sua aurora se destacassem as luminosidades libertinas deste instrumento; nenhum instrumento como a bateria foi tão fiel ao Jazz.
Jorge Lima Barreto
Biblioteca Musical
. PINK FLOYD - Jean-Marie Leduc - Edições Centelha
. Rock & Droga - Jorge Lima Barreto
O processo crítico-informativo de Jorge Lima Barreto assumiu sempre aspectos muito particulares e tipificados. Homem do e para o Jazz, experiência que no papel se consubstanciou numa boa dúzia de livros e profusa colaboração dispersa por numerosos jornais e revistas (entre as quais o MC), não deixa, contudo, de por vezes surgir a reflectir sobre o fenómeno «rock» e tudo o que o rodeia.
Assim sucede com este polémico «Rock & Droga», sobre o qual nos debruçaremos mais detalhadamente, no próximo número. De qualquer modo e para já a recomendação aqui fica: uma obra difícil de digerir mas que constitui inegável trabalho de interesse invulgarmente controverso.
Alguns artigos interessantes, para futura transcrição:
. Entrevista - UHF: Passeando pela vida entre o nascimento e a morte, por Mário Correia (4 páginas)
. Entrevista - José Mário Branco, por Mário Correia (3 páginas)
. Entrevista / Reportagem - Léo Ferré em Lisboa: "as palavaras são sempre importantes", por Viriato Teles (2 páginas)












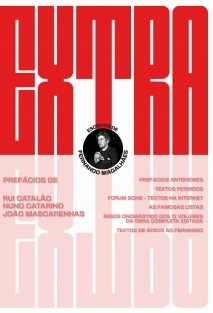


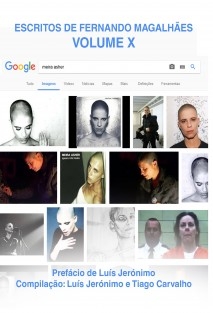


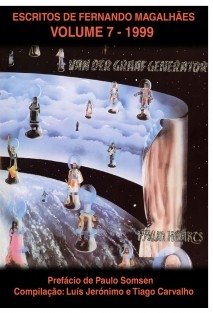







_Bubok.jpg)






















Sem comentários:
Enviar um comentário